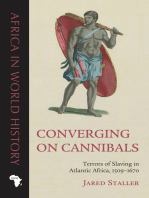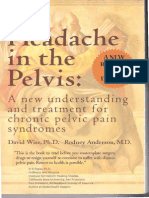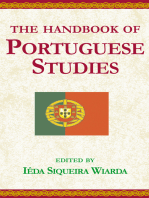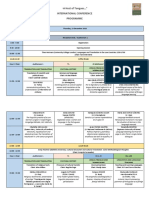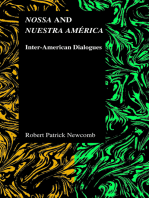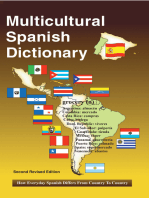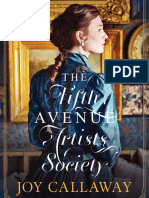Professional Documents
Culture Documents
A Funcì Aìo Esteìtica e Social Do Espacì o Nas Literaturas Cabo-Verdiana e Nordestina Brasileira
A Funcì Aìo Esteìtica e Social Do Espacì o Nas Literaturas Cabo-Verdiana e Nordestina Brasileira
Uploaded by
Gabriela Kitagawa PacciCopyright:
Available Formats
You might also like
- A Simplified Guide To BHS Critical Apparatus Masora Accents Unusual Letters Other Markings 3rd EdDocument96 pagesA Simplified Guide To BHS Critical Apparatus Masora Accents Unusual Letters Other Markings 3rd EdPiet Janse van Rensburg83% (6)
- ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. A Feira Dos MitosDocument249 pagesALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. A Feira Dos MitosERIC DE SALESNo ratings yet
- Converging on Cannibals: Terrors of Slaving in Atlantic Africa, 1509–1670From EverandConverging on Cannibals: Terrors of Slaving in Atlantic Africa, 1509–1670No ratings yet
- (Cultural Studies of The Americas 16) Lúcia Sá-Rain Forest Literatures - Amazonian Texts and Latin American Culture (Cultural Studies of The Americas) - U of Minnesota Press (2004)Document356 pages(Cultural Studies of The Americas 16) Lúcia Sá-Rain Forest Literatures - Amazonian Texts and Latin American Culture (Cultural Studies of The Americas) - U of Minnesota Press (2004)rsebrian100% (1)
- Talk Dirty Spanish: Beyond Mierda: The curses, slang, and street lingo you need to Know when you speak espanolFrom EverandTalk Dirty Spanish: Beyond Mierda: The curses, slang, and street lingo you need to Know when you speak espanolNo ratings yet
- Tuttle Concise Tagalog Dictionary: Tagalog-English English-TagalogFrom EverandTuttle Concise Tagalog Dictionary: Tagalog-English English-TagalogNo ratings yet
- Atlantic Africa and the Spanish Caribbean, 1570-1640From EverandAtlantic Africa and the Spanish Caribbean, 1570-1640Rating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- Week 1 10 Humss 123Document97 pagesWeek 1 10 Humss 123DryZla65% (40)
- HoT Book of AbstractsDocument119 pagesHoT Book of AbstractsMarco NevesNo ratings yet
- Variedades Lingüísticas Y Lenguas En Contacto En El Mundo De Habla HispanaFrom EverandVariedades Lingüísticas Y Lenguas En Contacto En El Mundo De Habla HispanaNo ratings yet
- Slavery, Freedom, and Abolition in Latin America and the Atlantic WorldFrom EverandSlavery, Freedom, and Abolition in Latin America and the Atlantic WorldNo ratings yet
- IPL Copyright Case Digest Baker Vs SeldenDocument1 pageIPL Copyright Case Digest Baker Vs SeldenjuliNo ratings yet
- A Headeache in The PelvisDocument236 pagesA Headeache in The Pelviscipx2No ratings yet
- The Cape Verdean Creole of São VicenteDocument302 pagesThe Cape Verdean Creole of São VicenteSamuel EkpoNo ratings yet
- 95684987-Book PaidDocument332 pages95684987-Book Paid汪嘉楠No ratings yet
- Spanish Module 1 - Unit 1Document2 pagesSpanish Module 1 - Unit 1jubilleeNo ratings yet
- UtopiasDocument214 pagesUtopiasCatalin Airinei100% (1)
- What Do Aruba, Bonaire and Curaçao Have in Common With Malacca?Document6 pagesWhat Do Aruba, Bonaire and Curaçao Have in Common With Malacca?Marco SchaumlöffelNo ratings yet
- Barnes LenguapalandspanwhatkeepsthemapartDocument64 pagesBarnes Lenguapalandspanwhatkeepsthemapartapi-316442921No ratings yet
- Graciliano Ramos and the Making of Modern Brazil: Memory, Politics and IdentitiesFrom EverandGraciliano Ramos and the Making of Modern Brazil: Memory, Politics and IdentitiesRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Francismar Alex Lopes de Carvalho - Natives, Iberians, and Imperial Loyalties in The South American Borderlands, 1750-1800-Palgrave Macmillan (2022)Document326 pagesFrancismar Alex Lopes de Carvalho - Natives, Iberians, and Imperial Loyalties in The South American Borderlands, 1750-1800-Palgrave Macmillan (2022)helenonightmareNo ratings yet
- A Formacao Das Literaturas NacDocument390 pagesA Formacao Das Literaturas NacTonia McDaniel WindNo ratings yet
- Colonial and Post-Colonial Goan Literature in Portuguese: Woven PalmsFrom EverandColonial and Post-Colonial Goan Literature in Portuguese: Woven PalmsPaul Michael Melo e CastroNo ratings yet
- Lee 2005Document272 pagesLee 2005jaquelinestmNo ratings yet
- Adrift on an Inland Sea: Misinformation and the Limits of Empire in the Brazilian BacklandsFrom EverandAdrift on an Inland Sea: Misinformation and the Limits of Empire in the Brazilian BacklandsNo ratings yet
- Host of Tongues... Final ProgrammeDocument7 pagesHost of Tongues... Final ProgrammeMarco NevesNo ratings yet
- Pastoral Quechua: The History of Christian Translation in Colonial Peru, 1550-1654From EverandPastoral Quechua: The History of Christian Translation in Colonial Peru, 1550-1654Rating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Chariots of Ladies: Francesc Eiximenis and the Court Culture of Medieval and Early Modern IberiaFrom EverandChariots of Ladies: Francesc Eiximenis and the Court Culture of Medieval and Early Modern IberiaNo ratings yet
- 18th Colloquium Final ProgramDocument28 pages18th Colloquium Final ProgramColoquio UTNo ratings yet
- Mieder, Wolfgang - International Proverb Scholarship. An Updated BibliographyDocument62 pagesMieder, Wolfgang - International Proverb Scholarship. An Updated Bibliography汪嘉楠No ratings yet
- Tracce Esami Stato 2015 Turistico CDocument3 pagesTracce Esami Stato 2015 Turistico CFranca BorelliniNo ratings yet
- 2 English Activity TwoDocument3 pages2 English Activity TwoMeeli mldonadoNo ratings yet
- FirstsumbissionrpDocument6 pagesFirstsumbissionrpapi-508193563No ratings yet
- CV Daniel Herrera-CeperoDocument5 pagesCV Daniel Herrera-Ceperoapi-165454674No ratings yet
- A Comparative History of Literatures in The Iberian Peninsula - Fernando AseguinolazaDocument766 pagesA Comparative History of Literatures in The Iberian Peninsula - Fernando AseguinolazaInes MarquesNo ratings yet
- Intertidal History in Island Southeast Asia: Submerged Genealogy and the Legacy of Coastal CaptureFrom EverandIntertidal History in Island Southeast Asia: Submerged Genealogy and the Legacy of Coastal CaptureRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Teaching Learning Portuguese Through Folk Tales PowepointDocument17 pagesTeaching Learning Portuguese Through Folk Tales Powepointanaisabelcmendes100% (1)
- CV Agbemade August 2018Document8 pagesCV Agbemade August 2018api-427746871No ratings yet
- 78907-Texto Do Artigo-286436-1-10-20201221Document4 pages78907-Texto Do Artigo-286436-1-10-20201221Claudiana Gois dos SantosNo ratings yet
- From Temporary Migrants to Permanent Attractions: Tourism, Cultural Heritage, and Afro-Antillean Identities in PanamaFrom EverandFrom Temporary Migrants to Permanent Attractions: Tourism, Cultural Heritage, and Afro-Antillean Identities in PanamaNo ratings yet
- Programa Evento LiterarioDocument24 pagesPrograma Evento LiterarioHenry RivasNo ratings yet
- Paroimia: Brusantino, Florio, Sarnelli, and Italian Proverbs From the Sixteenth and Seventeenth CenturiesFrom EverandParoimia: Brusantino, Florio, Sarnelli, and Italian Proverbs From the Sixteenth and Seventeenth CenturiesNo ratings yet
- Partidas, Viajantes Encontros e DesencontrosDocument191 pagesPartidas, Viajantes Encontros e DesencontrosDanieleCohenNo ratings yet
- Summer/Fall 20005Document32 pagesSummer/Fall 20005longly5819100% (2)
- Forms of Relation: Composing Kinship in Colonial Spanish AmericaFrom EverandForms of Relation: Composing Kinship in Colonial Spanish AmericaNo ratings yet
- Edge of Empire: Atlantic Networks and Revolution in Bourbon Río de la PlataFrom EverandEdge of Empire: Atlantic Networks and Revolution in Bourbon Río de la PlataNo ratings yet
- Gandolfi 2013 - Objetos Itinerantes. Prácticas de Escritura, Percepción y Cultura MaterialDocument335 pagesGandolfi 2013 - Objetos Itinerantes. Prácticas de Escritura, Percepción y Cultura MaterialHéctor Cardona Machado100% (1)
- Tuttle Pocket Tagalog Dictionary: Tagalog-English / English-TagalogFrom EverandTuttle Pocket Tagalog Dictionary: Tagalog-English / English-TagalogRating: 1 out of 5 stars1/5 (1)
- In Service of Two Masters: The Missionaries of Ocopa, Indigenous Resistance, and Spanish Governance in Bourbon PeruFrom EverandIn Service of Two Masters: The Missionaries of Ocopa, Indigenous Resistance, and Spanish Governance in Bourbon PeruNo ratings yet
- The Ripple Effect: Gender and Race in Brazilian Culture and LiteratureFrom EverandThe Ripple Effect: Gender and Race in Brazilian Culture and LiteratureNo ratings yet
- Multicultural Spanish Dictionary: How everyday Spanish Differs from Country to CountryFrom EverandMulticultural Spanish Dictionary: How everyday Spanish Differs from Country to CountryNo ratings yet
- 29 - 2 - PR Studies Portugueses 2021Document184 pages29 - 2 - PR Studies Portugueses 2021MAGNO SANTOSNo ratings yet
- History of Spanish PDFDocument446 pagesHistory of Spanish PDFSandra Savanovic100% (2)
- Modern Day SlaveryDocument212 pagesModern Day Slaveryreferee198032No ratings yet
- Quechua-Spanish-English Dictionary: A Hippocrene Trilingual ReferenceFrom EverandQuechua-Spanish-English Dictionary: A Hippocrene Trilingual ReferenceRating: 4 out of 5 stars4/5 (1)
- Inhabiting Memory in Canadian Literature / Habiter la mémoire dans la littérature canadienneFrom EverandInhabiting Memory in Canadian Literature / Habiter la mémoire dans la littérature canadienneNo ratings yet
- The Pinkster King and the King of Kongo: The Forgotten History of America's Dutch-Owned SlavesFrom EverandThe Pinkster King and the King of Kongo: The Forgotten History of America's Dutch-Owned SlavesNo ratings yet
- Pessoa Unknown To PazDocument8 pagesPessoa Unknown To PazelladooscuroNo ratings yet
- Black Music As A Pedagogical Resource In English TeachingFrom EverandBlack Music As A Pedagogical Resource In English TeachingNo ratings yet
- Paul A. Rahe - Montesquieu and the logic of liberty _ war, religion, commerce, climate, terrain, technology, uneasiness of mind, the spirit of political vigilance, and the foundations of the modern re.pdfDocument396 pagesPaul A. Rahe - Montesquieu and the logic of liberty _ war, religion, commerce, climate, terrain, technology, uneasiness of mind, the spirit of political vigilance, and the foundations of the modern re.pdfJesús MoraNo ratings yet
- Irregular Verbs Organized According To PatternsDocument4 pagesIrregular Verbs Organized According To PatternsVeronica Barbu100% (1)
- The Fifth Avenue Artists Society by Joy Callaway (Extract)Document30 pagesThe Fifth Avenue Artists Society by Joy Callaway (Extract)Allen & UnwinNo ratings yet
- Condition Restraining AlienationDocument6 pagesCondition Restraining AlienationabhishekNo ratings yet
- The Wizard of Oz EssayDocument3 pagesThe Wizard of Oz Essayapi-305331060No ratings yet
- No Wider Land by Roy Bulcock - CaloundraDocument6 pagesNo Wider Land by Roy Bulcock - Caloundralaukune0% (1)
- Concept of God in The Old TestamentDocument5 pagesConcept of God in The Old TestamentTI Journals Publishing50% (2)
- Course Outline. Contemporary, Popular & Emerging Lit. LatestDocument3 pagesCourse Outline. Contemporary, Popular & Emerging Lit. Latestnev_benitoNo ratings yet
- Matsya PuranaDocument3 pagesMatsya Puranaef34t3gNo ratings yet
- Errors of The Charismatic Movement.Document12 pagesErrors of The Charismatic Movement.AndrewNo ratings yet
- Don't Forget These StepsDocument2 pagesDon't Forget These StepsrachitbechemNo ratings yet
- OBST515 OT Survey LaSor SummaryDocument11 pagesOBST515 OT Survey LaSor SummaryJAMESNo ratings yet
- Cyclic Issue 13 14Document80 pagesCyclic Issue 13 14VerdeamorNo ratings yet
- Spider Lesson PlanDocument2 pagesSpider Lesson Planapi-250399528No ratings yet
- The Seed in Genesis 3 - 15 - An Exegetical and Intertextual Study PDFDocument557 pagesThe Seed in Genesis 3 - 15 - An Exegetical and Intertextual Study PDFAlexiNo ratings yet
- Listen To This: Miles Davis and Bitches Brew by Victor Svorinich (Review)Document5 pagesListen To This: Miles Davis and Bitches Brew by Victor Svorinich (Review)FerNo ratings yet
- Cyrilic LettersDocument9 pagesCyrilic LettersLenny LeonardoNo ratings yet
- The Scarlet LetterDocument348 pagesThe Scarlet LetterPreetha KannanNo ratings yet
- Sufism in Central Asia New Perspectives On Sufi Traditions, 15th-21st Centuries PDFDocument359 pagesSufism in Central Asia New Perspectives On Sufi Traditions, 15th-21st Centuries PDFMahomad Abenjúcef100% (3)
- Buccholz Book Summary - Goddess of YesterdayDocument3 pagesBuccholz Book Summary - Goddess of YesterdayyuyuhuNo ratings yet
- H.G.Wells - The Time Machine (Miolo)Document222 pagesH.G.Wells - The Time Machine (Miolo)Zander Catta PretaNo ratings yet
- Apostolic FathersDocument5 pagesApostolic FathersJason Tiongco100% (1)
- Synthesis Essay Coming To Grips With GenesisDocument11 pagesSynthesis Essay Coming To Grips With Genesisapi-259381516No ratings yet
- The Little Prince DissertationDocument8 pagesThe Little Prince DissertationCustomWritingPapersCanada100% (1)
- CAE WritingDocument2 pagesCAE Writingtmc62No ratings yet
- Fabulous Baker BoysDocument3 pagesFabulous Baker BoysLeigh BlackmoreNo ratings yet
A Funcì Aìo Esteìtica e Social Do Espacì o Nas Literaturas Cabo-Verdiana e Nordestina Brasileira
A Funcì Aìo Esteìtica e Social Do Espacì o Nas Literaturas Cabo-Verdiana e Nordestina Brasileira
Uploaded by
Gabriela Kitagawa PacciOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
A Funcì Aìo Esteìtica e Social Do Espacì o Nas Literaturas Cabo-Verdiana e Nordestina Brasileira
A Funcì Aìo Esteìtica e Social Do Espacì o Nas Literaturas Cabo-Verdiana e Nordestina Brasileira
Uploaded by
Gabriela Kitagawa PacciCopyright:
Available Formats
The Cen te r f o r P o rt ugue se St u d i e s at the University of
California, Santa Barbara was founded with an endowment from the
Calouste Gulbenkian Foundation for the purpose of promoting and
developing Portuguese Studies in California and in the United States
of America.
The Center provides support for teaching and degree programs and
promotes the study of the literatures, language and cultures of the
Portuguese‑speaking world. Services and activities include awarding
student scholarships and stipends; promoting Portuguese language
classes; hosting colloquia; maintaining the Center library; and sponso‑
ring publications.
The Center, its students and its activities have been sponsored by finan‑
cial support from the Calouste Gulbenkian Foundation, the Instituto
Camões, the Fundação Luso‑Americana para o Desenvolvimento, the
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, the Comissão Nacional para a
Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, the Fundação Oriente,
the União Portuguesa do Estado da Califórnia, and the Luso‑American
Education Foundation.
If you wish to receive more information about the Summer Course and the
Portuguese Programs at UCSB, please call (805) 893‑4405 or 893‑3161. Address
your correspondence to the Director of the Center for Portuguese Studies, University
of California, Santa Barbara, CA 93106‑4150. Or counsult our web page on the
Internet: http://www.portcenter.ucsb.edu.
spbsX_P1.indb 1 09/12/30 18:20:10
Santa Barbara Portuguese Studies Volume X: 2009
ISSN 1077‑5943
Copyright © 2009 by the Center for Portuguese Studies,
University of California at Santa Barbara.
All rights reserved.
Editor
João Camilo dos Santos
Associate Editor
Harvey L. Sharrer
Editorial Board
Francis A. Dutra Eduardo Paiva Raposo Elide Valarini Oliver
Advisory Board
Vitor Manuel de Aguiar e Silva Kenneth McPherson
Onesimo Teotonio Almeida George Monteiro
Arthur L‑F. Askins Marta Peixoto
Abel Barros Baptista Aníbal Pinto de Castro
Georges Boisvert † Isabel Pires de Lima
Ivo Castro Roderich Ptak
Inês Duarte Anne‑Marie Quint
Joaquim‑Francisco Coelho Luiz Francisco Rebelo
Antonio Costa Pinto Carlos Reis
Francisco Cota Fagundes Silvina Rodrigues Lopes
Perfecto C. Fernandez Affonso Romano de Sant’Anna
Hélder Godinho Arnaldo Saraiva
Russel Hamilton Antonio Carlos Secchin
Randal Johnson Joel Serrão †
Eugénio Lisboa Candace Slater
Helder Macedo Douglas Wheeler
Wilson Martins Frederick G. Williams
Assistant Editors
Marcelo Moreschi, Ellen Oliveira, Ricardo Vasconcelos
Assistant Editor for Volume X
Ricardo Vasconcelos
Editorial Correspondence
João Camilo dos Santos, Santa Barbara Portuguese Studies
Center for Portuguese Studies, University of California at Santa Barbara,
Santa Barbara CA 93106‑4150 / FAX: 805‑893‑8341
Email: jcamilo@spanport.ucsb.edu
Ordering: Individuals $25.00 Institutions $40.00
Shipping costs (approximately one to three items):
Surface Mail: $3 (United States); $8 (Foreign);
Airmail: $8 (United States); $12 (Foreign).
Address your orders to Santa Barbara Portuguese Studies, Center for Portuguese Studies, University
of California at Santa Barbara, Santa Barbara CA 93106‑4150. Checks should be made payable to
the Center for Portuguese Studies. Further information about the journal and the publications of the
Center may be obtained by contacting the Center for Portuguese Studies or connecting to our web page:
http://www.portcenter.ucsb.edu
Composed in Sabon (a Jan Tschichold font) by Efeito Avestruz, Entroncamento, Portugal.
Book production by Sasha “Birdie” Newborn at Bandanna Books.
Cover art: José Laranjo, London, UK.
spbsX_P1.indb 2 09/12/30 18:20:10
San ta Ba rbar a P ort ugue s e St udie s
Volume X: 2009
Published on an annual basis by the Center for Portuguese Studies
at the University of California, Santa Barbara.
1. As literaturas de língua portuguesa:
âmbito geral/panorâmico
Pires Laranjeira, Múltiplas tradições e variedades: alguns escritores
e textos das literaturas de Angola, Moçambique, Cabo Verde,
São Tomé e Príncipe e Guiné‑Bissau (1975‑2009) 7
Inocência Mata, Literaturas africanas em Portugal:
na senda de um imaginário migrante? 25
Laura Cavalcante Padilha, No jogo do passado 39
Benjamin Abdala Junior, Notas históricas: solidariedade e relações
comunitárias nas literaturas dos países africanos de língua portuguesa 45
Rebeca Hernández, As literaturas africanas de língua portuguesa:
contexto de criação e contexto de tradução 61
Lola Geraldes Xavier, A ironia:
propostas para as literaturas de língua portuguesa 65
11. As literaturas de língua portuguesa:
perspectivas comparatistas
Elisalva Madruga Dantas, Ressonâncias da literatura brasileira
nas literaturas africanas de língua portuguesa 75
Bárbara dos Santos, Voz autoral e reescrita da história:
as guerras de independências (1961‑1974)
nas literaturas angolana, moçambicana e portuguesa 83
Vima Lia Martin, A ficção como gesto solidário 89
Carlos da Silva, A função estética e social
do espaço nas literaturas cabo‑verdiana e nordestina brasileira 93
spbsX_P1.indb 3 09/12/30 18:20:11
111. As literaturas africanas de língua portuguesa:
especificidades
Angola
Solange Luis, Agostinho Neto’s Sacred Hope:
protest and revolt – the makings of a national culture 105
Xosé Lois García, La luz y las hogueras en la poesía de Agostinho Neto 111
António Manuel Ferreira, O diferente gostar de João Vêncio 121
Ana Lúcia Sá, Espaços insulares na literatura angolana:
Rioseco, de Manuel Rui 127
Francisco Salinas Portugal, The Detective Novel Reversed.
Crimes, accusations and investigations; the other Pepetela 135
Manuel Muanza, Lueji ou o simbolismo da máscara “mukishi” em Pepetela 143
Wanilda Lima Vidal de Lacerda, O olhar de Pepetela sobre Angola 153
Cabo Verde
Rui Guilherme Gabriel, Mar Caribe no Atlântico.
Poéticas da crioulização em Cabo Verde 163
Maria Teresa Salgado, Noites nada mornas de Dina Salústio:
a oportunidade do diálogo 169
José Luis Hopffer C. Almada, José Luís Tavares:
um percurso fecundo e luminoso na novíssima poesia caboverdiana 177
José Luís Tavares, Infância(s) revisitada(s) 191
Guiné
Moema Parente Augel, A vigilante poética de Tony Tcheka 199
Moçambique
Carmen Lucia Tindó Ribeiro Secco, Eduardo White:
uma viagem metapoética 207
Maria Nazareth Soares Fonseca, Imagens de nação
em romances de Mia Couto 215
spbsX_P1.indb 4 09/12/30 18:20:11
Notice to Contributors
The Editors invite articles concerning any aspect of Portuguese Studies; also, books
may be submitted (two copies please) for a book review section. Original articles
and reviews should be formatted in Microsoft Word (.doc) and sent to the Editor
of the journal: jcamilo@spanport.ucsb.edu. The journal does not pay contribu‑
tors; each author will receive two copies of the issue in which his or her article
appears.
The following norms are to be strictly observed: Manuscripts should be presented on 8½
by 11½ inch (or A4) paper. Leave one inche (or approx. 3 cm.) margins at the top, bottom,
and left sides, and a two‑inch margin on the right side of the text. Number all pages con‑
secutively in the upper right‑hand corner, together with author’s last name. The text must be
double‑spaced throughout, including all quotations and notes. The author’s name is to be
placed on the first page below the title of the article. Words to be italicized should be under‑
lined. Underline the titles of books, plays, periodicals (magazines, journals, newspapers). Use
quotations marks for the titles of articles or essays, chapters of books, short stories, poems.
Notes are to be numbered consecutively throughout the article, and should appear at the end
of the manuscript, beginning on a new page. Bibliographical references should be presented
in accordance with the following examples:
1. Celso Cunha and Luís F. Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo,
2nd ed., Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1985.
2. Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, vol. 12, Lisboa: Verbo, 1990, pp.
190‑91.
3. Fernando Pessoa, The Book of Disquiet, trans. Alfred MacAdam, New York: Pantheon
Books, 1991.
4. François Castex, “Gentil Amor, un inédit de Mário de Sá‑Carneiro,” Revista da Biblioteca
Nacional. 2nd ser., 8 (1993), pp. 31‑45.
5. Eduardo Lourenço, “Os dois Cesários,” in Estudos Portugueses: Homenagem a Luciana
Stegagno Picchio, Lisboa: DIFEL, 1991, pp. 969‑86.
6. Helder Macedo, Introdução, Menina e Moça ou Saudades, by Bernardim Ribeiro, Lisboa:
Publicações Dom Quixote, 1990, pp. 7‑52.
Abbreviations such as op.cit, loco cit. and ibid. should be avoided, using instead the fol‑
lowing style (including a short title if more than one work by the same author is cited in the
article):
Serrão, pp. 190‑91; Castex, p. 31; Lourenço, “Os dois, pp. 970‑71.
The author is responsible for carefully checking the accuracy of all references and quotations
and the sequence of endnotes.
If illustrations are to be included, glossy prints should accompany the manuscript. The author
of the article must submit a copy of any authorization or permission required for reproduc‑
tions.
spbsX_P1.indb 5 09/12/30 18:20:11
Nota Prévia
Existe nos diferentes países da comunidade de língua portuguesa um in‑
teresse genuíno pelas literaturas e culturas dos outros países que falam
oficialmente o mesmo idioma. Este interesse, laço espiritual que liga
entre si países de diferentes continentes com alguma História em co‑
mum, tem vindo a desenvolver‑se, nomeadamente ou em particular nas
universidades, e é partilhado por investigadores da área «lusófona»
pertencendo a outras culturas e línguas. Prova evidente do que afirmo
é este volume. Agradeço ao Professor Pires Laranjeira, da Universidade
de Coimbra, e à Professora Lola Geraldes Xavier, da Escola Superior de
Educação de Coimbra, que não se recusaram a acrescentar mais horas
de trabalho às suas ocupações profissionais e aceitaram gentilmente o
convite que lhes dirigi para assumirem a responsabilidade pela organi‑
zação deste volume.
Há certamente muitas pistas ainda a explorar no estudo das litera‑
turas africanas de língua portuguesa. Mas depois de se lerem os traba‑
lhos aqui publicados fica‑se com uma ideia mais perfeita e mais correc‑
ta do que está a acontecer nas literaturas dos diferentes países africanos
da «Lusofonia». A variedade de perspectivas e a qualidade dos estudos
aqui reunidos são uma manifestação clara da vitalidade desta área de
estudos e da cumplicidade e solidariedade existente entre países e cultu‑
ras ligados pela língua que falam e em que escrevem. Espero que a este
volume seja também reconhecido o mérito de pôr à disposição de futu‑
ros investigadores um conjunto de reflexões e conclusões importantes
sobre o estado e a orientação actuais da investigação.
João Camilo
spbsX_P1.indb 6 09/12/30 18:20:11
Múltiplas tradições e variedades:
alguns escritores e textos das literaturas
de Angola, Moçambique, Cabo Verde,
São Tomé e Príncipe e Guiné‑Bissau (1975‑2009)
Pires Laranjeira
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
0. Introdução
Encontramo‑nos num momento particularmente complexo da história
dos estudos literários africanos. Não se trata de boa ou má consciência,
mas de meditar sobre os condicionalismos económicos, sociais e histó‑
ricos que enformam as instituições, a produção científica e cultural e
as subjectividades.
O estudo das literaturas africanas, e de outras literaturas do que
antes se chamava Terceiro Mundo, obrigou ao descentramento da
perspectiva etnocêntrica na teoria da literatura e nos estudos literários
e culturais. O cânone literário clássico e o moderno foram refeitos e
novos cânones institucionalizados nos departamentos de letras, a fim
de aceitar e compreender as novas e novíssimas produções literárias.
Para a renovação dos textos literários estudados nos vários graus de
ensino contribuíram obviamente a legislação educativa de cada país,
as edições de textos, a crítica, os prémios, etc. Verificou‑se a institucio‑
nalização das associações de escritores em cada país africano, o apoio
oficial à edição, a subida dos escritores ao poder político e aos centros
de decisão cultural e mediático, o aparecimento de novos escritores e
a valorização social da carreira das letras. Os novos países puderam e
souberam elevar o valor dos seus criadores, ao terem valorizado insti‑
tucionalmente o conjunto das suas produções. Por outro lado, a demo‑
cratização mundial da cultura, da universidade e da comunicação levou
à ponderação, justamente, de todo e qualquer facto de cultura como
passível de análise e apreciação, desde a literatura policial ao hip‑hop.
No sistema capitalista, tudo pode ser produzido e reproduzido, com‑
prado, capitalizado e vendido, até as poses prosaicas dos fantasmas da
guerra colonial. Daí que, nas sociedades de abundância e desperdício,
haja lugar para toda a diversidade de estudos literários e que, em novas
spbsX_P1.indb 7 09/12/30 18:20:11
8 Pires Laranjeira
sociedades pós‑coloniais, se possa assistir à instrumentalização social
do que é irrelevante como contributo para a qualidade e a represen‑
tatividade, mesmo se aparecendo com o bónus de genuinidade e de
legitimidade. Não está sequer em causa a liberdade de cada um, crítico
ou criador, mas é importante discutir a legitimação que as universi‑
dades e os médias conferem, pela sua reiterada atenção, a fenómenos
secundários no espectro literário de cada país. Trata‑se simplesmente
de proporções.
Afigura‑se imprescindível, pois, uma espécie de balanço das condi‑
ções de produção literária nos novos países africanos de língua portu‑
guesa e de mostrar o que mudou globalmente nessas literaturas, inclu‑
sive particularizando através de análises a certos autores, temáticas ou
procedimentos.
1. Época colonial e épica nacional
A Guiné‑Bissau proclamou a independência em 1973, durante a
guerra de libertação nacional. As outras colónias portuguesas torna‑
ram‑se independentes em 1975, após três guerras de libertação nacional
desenroladas nos territórios da Guiné‑Bissau, Angola e Moçambique,
que sucederam, naturalmente, a revoltas nativas, guerras, contestações,
oposições e levantamentos espontâneos ou planeados durante a longa
ocupação colonial. Essas lutas, nomeadamente as das independências,
marcaram decisivamente os textos literários, os que foram produzidos
em contexto de guerrilha, de exílio ou de ghetto (nas cidades e vilas das
colónias).
No tempo colonial, os intelectuais e escritores africanos forma‑
ram‑se na escola da vida (foram autodidactas), na escola colonial
(das missões religiosas ou da escola laica), no ensino superior da en‑
tão chamada Metrópole (sobretudo em Lisboa e Coimbra, mas tam‑
bém no Porto e mesmo noutras cidades, como Santarém) e no ensino
superior de cidades onde eram acolhidos, como Paris, Roma, Londres,
Berlim, Argel, São Paulo, Roterdão, Pequim, Moscovo, Boston ou
Estocolmo. Referem‑se algumas das que mais foram recomendáveis
como bases de aceitação de exilados, refugiados, militantes ou estu‑
dantes africanos de língua portuguesa e que, nos anos 50, 60 e 70,
pelas suas condições favoráveis às organizações e associações polí‑
ticas, permitiam as actividades dos intelectuais do então chamado
Terceiro Mundo.
spbsX_P1.indb 8 09/12/30 18:20:11
Múltiplas Tradições e Variedades 9
Durante a luta anti‑colonial, na qual se inclui a luta armada de liber‑
tação nacional, foi‑se formando a ideia de identidade nacional (ango‑
lanidade, moçambicanidade, etc.), com expressão nos textos literários
criados segundo a estratégia de – ideologicamente – furtar‑se ao campo
cultural do colonialismo. Seguindo a orientação política expressa por
Amílcar Cabral de não recusar a língua portuguesa, tratava‑se, antes
das independências, de produzir nos textos um discurso de motivação
nacional (ou regional com valor nacional), expressando vivências re‑
conhecidamente africanas, questões e problemas relativos aos povos
de que o autor emergia, usando modos estéticos identificáveis com as
culturas locais, regionais e nacionais. A língua portuguesa obrigava os
autores a criar um discurso específico que não pudesse confundir‑se
com uma estética europeia e uma ética portuguesa: no corpo da mesma
língua, criava‑se um corpo estranho à identidade portuguesa, libertan‑
do a literatura antes do país, mas criando os dois em simultâneo.
2. A independência e a consolidação institucional
Com a emergência de novas formações económicas e sociais, sobre‑
tudo em Angola e Moçambique, países que atravessaram guerras civis,
nessas duas décadas finais do século XX (a guerra em Angola durou
até 2005), surgiram novos escritores provenientes não da capital, mas
de outras regiões (por exemplo: João Maimona, no Huambo, Angola,
que viveu, depois, em França; Paulina Chiziane, na região de Gaza,
Moçambique). Por outro lado, a captação de jovens para as “briga‑
das” de literatura beneficiou do atractivo estatuto social que passou
a vigorar nos países quanto à república das letras. Alguns escritores
estiveram, ou ainda estão, de facto, no poder político, substituídos pe‑
los quadros formados mais recentemente, em Angola (Agostinho Neto,
António Jacinto, Uanhenga Xitu, Manuel Pedro Pacavira, Pepetela,
Manuel Rui, Boaventura Cardoso), em Moçambique (Jorge Rebelo,
Marcelino dos Santos, Sérgio Vieira, Albino Magaia, Luís Bernardo
Honwana), em São Tomé e Príncipe (Alda do Espírito Santo), em Cabo
Verde (Corsino Fortes, Manuel Veiga, Onésimo da Silveira). Nada que
não se tenha verificado noutros países (Teófilo Braga, Teixeira Gomes
ou Vasco Graça Moura, em Portugal; André Malraux, em França;
Ernesto Cardenal, na Nicarágua). Porém, o caso angolano foi especial,
a ponto de o saudoso Gerald Moser, da Universidade da Pensilvânia,
ter classificado o país como a “República dos poetas”.
spbsX_P1.indb 9 09/12/30 18:20:11
10 Pires Laranjeira
O caso mais afirmativo, prático, simbólico e fundacional de ins‑
titucionalização foi o da criação da União dos Escritores Angolanos
(UEA), logo na primeira quinzena da independência. A emergência de
uma nova autoridade cultural, decorrente da autoridade político‑par‑
tidária e estatal (no caso de Angola, o MPLA liderou o Estado e a
cultura), como entidade única e de liderança cultural‑literária, passou
a legitimar os actos literários. Juntamente com a escola e os médias, os
escritores que viveram a independência no país, tal qual aconteceu, e a
defenderam face aos invasores externos e agressores internos (sul‑afri‑
canos, zairenses, “unitas” e “fênêlás”), foram legitimados no campo li‑
terário angolano. Entre tantos outros, ficaram nessa condição, além do
Presidente Agostinho Neto, Uanhenga Xitu, Manuel Pedro Pacavira,
José Luandino Vieira, António Jacinto, Jofre Rocha, Jorge Macedo,
Manuel Rui, Pepetela, Ruy Duarte de Carvalho, Arlindo Barbeitos,
António Cardoso, José Mena Abrantes, Henrique Abranches, Raul
David, Aires de Almeida Santos, Antero Abreu, Samuel de Sousa,
David Mestre, Costa Andrade, Domingos Van‑Dúnem, Arnaldo Santos,
Boaventura Cardoso, João Abel, Óscar Ribas, Garcia Bires. Viriato da
Cruz, já falecido, entrava nas contas dos poetas. Porém, escritores como
Geraldo Bessa Victor e Mário António, que aceitaram o colonialismo,
o primeiro, ou recusaram o apelo da luta de libertação, o segundo, não
foram tomados em consideração. Só com o tempo é que, no segundo
caso, se voltou a conceder‑lhe um espaço merecido, começando essa
recuperação sobretudo em Portugal, a partir dos anos 80, com a publi‑
cação dos seus estudos sobre a cultura e a literatura. E foram chegando
Conceição Cristóvão, Adriano Botelho de Vasconcelos, Lopito Feijoó,
Fernando Kafukeno, João Maimona, Frederico Ningi, Rui Augusto,
António Panguila, Trajanno Nankhova Trajanno e tantos mais.
Por outro lado, sobretudo a partir dos anos 80, alguns escritores
encetaram um percurso literário que passou a ter repercussão inter‑
nacional, em Portugal e no Brasil e, sendo traduzidos, noutros países
(alguns já tinham sido publicados esparsamente no exterior). Um lote
restrito, em vários continentes.
Pela existência dessas bipartições de territórios de afirmação – o na‑
cional e o internacional −, foram‑se criando, nos anos 80 e 90, espécies
diferenciadas de produção, que sofreram também diferentes tipos ou
qualidades de legitimação.
A primeira referência é aos que ganharam o estatuto de incontorná‑
veis do país, independentemente do reconhecimento externo. Arnaldo
Santos ou Henrique Abranches, em Angola, Orlando Mendes ou
spbsX_P1.indb 10 09/12/30 18:20:11
Múltiplas Tradições e Variedades 11
Noémia de Sousa, em Moçambique, Alda do Espírito Santo, em São
Tomé e Príncipe, Hélder Proença, na Guiné‑Bissau, Ovídio Martins,
em Cabo Verde.
Depois, temos os que se tornaram, de algum modo, uma espécie de
estrelas mediáticas no estrangeiro, sobretudo em Portugal, com grande
projecção, vendagem de várias edições de quase toda a obra e um sus‑
tentado reconhecimento universitário, durante uma, duas ou três déca‑
das, como Mia Couto, Pepetela, José Eduardo Agualusa, José Luandino
Vieira ou Germano Almeida e, mais recentemente, Ondjaki, além de
um escritor que tem sido alvo de homenagens, tanto em Portugal como
em Angola, Ruy Duarte de Carvalho, ganhando, entre outros, o Prémio
das Correntes d’Escrita, da Póvoa de Varzim, atribuído, em 2008.
Sensivelmente no nível seguinte, com razoável circulação e exposi‑
ção pública, incluindo vendas, colóquios e entrevistas, surgem escrito‑
res como Paula Tavares, Manuel Rui, João Melo, Corsino Fortes ou
Paulina Chiziane.
Outros ainda, com menos leitores, mas uma consagração institu‑
cional, com edições de prestígio, como as da Imprensa Nacional‑Casa
da Moeda, editora oficial do Estado português, são David Mestre, José
Luís Mendonça, Francisco José Tenreiro ou Yolanda Morazzo.
Finalmente, os que, tendo projecção no exterior, não a tiveram,
durante algum tempo (uma década, no máximo), nos seus próprios
países: Rui Knopfli, em Moçambique, por aceitar uma ambiguida‑
de luso‑moçambicana, na medida em que foi adido de imprensa da
Embaixada portuguesa em Londres, Sousa Jamba, em Angola, por ser
adepto da UNITA, criado no exterior do país e por escrever o primeiro
livro em inglês, Mário António, que optou por recusar a luta armada
de libertação nacional e a sua obra acabou por ser menosprezada na
pós‑independência, em Angola.
Nos novos países africanos, os textos literários pós‑coloniais pas‑
saram a assumir os novos paradigmas do pensamento político, social,
económico e cultural. Tal não significa que o poder de criticar passasse
a estar ausente da literatura. Após um momento de júbilo, ufanismo
e exaltação patriótica, gerado naturalmente pela independência, sur‑
giram textos, no começo dos anos 80, em primeiro lugar em Angola,
que traduziam uma notável capacidade de o novo status quo digerir
críticas. Foi nessa época a seguir à libertação que, em Angola, se publi‑
cou o romance Mayombe, de Pepetela, inédito há muitos anos, sobre a
guerra de libertação nacional, em que expunha racismos, tribalismos,
spbsX_P1.indb 11 09/12/30 18:20:12
12 Pires Laranjeira
corrupções, machismos, regionalismos, abusos vários de poder no seio
do MPLA. Foi também a época em que Manuel Rui publicou Quem
me dera ser onda, uma crítica aos micro‑poderes urbanos da nova no‑
menclatura estabelecida em comités de bairro, condomínios, em toda
a malha urbana, resultado de uma lógica de novo poder instituído, no
meu entendimento perfeitamente compreensível e aceitável, se pensar‑
mos no que significa criar uma nova pátria.
3. As mulheres
Com o aparecimento de escritoras como Paula Tavares e Maria
Alexandre Dáskalos, em Angola, Lina Magaia, Paulina Chiziane e Lília
Momplé, em Moçambique, Conceição Lima, em São Tomé e Príncipe,
Odete Semedo e Domingas Samy, na Guiné‑Bissau, e Vera Duarte,
Dina Salústio, Maria Margarida Mascarenhas e Fátima Bettencourt,
em Cabo Verde, o modo feminino de (vi)ver o mundo entrou na cena
literária, com suas especificidades bem diferenciadas de sensibilidade,
descentramento e afecto.
Pela primeira vez, os romances de Paulina Chiziane conferem prota‑
gonismo a mulheres negras, com lancinantes sofrimentos, sua comple‑
xa vivência afectiva (não já como objectos ou figurantes nos romances
masculinos), sua passagem de colonizadas e mesmo (ab)usadas no tem‑
po colonial à dignificação e autodeterminação pós‑independentista.
Neles, discute a supremacia do poder masculino e a tendência para
a poligamia, a questão do trabalho e da independência económica, o
tema dos costumes libertos de tutelas, as realidades tradicionais do
campo e das vilas. Enfim, o valor das mulheres na educação dos filhos,
a (des)igualdade no relacionamento com os homens, a questionação
da luta pela sobrevivência e por uma vida melhor (mesmo através da
prostituição, como no romance O alegre canto da perdiz, que é sobre
a alienação e o sonho, no tempo colonial, de ter uma vida igual à dos
brancos).
Na época colonial, outras escritoras surgiram, como a cabo‑verdiana
Maria Helena Spencer, mas não ocuparam a cena literária, talvez com
a excepção de Alda Lara (Angola) e Noémia de Sousa (Moçambique),
cujos poemas estavam continuadamente presentes em antologias, ba‑
lanços, divulgações, recitais, panoramas, artigos, palestras e outras ac‑
tividades. A primeira, pela capacidade de divulgação que o seu marido
e, depois, viúvo, Orlando de Albuquerque, foi usando em seu favor, nos
spbsX_P1.indb 12 09/12/30 18:20:12
Múltiplas Tradições e Variedades 13
anos 60 em Angola, nos 70 e 80 em Portugal. A segunda foi sempre lida
e referenciada, mesmo sem qualquer livro publicado até 2001, devido a
vicissitudes várias, conquistando uma espécie de aura talvez advinda de
os seus poemas serem manifestamente pró‑negros e terem surgido no
início dos anos 50, com uma excepcional luminosidade para o tempo.
Não se pode concluir, no entanto, que a sua obra, com pouco mais de
uma trintena de poemas, fosse recebida com unanimidade. Existiram
sempre escritores de língua portuguesa que a menosprezaram e meno‑
rizaram, justamente por ter escrito de um modo simples e acessível, à
revelia de correntes intimistas, vanguardistas e experimentais, sofren‑
do do mesmo preconceito (canónico) que Agostinho Neto. O facto de
José Eduardo Agualusa ter apelidado publicamente a poesia de Neto
de “medíocre” (em Luanda, em 2008, provocando uma enorme celeu‑
ma com repercussão mediática) é apenas a ponta visível do icebergue
que tende a privilegiar outro tipo de poesia, entendida como erudi‑
ta, individualmente insubmissa e contra a corrente engajada politica‑
mente na função social, protagonizada por Rui Knopfli, Ruy Duarte
de Carvalho, David Mestre, Eduardo White, Luís Carlos Patraquim,
Arménio Vieira, aliás dos mais altos nomes das diversas literaturas do
espaço pós‑colonial.
Antes das independências, houve, portanto, e fundamentalmente,
Antónia Pusich, Orlanda Amarílis e Yolanda Morazzo, em Cabo Verde,
Alda Lara, em Angola, Alda do Espírito Santo, em S. Tomé e Príncipe,
Noémia de Sousa e Glória de Sant’Anna, em Moçambique. Outras mu‑
lheres escreviam e chegaram mesmo a publicar esparsamente, mas não
constituíram casos tão significativos como estes. E, de facto, tratou‑se
de “casos” isolados, não só porque não existia uma relação entre elas,
senão esporádica, ao menos estética, como também a própria literatura
de cada entidade nacional não constituía ainda um sistema formado e
consolidado, no que isso implica de um público leitor e crítico mais ou
menos alargado.
4. Tradições e variações
Tal como acontece no mundo ocidental, tem‑se levantado, em certos
contextos, em África, a questão da definição daquilo que é o literário
– qual a natureza dos textos? Em Moçambique, Fátima Mendonça che‑
gou a pôr verbalmente a hipótese muito interessante de os discursos do
Presidente Samora Machel serem apreciados como peças integrantes
spbsX_P1.indb 13 09/12/30 18:20:12
14 Pires Laranjeira
do campo literário. Escritoras como Lina Magaia ou Lília Momplé,
que não apresentam preocupações preciosísticas de estilo, voltadas que
estão para o relato ficcional da história de um ponto de vista edificante,
pedagógico e pragmático, como se fossem cronistas dos despautérios
da dominação e opressão colonial, tanto como outros criam relatos fic‑
cionais hiper‑realistas do quotidiano contemporâneo. Recorde‑se que
Winston Churchill ganhou o prémio Nobel da Literatura e que, no
Brasil, qualquer estudante toma conhecimento da Carta de Pêro Vaz de
Caminha como a primeira peça literária do seu país, na medida em que
relatos, crónicas ou ficções de todo o tipo, grandeza e tamanho funcio‑
naram como textos fundacionais de vários países, etnias ou culturas,
desde a saga do Mahabaratha ou o Diwãn de Hafez de Chiraz à poesia
de Walt Withmann.
A literatura erudita, nessa jovem África, cumprindo o desígnio ances‑
tral da oralidade, não deixou de ser pedagógica e didáctica, informativa
e formadora, por isso retomando temas como os da luta anti‑colonial,
do orgulho de ser negro, da constituição de uma identidade cultural
na língua portuguesa, da corrupção das novas entidades oficiais, da
politiquice anti‑popular, do enriquecimento ilícito, da dominação de
género, do cruzamento de hábitos ancestrais com a modernidade, tudo
isso vazado em linguagem hodierna, de cumplicidades construtivistas e
experimentalistas atravessadas por traços e, por vezes, autênticas tex‑
turas retiradas aos processos da oralidade urbana e rural.
Nos estudos de literaturas africanas, estamos habituados a falar da
oralidade/tradição ancestral e da cultura ocidental como um par ou
binómio funcionando como uma contradição entre os dois termos ou,
por outro lado, numa apreciação mais soft e conforme os textos dos
escritores, como a predominância da oralidade/ancestralidade, que é
vista como matricial, sobre a cultura de origem europeia. “Cultura de
origem europeia”, porque, naturalmente, a cultura europeia, funcio‑
nando em África nos textos de criação, passa a ser outra, na medida
em que a sua recepção a transforma através de uma assimilação feita
de modo diferenciado. Acresce ainda que a produtividade textual de
um escritor, ao operar a tessitura de um discurso, adopta elementos
da cultura ocidental, fragmentados, que aparecem inconscientemente
nessas novas formulações na língua portuguesa. Assim, vai sendo habi‑
tual conceber essas produções literárias de África como o “entrelaçado
de mestiças vozes” (Celina Martins), “estilo mesclado” (Vilma Arêas),
“hibridismo cultural” (Benjamin Abdala Júnior) e de outras expres‑
sões‑conceitos que têm como matéria criações literárias caracterizadas
spbsX_P1.indb 14 09/12/30 18:20:12
Múltiplas Tradições e Variedades 15
por cruzamentos, associações, junções, caldeamentos de componentes
de variadas proveniências. Também se tem usado falar de mestiçagens e
hibridismos em relação a culturas próprias de espaços europeus, nome‑
adamente grandes cidades onde coabitam comunidades múltiplas ou as
sociedades são tão diversas e complexas que se escolhe essa terminolo‑
gia e conceptualização para uma caracterização genérica e totalizadora.
Estamos sempre perante o problema de nomear com poucas palavras o
que é difícil de aprisionar, pela sua extensão, densidade e variabilidade,
numa conceptualização simplificada. É bom didacticamente, mas pode
ser menos positivo para uma percepção qualitativa.
Neste caso das literaturas africanas, incorre‑se no risco de achar que
se trata de literaturas “especiais”, “à parte”, tão especiais que só os
conceitos herdados da velha etnologia de origem imperial e da sobrevi‑
vente antropologia conseguem dar conta dos objectos.
5. Variedades e exemplificações
As literaturas de Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e
Príncipe e Guiné‑Bissau, nos últimos 33 anos, apresentam aos leitores
temáticas, tensões e problemas que se podem talvez resumir da seguinte
maneira:
− a consciência da história de cada país e do continente africano, com
o trabalho da memória, da documentação e da imaginação, ainda
sentindo como fundamental a luta anti‑colonial, a luta pela nacio‑
nalidade, a que se agrega o sentimento patriótico de uma nova co‑
munidade imaginada em construção e consolidação;
− as novas guerras internas, com ligações externas, e a oscilação da
identidade social e nacional;
− a formação de uma identidade nacional com o contributo da inter‑
venção estética;
− a inquirição de identidades grupais e individuais, perante o mosaico
de etnias, culturas e experiências vitais;
− a exposição da complexidade étnico‑racial nas relações humanas,
através de variadíssimas personagens, situações e referências, tanto
aludindo à era colonial quanto situando‑se na pós‑independência;
− a complementaridade, conciliação ou fricção e mesmo antagonis‑
mo entre as tradições ancestrais e populares e as modernidades e
pós‑modernidades internacionais;
spbsX_P1.indb 15 09/12/30 18:20:12
16 Pires Laranjeira
− a emergência de novas classes, nomeadamente das burguesias, e o
novo reordenamento social;
− a crítica aos novos poderes políticos, sociais, económicos e cultu‑
rais;
− a emergência de um discurso do feminino, trazendo à cena do texto
o mundo vivido e visto pelas mulheres;
− o explícito de novas formas do erotismo e da sexualidade;
− o flagelo de doenças antigas que persistem, como a sífilis e a tuber‑
culose, e doenças da actualidade, como a SIDA;
− a sobrevivência de modos de realismo social e neo‑realismo históri‑
cos quase em estado puro;
− o uso mais extenso de fórmulas codificadas, como o hai‑ku e até o
soneto;
− a apropriação de formas de cultura urbana popular, como o
hip‑hop;
− a ligação mais íntima da literatura a outras artes, como a pintura;
− a afirmação da livre criatividade e invenção estético‑linguística;
− o aprofundamento e variedade das experimentações verbais e visuais;
− o uso mais extenso do modo metadiscursivo, isto é, da consciência
autoreflexiva do fazer textual no próprio texto literário;
− a entrada na cena textual de novos credos religiosos.
É, portanto, nesta sequência lógica que se apresentam sugestões de
trechos de alguns escritores para ilustrar algumas das novas tendências
das últimas três décadas. A escolha recaiu sobre alguns escritores que
deveriam ser mais considerados e que, por motivos vários, passam mais
despercebidos, não usufruem de tanta notoriedade mediática, não es‑
tão sequer editados fora dos seus países ou, pura e simplesmente, não
têm o acolhimento mais justo nos seus países. São escritores que se
apropriaram de algumas das tradições – as mais diversas, num conceito
amplo que inclui tradições recentes − com as quais se confrontaram ou
ainda estão confrontados.
Que tradições tão variadas são essas?
5.1. A tradição ancestral africana da oralidade, dos aedos, contado‑
res, griots, ligada ao mato e às regiões rurais de culturas antiquíssimas
continua a ter expressão na literatura moderna. Uma tradição guineen‑
se mais recente localizada no subúrbio das zonas urbanas, semelhan‑
te a essa tradição ancestral, sobrevive na poesia, canções e cantilenas
das mandjuandadi da Guiné‑Bissau, ou seja, cantigas de ditu, que são
spbsX_P1.indb 16 09/12/30 18:20:12
Múltiplas Tradições e Variedades 17
associações de mulheres sobretudo em Bissau, Bolama, Cacheu, Geba e
Farim, que compõem cânticos e ladainhas, ou cantigas ao desafio, im‑
provisando tantas vezes para criticar maridos, carpir mágoas, solicitar
favores aos espíritos e deuses, entre outras funções.
Odete Semedo é a escritora guineense que integra uma dessas mand‑
juandadi, faz um doutoramento sobre o assunto e escreve cantigas
nessa tradição. Uma dessas cantigas, que não sei se é da sua autoria,
chama‑se “Quando o mundo era mel para mim” e nela pode‑se ler o
seguinte trecho: “E hoje como não tenho nada/Nada tenho para dar a
ninguém/Olhei para trás não vi os meus camaradas/Os meus amigos e
companheiros//Nos lados onde passava e todos chamavam/por mim/
Tudo calou‑se, tão calado, calado, calado/aquela gente que me baju‑
lava morreram/todos”. A mais elementar tradição oral colectiva pode
ter uma lição tão barroca e tão moderna como esta de melancolia da
perda, da solidão, do desencanto e da finitude!
5.2. A tradição popular ancestral da gente comum das zonas do
interior. Um poeta angolano que participou na transição literária dos
anos 60 para a pós‑colonialidade recupera formas e substâncias dos
caminhos do mato, vazadas numa excelente oficina experimental.
João‑Maria Vilanova (1933‑2005) publicou três livros de poesia, em
Luanda. Vinte canções para Ximinha (1971) e Caderno dum guerri‑
lheiro (1974), reunidos num só volume, Poesia, saído em 2004, em
Lisboa. O terceiro livro publicado em Luanda foi Mar da minha terra
& outros poemas (2004). A escolha de um poema integral recai sobre
aquele que era o preferido do autor:
Mbeji ni jitetêmbua (= a lua e as estrelas)
vamos procurar nosso filho zacaria
vamos procurar nosso filho zacaria
zacaria saiu faz três dias
co’as estrelas e a lua e não voltou
vamos procurar nosso filho zacaria
vamos procurar nosso filho zacaria
zacaria irmão do vento zacaria irmão da xana
a flecha de seu arco onde o levou?
vamos procurar nosso filho zacaria
vamos procurar nosso filho zacaria
na honga dormiremos na honga
é preciso partir
spbsX_P1.indb 17 09/12/30 18:20:12
18 Pires Laranjeira
é preciso partir
é preciso encontrar nosso filho zacaria
5.3. A tradição antiga das culturas urbanas africanas, que inclui os
costumes populares e de salão, e que o documentalista e memorialista
angolano Óscar Ribas documenta, não tem tido seguidores de mérito
em qualquer país após a independência. Já a tradição literária africa‑
na erudita baseada na ancestralidade, nas recolhas ou na moderna as‑
sumpção das histórias e mitos de cada país (Carlos Eastermann, Henri
Junod, Héli Chatelain, Amadou Hampaté Bâ) tem experimentado ou‑
tros desenvolvimentos. O são‑tomense Fernando de Macedo, no seu
Teatro do imaginário angolar (2000), recria tradições e mitos do povo
angolar, teatralizando a saga histórica e mitificada do Rei Amador, re‑
voltoso contra o poder colonial, sublinhando o telurismo e cultivando
os heróis escondidos no mato, nessa luta contra os coloniais. Vejamos
um trecho elucidativo de O rei do Obó:
(A mulher de negro e Luísa Bôbô entoam, em coro, uma oração dos
mortos:)
Vinde espíritos do óbó, saltai da penumbra da densa floresta! Vinde he‑
róicos antepassados e trazei‑nos os Capitães mortos na luta por nosso
chão! Abri‑lhes as portas de Budo‑Bachana antes da hora da vingança!
Que assim se cumpra agora!
5.4. A tradição portuguesa, literária e cultural, nas cidades, que pas‑
sou através do ensino colonial, oficial e laico, do ensino religioso e dos
colégios particulares, incluindo a tradição erudita e académica do ensi‑
no superior em Portugal, e a tradição cosmopolita universal de ter vivi‑
do e participado do modo de vida cultural de grandes cidades e capitais
do mundo ou delas receber informação (proveniente dos quatro cantos
da Europa, Ásia, Américas). A assimilação da poesia lúdica, prosopo‑
ema, poesia‑colagem, poesia visual, poesia e romance experimentais,
que congregam técnicas picturais com textos tabulares, estabelecendo
conexões com o concretismo brasileiro, a modernidade do norte‑ame‑
ricano e. e. cummings, as vanguardas universais da arte‑postal e dos
poemas‑objectos, além da poesia experimental portuguesa de António
Aragão e E. M. de Melo e Castro, entre tantos outros nomes e mo‑
dos de experimentação de linguagens de vanguarda. O angolano João
Maimona, autor de livros como Quando se ouvir o sino das semen‑
tes (1993), Festa da monarquia (2001), ou Lugar e origem da beleza
spbsX_P1.indb 18 09/12/30 18:20:12
Múltiplas Tradições e Variedades 19
(2003), produz um discurso que, embora parecendo, não é nefelibata e,
por vezes, assume mesmo o engajamento crítico, mas que se caracteriza
sobretudo por algum hermetismo. Porém, um discurso sinuoso e her‑
mético, por vezes emergindo a frase em francês, denunciando a estadia
na Europa, parece não buscar, de imediato, o leitor angolano, como
que dirigindo‑se a nenhures, mas nele se pode reencontrar o sentir an‑
golano como algo mais estilhaçado e melancólico:
“Na praça dos pássaros”
e a cadeia em seu olhar descobre
o coração da progressiva demolição
de vozes femininas. onde a falsa
espessura, a lucidez da ferida,
a emersão do destino manifestam
a alegoria impessoal.
avant l’aube infiniment mélancolique
mes oiseaux retrouveront la dualité
du sourire. leave off. leave off:
clamava a voz de pássaros desnutridos.
“Lugar e origem da beleza”
uma inclinação estável aponta
para uma profunda quietude.
pura literatura sobre alegrias
interiores. mutações sucessivas
julgam haver noutros arquipélagos
pinturas e poemas africanos: é o
milagre da matéria de predilecção.
em torno de uma manifestação
abstracta, a uniformidade da
teia da língua.
“Transparência da expressão”
ofereço as memórias mais efémeras
ao declínio silencioso das noites agrícolas.
a palavra pestilencial: a irreversível
expressão da última transparência
da geografia projectando ruas entre
respirações libertas.
spbsX_P1.indb 19 09/12/30 18:20:13
20 Pires Laranjeira
5.5. A tradição culta do Brasil, mas também a tradição popular bra‑
sileira (cf. poemas do angolano Mário António sobre Jorge Amado ou
de outro angolano, Maurício de Almeida Gomes, exaltando certa poe‑
sia do Brasil como modelo poético), incluindo a negra ou negróide (ve‑
jam‑se os brasileiros Solano Trindade, Jorge de Lima, Ascenso Ferreira,
Raul Bopp), juntamente com a tradição culta africana, afro‑americana,
negro‑norte‑americana, ligada às ideias de Panafricanismo e Negritude,
de Senghor, Césaire, Roumains, Cullen, Hughes, Mckay, Guillén, têm
continuado a municiar os discursos neo‑negristas, como o da são‑to‑
mense Conceição Lima (1961), que, em A dolorosa raiz do micondó,
disserta sobre “as raízes” do ser e da origem negra:
“Canto obscuro às raízes”
Eu, a que em mim agora fala.
Eu, Katona, ex‑nativa de Angola
Eu, Kalua, nunca mais em Quelimane
Eu, nha Xica, que fugi à grande fome
Eu que libertei como carta de alforria
este dúbio canto e sua turva ascendência.
Eu nesta lisa, escarificada face
Eu e nossa vesga, estratificada base
Eu e confusa transparência deste traço.
Ou ainda o cabo‑verdiano José Luís Hopffer C. Almada, que, em
Assomada nocturna (2005/1993), adopta um discurso que parece con‑
tradizer o axioma de senso comum de que o país é mestiço, sem dife‑
renças de cor, de raça:
Todos nós éramos
desalentadas criaturas
de ímpeto arrefecido
como bois como mulas como bestas
mansos lentos sobre o bagaço fresco
à volta dos trapiches rodando
infinitos na paciência e na resignação
sob a circunscrição da canga
e o peso definitivo da almanjarra
(…)
Todos nós éramos
bastardos da cor
excessivamente clara
bastardos da cor
spbsX_P1.indb 20 09/12/30 18:20:13
Múltiplas Tradições e Variedades 21
excessivamente escura
brancos da terra
descendentes dos venerandos moradores de Santiago
filhos das secas e de outras intempéries
encurralados entre o salão e o quintal
(…)
Todos nós éramos
nobres rebentos
das gentes brancas
de tez clara
de tez escura
de lém vieira de quintal de tabugal
de pombal da boa entrada dos engenhos
de sedeguma de ganchemba
das casas dos neves dos levy carvalho
dos rodrigues fernandes dos carvalhal
dos reis borges dos galina monteiro
(…)
Lembras‑te, Loló
das lendas narradas
ao cambar do sol ao cair da noite
celebrando
a ilha ressurgida
das mil tormentas das mil afrontas
na insurgência dos evadidos
dos fujões dos rabelados
dos libertos dos homens livres
como negros vadios estigmatizados
perpetuados como badios como rebeldes
porém baptizados crismados ladinizados
arrancados às túnicas dos mouros
à nostalgia das savanas
dos baobabs dos cultos ao iran
e aos espíritos das florestas
à dolência do korá e do balafon
ao ritmo do corpo e da marimba
e assim libertos de exu
e assim sujeitos ao sujo a xúxu ao demónio
e assim limpos da boçalidade do tronco nu pagão
(…)
Todos nós éramos
artefactos de barro
por mãos rudes rigorosas
por mãos negras neolíticas
torneados
por mãos divinas
moldados
e inoculados com o sopro da alegria
spbsX_P1.indb 21 09/12/30 18:20:13
22 Pires Laranjeira
Todos nós éramos
doloridas silhuetas
de achadas escalvadas
de colinas escaveiradas
de encostas devastadas
de ladeiras desoladas
desembocando
como estradas sem destino
em escalavradas
silenciosas ribeiras
5.6. A tradição orientalista, ainda que de modo rudimentar, isto é,
enquanto alusão ou citação cultista, passa por Lopito Feijoó (Angola),
Vasco Martins (Cabo Verde) ou Eduardo White (Moçambique) e tem
no angolano Trajanno Nankhova Trajanno, em Fisionomia do limite
(2005: 1993‑2005), uma apurada matemática filosófico‑religiosa de
um discurso sem pontuação, sem maiúsculas, circular, retomando ver‑
sos e mesmo partes de poemas para os reconfigurar, com frases coladas
umas às outras, por vezes sem ligação orgânica. São “Enunciações”
(assim lhes chama o poeta), parecendo poesia produzida em compu‑
tador, ostentando capacidades próximas do Surrealismo, Misticismo e
Saturnalidade. Existe um corte com o sentimentalismo, mas Trajanno
não arreda o lirismo crepuscular, triste e oracular, aproximando o poe‑
ma de uma divagação metafísica e grandiloquente:
tudo me diz que havia aqui estado antes
o regaço do piano
de traço em traço de alva em alva
tudo me diz que havia aqui estado antes
a pertinência do chacra coronário
tudo é uma única graça
pela pátria e pela Pátria universal
a água sonha em se tornar vinho
sob a silhueta feminina das coisas
resgata a interpelação dos hinos
com a mesma força que a saudade alonga o tempo
tudo me diz que havia aqui estado antes
5.7. A tradição dos realismos e neo‑realismos (africanos, europeus
e americanos), com sua carga social ou socialista, despojados de fanta‑
sia, hauridos do romance social e intelectual de Hemingway, London,
Steinbeck, Caldwell, Passos, Salinger, Redol, Graciliano, Amado,
Sciascia, Zola. A cabo‑verdiana Dina Salústio (Mornas eram as noi‑
tes, 1999) é uma escritora que, após o moçambicano Luís Bernardo
spbsX_P1.indb 22 09/12/30 18:20:13
Múltiplas Tradições e Variedades 23
Honwana, o angolano Castro Soromenho ou os seus compatriotas
Manuel Lopes e Gabriel Mariano, prossegue essa linhagem realísti‑
ca‑social, criando um testemunho quase jornalístico com contos que
são crónicas de costumes e comportamentos, em narrativas curtas, in‑
cisivas, líricas e magoadas. No trecho que segue, o conto simula uma
notícia de jornal e consequente comentário:
“Filho de deus nenhum”
“Homens e mulheres enfurecidos atacaram a cadeia onde se encontra
detida a assassina do pequeno Lizandro, de três anos, morto à dentada.
Autoridades redobram a segurança da prisão temendo linchamento”
(…)
Mulheres amachucadas. Homens maltratados. Crianças espancadas, de
cabeças e mãos rebentadas, sorrisos desfeitos e olhos vazados.
Éramos um povo de brandos costumes.
5.8. A tradição do texto imprecatório, exuberante e excessivo, em
que grandiloquência, sentimentalidade, realismo, magia e narrativida‑
de se mesclam (recordem‑se Maiakovski, Withmann, Hikmet, Neruda,
Eliot). O escritor moçambicano Filimone Meigos publicou um livro
inovador, Poema & kalash in love (1995), que todo o leitor adepto e
especializado (re)conhece como marcante, pela desfaçatez descontrui‑
dora de mitos, ritos e poderes, incluídos os culturais. Nele, retoma e
amplia o gozo da escrita irreprimível de outros africanos (desde logo,
do moçambicano Craveirinha):
“Pátria real = problema: distância que vai do real ao ideal ponto”
‑ Pensam pelo povo, prática pouco pragmática porque preopinar
prescindindo‑se positivamente da ponderação ponto por ponto é paz
póstuma, podre e postiça, politicomania, prejuízo para o
porvir, pretexto para problematizar o prazo probatório da paciência
popular: penso partindo de pormenores, porque o pincel do povo pinta
paisagens, placentas, porras e provavelmente pensamentos, poltronas,
punhos, preservativos presságios, preçários passivos, pudor e produção
peregrinação perpétua.
Pendulam permeáveis os próximos pulos proeminentemente políticos,
promessa projecto do poder popular. Para a plebe o presente é
passado: SOMOS OS MAIS IGUAIS. (RECORDEM‑SE DO 25 DE
SETEMBRO, MUNICIOU‑SE A MEMÓRIA DE UM POVO)
spbsX_P1.indb 23 09/12/30 18:20:13
24 Pires Laranjeira
Como se disse, os novos países souberam elevar o valor dos seus
criadores, ao terem valorizado institucionalmente o conjunto das suas
produções, mas cada escritor soube aprimorar o seu caminho apro‑
priado.
Referências bibliográficas
Conceição Lima, A dolorosa raiz do micondó, Lisboa: Caminho, 2006.
Dina Salústio, Mornas eram as noites, Lisboa: Instituto Camões, 1999.
Fernando de Macedo, Teatro do imaginário angolar, Coimbra: Cena Lusófona,
2000.
Filimone Meigos, Poema & kalash in love, Maputo: AEMO, 1995.
João Maimona, Lugar e origem da beleza, Luanda: Kilombelombe, 2003.
João‑Maria Vilanova, Poesia, Lisboa: Caminho, 2004.
José Luís Hopffer C. Almada, Assomada nocturna, Viana do Castelo, 2005.
Odete Semedo, “As cantigas de Mandjuandadi na oratura guineense. Notas para
um trabalho de pesquisa em desenvolvimento” in Pires Laranjeira, Maria João
Simões e Lola Geraldes Xavier (org.), Cinco povos cinco nações. Estudos de
literaturas africanas, Lisboa: Novo Imbondeiro, 2007, pp. 644‑660.
Trajanno Nankhova Trajanno, Fisionomia do limite, Luanda: UEA, 2005.
Coimbra/Londrina, 5 de Maio de 2009
spbsX_P1.indb 24 09/12/30 18:20:13
Literaturas africanas em Portugal:
na senda de um imaginário migrante?
Inocência Mata
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Portugal
Não há existência humana sem o olhar que dirigimos uns aos outros.
Jacques d’Adesky
Vou começar esta reflexão com um paralelismo inusitado.
Escrevo este texto numa altura em que o mundo vive o “momen‑
tum” da “bolha especulativa”, a um passo do abismo económico, que
faz lembrar, dizem, a “grande depressão” de 1929‑1931, por causa
de uns especuladores – eufemisticamente, soube‑se depois, denomina‑
dos “investidores” – que provocaram uma crise mundial com as suas
“jogadas de casino” na bolsa, na finança e no sector imobiliário, enri‑
quecendo escandalosamente sem que essas fortunas correspondessem
a uma riqueza real, visível em postos de trabalho, bem‑estar social e
retorno fiscal para o Estado.
Pois bem, às vezes é o que penso do fogo‑de‑artifício mediático no
mundo literário africano em Portugal: a celebração de determinadas
obras, mesmo antes de serem lidas (qualificadas sempre com o recor‑
rente grau de superlativo: excelente, notável…), o estatuto excepcional
de determinados autores, cuja mais‑valia está muitas vezes na sua osci‑
lante nacionalidade cultural e, por conseguinte, a nacionalidade literá‑
ria da sua obra. Contrariamente a muitos que pensam ser um “pecado”
problematizar a nacionalidade de um autor pois tal seria “localizar” a
grandeza “universal” desse escritor, afunilando a sua dimensão, não
vejo nisso nada de demeritório na obra de um autor (só se ela apenas
tiver qualidade se for africana…). Com efeito, oscilantes e a passarem
por constantes “reajustamentos de identidade cultural” (Reis, 1995, p.
23), são as obras de António Vieira, Joseph Conrad, Samuel Beckett
ou Milan Kundera – para ficar apenas no “cânone ocidental”, tão caro
aos defensores do “universalismo”…
Na verdade, esta questão, propensa a uma instrumentalização ideo‑
lógica, tem uma pulsão assaz teleológica. E o que se vem, aliás, notando,
é que a questão está inquinada: é que quando se quer que um escritor
se erija, por sua iniciativa ou por conveniência grupal ou segmental, a
spbsX_P1.indb 25 09/12/30 18:20:13
26 Inocência Mata
representação do paradigma de pertença a um sistema literário, o dis‑
curso sobre a sua nacionalidade literária é fechado e definitivo e quem
quiser problematizá‑la leva colados todos os rótulos possíveis, sendo o
de complexado e reaccionário os mais “simpáticos” (embora já não o de
fanoniano, termo até há poucos anos tido pelo argumentário “lusófilo”
como sinónimo de racista, antes de os Estudos Culturais apresentarem
Frantz Fanon como um dos pioneiros da discussão sobre o pós‑colonial);
se, pelo contrário, se pretende que o escritor deambule, convenientemen‑
te, por um indefinido “entrelugar” literário, então a sua nacionalidade
literária passa a ser indiscutivelmente global, desterritorializada, mo‑
derna (termo, aliás, “sobredefinido”, para parafrasear Fredric Jameson,
que refere o baralhamento conceptual que decorre do questionamento
do pós‑modernismo e seu correlato “alto modernismo”)1.
Esta propensão para elaborações encomiásticas faz‑me questionar:
haverá retorno fiscal para o Estado? Isto é, qual é a mais‑valia diferen‑
cial para os sistemas literários nacionais, portanto, as literaturas africa‑
nas nacionais? Terá essa produção celebrada como representativa das
literaturas africanas o mesmo “lugar” no imaginário literário e cultural
das “comunidades imaginadas” a que pretensamente estão vinculadas
os autores e para as quais remetem? Por que tal sorte mediática dessa
literatura só funciona enquanto produto de consumo português? O que
tem essa produção que a faz ser mais apreciada em Portugal (e daí para
o Ocidente), ou no Brasil, do que nos respectivos países?
Se é verdade que uma das respostas a estas questões se encontra no
favorecimento dos “media”, que vão definindo a representatividade
de cada escritor, fazendo desse aspecto consequência do fenómeno de
mediatização “orientada”, e não sua causa, estou convencida, por ou‑
tro lado, de que talvez esta se possa encontrar também na mudança do
gosto estético do público português cujo imaginário cultural começa
a incorporar outros universos, paisagens, signos e símbolos de “ou‑
tras” representações colectivas que vão configurar outros imaginários
literários. Porém, como “não há existência humana sem o olhar que
dirigimos uns aos outros” (Adesky, 2006, p. 125), estou igualmente
convencida de que as irrupções mitológicas do pluriculturalismo, com
reflexo nas preferências literárias, talvez se devam também a mudanças
por que a língua portuguesa vem passando, agora assumida e sistema‑
ticamente, nesse processo que Eduardo Lourenço designou como sendo
de derramamento, expansão e creoulização (2004, p. 123), desde a
queda do império. Não é, pois, de se desconsiderar que existe uma
mudança também a nível de sensibilidades “outras” e “outros” gostos
spbsX_P1.indb 26 09/12/30 18:20:13
Na Senda de um Imaginário Migrante? 27
estéticos que não os “tradicionais” e “canónicos” que a Escola sempre
veiculou, totalitariamente, e que estão a ser descentrados do seu lugar
exclusivo por outros que já se vêm impondo como participantes da
cultura literária, como sinais de refluxo de uma outra África, e que têm
de ser considerados pelo mercado editorial (Mata, 2006, p. 287).
Com efeito, como ainda é referido no mesmo texto supracitado, na
esteira de Andrea Semprini no seu livro Multiculturalismo, o mercado
está atento à rentabilização da diferença, ou à sua transformação em
“argumento de venda” (Semprini, 1999, p. 141).
Como leitora, crítica e professora de literaturas africanas, com in‑
cidência nas de língua portuguesa – aqui meu objecto privilegiado –,
começo por dizer que não acho que estas questões, enquanto discussão
cultural e/ou académica, sejam falsas, porque em última instância são
questões de identidade que revelam “histórias de identidade”. Partilho
com Stuart Hall a ideia de que cada uma das “histórias de identidade”
se inscreve nas posições que cada um assume e que tenta compreender
nas suas especificidades (Hall, 2003, p. 433). Pode pensar‑se, então,
que germinou em Portugal um imaginário literário migrante que passa
por África, ou pelo menos por certa África, aquela que resgata o vasto
espaço dos descobrimentos permitindo a “continuidade das represen‑
tações coloniais no modo como se pensa e se aborda a história presen‑
te” (Jerónimo e Domingos, 2007, p. 2)?
Como se vê, a questão assim equacionada comporta – disso tenho
plena consciência – demasiados melindres, nefastos num debate cultural
descomprometido com julgamentos históricos. Porém, olhando para a
paisagem humana do grupo de escritores africanos das “ex‑colónias
portuguesas” publicados na “ex‑metrópole”, percorrendo o catálogo
das casas mais emblemáticas nesta actividade editorial, há elementos
recorrentes e persistentes que não deixam de ser significativos: a origem
etnocultural dos autores, a sua classe sociocultural e o seu discurso so‑
bre o ideal de país e sobre as relações entre os dois países. Na verdade,
o certo é que a maioria dos escritores africanos publicados em Portugal
é, coincidentemente, luso‑descendente, não obstante estes não constitu‑
írem a maioria dos escritores africanos dos seus países. O que talvez ex‑
plique a conveniente ideia de que a nacionalidade literária de um autor
é irrelevante, tanto podendo ser português como angolano ou moçam‑
bicano, como se ouviu numa mesa‑redonda intitulada “Dos Diálogos
e de uma Literatura Luso‑Afro‑Brasileira Pós‑Colonial”, durante o
Colóquio “Para Além da Mágoa: Novos Diálogos Pós‑Coloniais”2, em
Janeiro do ano passado. O certo é que este assunto é tabu porque,
spbsX_P1.indb 27 09/12/30 18:20:14
28 Inocência Mata
parafraseando Junod, “sagrado” e “venerável”, comportando um pe‑
rigo para a comunidade e até para o próprio indivíduo devendo, por
isso, ser evitado num discurso politicamente correcto. Que não é pro‑
priamente minha preocupação.
Tendo entrado nas prateleiras e estantes dos portugueses através
da academia, pelas mãos de Manuel Ferreira, nos anos 70 do sécu‑
lo XX, mais de trinta anos depois as literaturas africanas preenchem
colecções em editoras portuguesas de referência, além de outras me‑
nores que, mesmo não constituindo “séries” ou “colecções”, vão pu‑
blicando avulsa e dispersamente autores africanos. Falo de editoras
mais sistemáticas na edição de obras africanas: a Editorial Caminho,
as Publicações Dom Quixote, a Cotovia, a Campo das Letras, a Asa;
grupo a que se poderia acrescentar as Edições Afrontamento, a editora
Novo Imbondeiro ou as Edições Colibri… Assim como a Europress, a
Mercado de Letras, estas vocacionadas para a tradução. No caso das
primeiras, que publicam sobretudo autores actuais da África de língua
portuguesa, poder‑se‑á pensar que esse interesse advém das afinidades
criadas na história e na língua, categorias vistas como cimento de uma
comunidade que se reparte por três continentes. Esta ideia de “cimen‑
to” tornou‑se incontestável com a emergência dessoutra de “espaço
lusófono”, cuja realização oficial é a Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), após se ter gorado a iniciativa endogenamente afri‑
cana dos “Cinco”3.
A partir dos anos 80, no entanto, o que se foi notando é que o
percurso se inverteu: se antes era a academia que “sugeria” os lugares
e o peso de cada obra/escritor no sistema literário, actualmente são o
mercado e os lóbis que condicionam as preferências curriculares, num
círculo vicioso em que a consequência alimenta a causa e vice‑versa:
não se estuda quem não se conhece; não se convida quem não é publi‑
cado; não se reconhece quem não se conhece. E se Roderick Nehone,
João Tala, nomes incontornáveis da actual ficção angolana, não são
conhecidos na ex‑metrópole (e, repito, daqui para o Ocidente), será
Ondjaki a colher tal mérito… Se Armando Artur ou Aníbal Aleluia não
são publicados fora de Moçambique, serão os autores da Caminho os
eleitos como matéria curricular e objecto de dissertações académicas
em Portugal e no Brasil, na Europa e na América... Muitas vezes auto‑
res que nem são (re)conhecidos nos seus países…
Porém, não existe o que não se (re)conhece?! Vou relembrar4 um
episódio que ilustra a articulação hierarquizante do olhar leitor, mesmo
o académico:
spbsX_P1.indb 28 09/12/30 18:20:14
Na Senda de um Imaginário Migrante? 29
Quando em 1989 o escritor espanhol Camilo José Cela ganhou o
Prémio Nobel da Literatura, um colega e amigo censurou‑me pelo fac‑
to de só conhecer os livros traduzidos para o português desse ilustre
escritor europeu. Contrafeita, desculpei‑me dizendo que realmente era
pouco, mas que o meu espanhol não me permitia ler Cela na sua versão
original – por isso, tinha que esperar pelas traduções portuguesas. No
entanto, ferida na minha paixão pela literatura e adivinhando uma mo‑
tivação etnocêntrica nessa observação do meu colega, resolvi ripostar.
Perguntei‑lhe se já tinha lido alguma coisa de Wole Soyinka, escritor
nigeriano que tinha ganho o mesmo prémio três anos antes. O meu sá‑
bio e esclarecido colega nunca tinha lido nada de Soyinka e, quando lhe
disse quem era, concluiu que, afinal, Soyinka não seria tão conhecido
assim, muita gente não conheceria a sua obra. (Mata, 1999, p. 64)
Como se vê, apenas por ingenuidade (na melhor das hipóteses) se
não considera que a formação do cânone e a representatividade autoral
estão comprometidos não apenas com a civilização e com a tradição
literária, mas também com a hegemonia cultural, como cruamente nos
“sugere” o polémico livro O Cânone Ocidental, de Harold Bloom. As
consequências de uma orientação teórica e crítica pretensamente isen‑
ta de motivações não científicas e alienada desses pressupostos são a
centralidade exclusivista de um paradigma como fatalidade irrevogável
da condição estética. E instituições (públicas, privadas e “ad‑hoc”) que
deveriam estar vocacionadas para a implementação do intercâmbio cul‑
tural não promovem a circulação de livros nem promovem os agentes
culturais. Assim, mesas‑redondas, como a supracitada, festivais como
“Correntes de Escrita” (Póvoa de Varzim, Fevereiro) ou, mais recente‑
mente, o Festival de Poesia de Berlim (Berlim, Junho e Julho de 2008)
ou FLIPORTO (Porto de Galinhas – Brasil, Novembro), prémios, hon‑
rarias e homenagens são “lugares” de visibilização de que resultam
interesses editoriais, num inexorável círculo vicioso. Outrossim, basta
percorrer os catálogos das editoras, o espaço das revistas de livros e
as publicações para se ver a preferência das notícias. Dois exemplos
(de entre muitos): em Portugal estiveram, em Março, por ocasião do
“Colóquio Internacional em Homenagem a Chinua Achebe”, no 50º
aniversário da publicação de Things Fall Apart, dois dos mais influen‑
tes escritores e intelectuais africanos da actualidade: Niyi Osundare,
da Nigéria, e Mbulelo Mzamane, da África do Sul. Não obstante um
insistente alerta para a divulgação dessas presenças feito pela organi‑
zação (FLUL) junto da comunicação social, apenas a RDP‑África re‑
feriu o evento, enquanto publicações de referência como as revistas
África 21 e África Hoje e o JL – Jornal de Letras, Artes e Ideias nem se
spbsX_P1.indb 29 09/12/30 18:20:14
30 Inocência Mata
dignaram referir a passagem por Portugal daqueles dois nomes maio‑
res da cultura africana, tendo esta última publicado a imagem de um
Chinua Achebe…branco5! Do mesmo modo, no número 23 da revista
África 21, há uma notícia que publicita, em grandes títulos de uma pá‑
gina, dois prémios recebidos por dois escritores: Mia Couto e Ondjaki
(Rosalía de Castro e Grinzane Cavour Literary Prize, respectivamente).
O estranho é que no texto da notícia há, “en passant”, a seguinte in‑
formação: “Nesta primeira edição do Grinzane Cavour Literary Prize
for Africa foram também premiados o queniano Ngugi wa Thiong’o e
o nigeriano Ben Okri” (África 21, p. 86).
Ora, o que acontece é que: (i) os principais premiados foram, na
verdade, Ngugi wa Thiong’o e Ben Okri – e não Ondjaki (que foi dis‑
tinguido, sim, com o prémio Revelação); (ii) a conjunção “também”
revela, no mínimo, ignorância, porque Ngugi wa Thiong’o e Ben Okri
são, apenas, dois dos maiores escritores africanos!
Mas, dirá o leitor, estamos a falar de literatura africana em Portugal.
Pois estamos, e as supracitadas revistas são publicadas em Portugal e,
ao que parece, o seu objecto não é apenas a África colonizada por
Portugal. Daí esperarem‑se notícias de eventos e acontecimentos afri‑
canos com os mesmos empenhamento e generosidade.
O que se passa no campo cultural, de que o fenómeno literário
constitui, no caso, uma vertente fundamental porquanto lugar de re‑
presentação das assimetrias culturais, não se pode ler à margem de
outros sectores da sociedade. Para além de existir uma evidente con‑
taminação entre as instâncias agenciais de um suposto multicultura‑
lismo, é preciso ter em conta os códigos sócio‑culturais, ideológicos e
psicológicos que subjazem ao reservatório do olhar que recepciona as
obras africanas e procede à sua interpretação colectiva ou individual,
de forma amadorística ou profissional, jornalística ou académica: pode
dizer‑se serem esses factores a explicar a ausência total de comentários
a propósito de O Signo de Fogo6, romance de Boaventura Cardoso,
em 1992, precisamente por ocasião da publicação de A Geração da
Utopia7, de Pepetela, romance sobre o qual não houve publicação por‑
tuguesa, generalista ou de especialidade, que não se tivesse debruçado,
com entrevistas, comentários ou recensões. Tal omissão torna‑se tanto
mais ostensiva quanto os romances estabelecem um interessante diá‑
logo intertextual que ajuda a elucidar os meandros de uma resistência
nem sempre pacífica em termos de realização agencial. Com efeito, se
A Geração da Utopia encena o percurso de um grupo de jovens africa‑
nos que frequentavam a “Casa dos Estudantes do Império” em Lisboa,
spbsX_P1.indb 30 09/12/30 18:20:14
Na Senda de um Imaginário Migrante? 31
nos anos 60, grupo heterogéneo a vários níveis – raça8, etnia9, origem
social, formação académica –, acompanhando‑o até 1991, O Signo
do Fogo discorre sobre o mesmo percurso de resistência anticolonial,
porém num grupo de jovens actuando no país, na cidade de Luanda,
igualmente com todos os constrangimentos exteriores ao grupo e os
“dissensos” surgidos entre os seus membros. Portanto, dois olhares
sobre um mesmo processo, duas formas de perspectivar a resistência
anticolonial longe dos cenários da guerra de guerrilha que começaria
em 1961.
Por isso, como disse em outro lugar (Mata, 2006, p. 287), é impor‑
tante trazer à “fala” explicativa e desmitificante um multiculturalis‑
mo em que uns “diferentes” – sobretudo os de identidade hifenizada
(Homi Bhabha) – se tornam mais visíveis do que outros, por razões
placidamente estéticas, que decorrem do perverso critério do mérito10,
noção que busca desqualificar as desigualdades, as assimetrias e as dis‑
criminações, acabando por concorrer, neste caso, para a naturalização
de uma situação de desequilíbrio que requer, no mínimo, um questiona‑
mento: a invisibilidade de um grupo de autores cuja representatividade
não pode ser ignorada no contexto de uma literatura cuja existência
foi (e tem sido) marcada por um funcionamento extratextual… Ora,
conhecendo a produção literária desses países, cá e lá, não me coíbo de
afirmar que as hegemonias culturais se vão transversalizando através
da literatura, consolidando hierarquias de outras categorias de anta‑
nho na construção de “formadores de sentidos” (Adesky, 2006, p. 121)
de identidades segmentais. Por outro lado, não é despicienda a ideia de
Walter D. Mignolo que, ao reescrever a semântica da expressão “razão
pós‑colonial” e substituindo‑a por “razão pós‑ocidental”, em Histórias
Locais/Projetos Globais (2000), afirma que a pós‑colonialidade se re‑
organiza em outros alicerces que intentam perpetuar a supremacia de
uma estrutura espácio‑temporal…
Haverá, certamente, quem veja nesta afirmação uma prisão a um
infértil e nefasto racialismo, a um “fascínio da raça” (Paul Gilroy).
Não seria de estranhar numa sociedade que durante muito tempo ele‑
geu a omissão como estratégia de combate ao preconceito e ao ra‑
cismo. Primeiramente direi que não serei original se afirmar que não
apenas as questões raciais são tanto invocadas como vivenciadas de
formas distintas em vários lugares, como nos diz Paul Gilroy (2007,
p. 11), como também o são em várias situações e sob diferentes pris‑
mas. Depois, julgo, na verdade, que falta um exercício menos apressa‑
do de justificação, e mais de explicação, afastado de lugares‑comuns
spbsX_P1.indb 31 09/12/30 18:20:14
32 Inocência Mata
politicamente correctos, ainda que com a fundamentação científica –
como esse de que não existem raças e, portanto, a questão da raça é
uma falsa questão: ainda “navegamos, com efeito, por entre elabo‑
rações hagiográficas, irrupções nostálgicas e o esquecimento institu‑
cionalizado, imunes ao labor académico que, pontualmente, recorda a
dimensão colonial da história nacional” (Jerónimo e Domingos, 2007,
p. 1). Ocorre‑me, como réplica a uma eventual acusação de racialismo,
a ironia de Stéphane Foucart:
On la croyait enterrée pour le bon. Tuée para la science. Mise en miettes
par la génétique, dont les premiers résultats ramenaient toute l’huma‑
nité à une seule même et grande famille. Las! Voilà la notion de race re‑
mise en selle. Et pas par n’importe qui: par l’Américain James Watson11
lui‑même, codécouvreur, avec Francis Crick et Rosalind Franklin, de la
structure de l’ADN (acide désoxyribonucléique). (Foucart, 2007)
Apesar de considerar genuínas as afirmações anti‑racialistas do po‑
der (político, cultural, social, económico), apetece dizer que não vive
neste mundo quem tem por hábitos interpretativos manter raça e po‑
lítica bem apartadas (Gilroy, 2007, p. 12). A não fazer‑se isso, não
será difícil perceber‑se como o olhar português em relação à África
está, ainda, ligado a circunstâncias históricas que definem, em cada
momento, afectos e ressabiamentos. Talvez sejam estas contradições
a denunciar a visão de um colonialismo “diferente”, com “Prósperos
calibanizados” e Calibans prosperizados”, em que a dominação e a
subjugação culturais ficam relegadas para um lugar secundário da re‑
flexão sobre a história das relações entre Portugal e os territórios co‑
lonizados e a afectividade, “locus” importante de gestão de relações
históricas, ganha foros de motivação política e argumento científico.
Como lembra Lourenço do Rosário, reagindo contra o que considera
serem ideias apressadamente lançadas e usadas até à exaustão que aca‑
bam por ganhar estatuto de “realidade”, existe ainda “uma vinculação
umbilical à herança colonial do ex‑império recém desaparecido fisica‑
mente, mas permanecendo nas mentes dos cidadãos” (1999, p. 75) e,
acrescento, revitalizando a ideia da continuidade do império da cultura
para além do tradicional território pátrio. Por este raciocínio podemos
chegar aos sentimentos contraditórios de sedução/repulsa na sociedade
portuguesa que explicam a paixão, para além do texto, com que certas
obras africanas ou sobre África e seus autores foram (e são) recebidas
em Portugal.
spbsX_P1.indb 32 09/12/30 18:20:14
Na Senda de um Imaginário Migrante? 33
Tendo o conjunto dos leitores de obras africanas saído do restrito
círculo académico, para se alargar, felizmente, ao público em geral, o
gosto do leitor passou a ser “educado” pela comunicação social, de
acordo com a capacidade de mediatização, tendo os critérios passado
a ser condicionados por “alegações” outras que se dissimulavam sob
a designação de “qualidade literária”. Para além de não poder “haver
valor estético sem uma qualquer resposta à pergunta tripla da luta ago‑
nística [“agon”] – mais do que, menos do que, igual a” (Bloom, 1997,
p. 35), esta é uma categoria difusa que os Estudos Literários já desmis‑
tificaram ao abordar a condição institucional da literatura. Vale, neste
contexto, lembrar Carlos Reis, na esteira de Julia Kristeva:
Quando mencionamos o carácter institucional da literatura ou quan‑
do falamos em instituição literária estamos desde logo a remeter para
práticas e para sujeitos que asseguram ao fenómeno literário a sua fei‑
ção de estabilidade e de notoriedade pública (…) (Reis, 1995, p. 25.
Sublinhados do autor).
Julia Kristeva falara da instituição literária como “todas as margens
da prática literária: as revistas, os júris, eventualmente as universida‑
des, tudo consagra a expressão literária e lhe dá possibilidade mais
ou menos grande de chegar ao público; isto é, finalmente, os canais
de transmissão” (Kristeva, 1984, p. 53)12. A literatura é, assim, uma
instituição que depende de instâncias de legitimação e o público é uma
delas, para além de: academias (universidades), prémios literários, sis‑
tema de ensino (os planos curriculares, os programas), “comunidade
interpretativa” (críticos, recensões, ou melhor, o círculo da crítica, a
comunicação social e as revistas de especialidade). E hoje todos con‑
cordam que o “literário” não é um valor absolutamente intrínseco à
linguagem, mas também um valor marcado pela historicidade e, até,
pela circunstancialidade: afinal, “a contingência domina a literatura,
tal como domina qualquer empreendimento cognitivo” (Bloom, 1997,
p. 23). Considero, pois, estimulantemente polémico o que disse um dia
Óscar Lopes acerca da sua História da Literatura Portuguesa, de que
é co‑autor (com António José Saraiva): que varreria dela metade dos
autores que lá estão, porque a obra padece de uma “sobrevalorização
quantitativa” (Lopes, 1997, p. 100). Por seu turno, é também esclare‑
cedor o que conta Josué Montello, crítico e historiador literário bra‑
sileiro, uma história que encerra uma lição sobre a variabilidade dos
julgamentos humanos sobre os (grandes) poetas:
spbsX_P1.indb 33 09/12/30 18:20:14
34 Inocência Mata
Um carteiro de Paris teve em mãos, um dia, um envelope fechado, com
este sobrescrito: “Ao maior poeta da França”. Não teve dúvidas: foi
entregá‑lo a Vítor Hugo. O autor da Légendes des siècles, ao receber a
carta, achou que não era para si. E tratou de encaminhá‑la a Lamartine.
Este, vaidoso, abriu o envelope; a carta era para Alfred de Musset.
(Montello, 1965, pp. 11‑12)
Por isso, juízos como os que atestam que os autores publicados em
Portugal são os melhores escritores africanos de seus países13 deveriam
pressupor mais sérias considerações do que os preconceitos com base
em categorias extraliterárias ou simples gosto ou critério dos “juízes”
que os proferem, pois é preciso não esquecer que sobretudo a cultura é
objecto de desejo no jogo de prestígios e de hegemonias socioculturais,
político‑ideológicas e linguísticas. Seria muita ingenuidade pensar que
a expressão literária é tão isenta de ideologia, de apologias e irrupções
celebrativas de interesses quanto isso. O que não significa qualquer
reivindicação de reparação retroactiva ou de cega democracia cosmo‑
polita na versão do multiculturalismo estético.
Referências bibliográficas
Andrea Semprini, Multiculturalismo, Bauru, SP: EDUSC, 1999.
Carlos Lopes, Para uma Leitura Sociológica da Guiné‑Bissau, Bissau: INEP
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa), 1988.
Carlos Reis, O Conhecimento da Literatura, Coimbra: Livraria Almedina, 1995.
Eduardo Lourenço, A Nau de Ícaro seguido de Imagem e Miragem da Lusofonia,
Lisboa: Gradiva, 3ª edição, 2004.
Fredric Jameson, Pós‑Modernismo: a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio, São
Paulo: Editora Ática, 1996.
Harold Bloom, O Cânone Ocidental, Lisboa: Editorial Caminho, 1997.
Inocência Mata, “Novas leituras para a literatura africana”, Revista África Hoje
(Lisboa), Janeiro de 1999, p. 64.
Inocência Mata, “Estranhos em permanência: a negociação da identidade portuguesa
na pós‑colonialidade”, in Manuela Ribeiro Sanches (org.), PORTUGAL
NÃO É UM PAÍS PEQUENO. Contar o “Império” na Pós‑colonialidade,
Lisboa: Edições Cotovia, 2006.
Jacques d’ Adesky, “Reconhecimento, igualdade e conformidade”, Estudos
Afro‑Asiáticos – revista do CEAA – Universidade Cândido Mendes (Rio de
Janeiro), ano 28, Janeiro/Dezembro de 2006, nº1‑2‑3, pp. 117‑134.
JL – Jornal de Letras, Artes e Ideias (Lisboa), de 27 de Fevereiro a 11 de Março de
2008, ano XXVII, nº 976.
spbsX_P1.indb 34 09/12/30 18:20:15
Na Senda de um Imaginário Migrante? 35
Josué Montello, “Prefácio” a Poesias Completas de Gonçalves Dias, RJ: Editora
Científica, 1965.
Lourenço (do) Rosário, Singularidades: Estudos Africanos, vol I, Lisboa: Edições
Universitárias Lusófonas, 1996.
Miguel Bandeira Jerónimo e Nuno Domingos, “Do indígena ao imigrante”, Le
Monde Diplomatique (edição portuguesa), nº 5‑IIª série, Março de 2007 (pp.
1‑2).
Óscar Lopes, O sentido das palavras”, Revista Expresso (Lisboa), nº 1307, 15 de
Novembro de 1997, p. 100.
Paul Gilroy, Entre Campos: Nações, Culturas e o Fascínio da Raça, São Paulo:
Annablume, 2007
REVISTA África 21 – Informação, Economia e Análise (Lisboa), nº 23, Novembro
de 2008, p. 86.
Stéphane Foucart, “La tentation de la race”, Le Monde (Paris), 30.10.07 (http://
www.lemonde.fr/ ‑ 30.10.07 16h22).
Stuart Hall, A Identidade Cultural na Pós‑Modernidade, Rio de Janeiro: DP &
Editora, 6ª edição, 2001.
Stuart Hall, Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais, Organização de Liv
Sovik, Belo Horizonte: Editora UFMG – Brasília: UNESCO, 2003.
Walter D. Mignolo, Histórias Locais/Projetos Globais: Colonialidade, Saberes
Subalternos e Pensamento Liminar, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.
Notas
1. Ver: Fredric Jameson, Pós‑Modernismo: a Lógica Cultural do Capitalismo
Tardio, São Paulo, Editora Ática, 1996.
2. Colóquio “Para Além da Mágoa: Novos Diálogos Pós‑Coloniais” (Lisboa,
Casa Fernando Pessoa, 22 de Janeiro de 2008).
3. Fundado logo após a independência dos Cinco países africanos ex‑colónias
de Portugal, o “Grupo dos Cinco” intentava dar continuidade ao projecto
da CONCP – Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias
Portuguesas, fundada, por sua vez, em Rabat (Marrocos), em 1961, por
Amílcar Cabral, que procedia à concertação dos esforços da luta anticolonial.
A última reunião, sob a presidência de Angola, ter‑se‑ia realizado em 2004
por convocação de José Eduardo dos Santos, à margem da Cimeira da União
Africana em Tripoli (Líbia), o que não aconteceu por ausência do presidente
(que promovera a reunião). A CONCP é o fundamento simbólico e ideológico
da minha preferência pela designação “Cinco”, em detrimento dessoutra
PALOP, que entretanto se generalizou, para referir os Cinco países africanos
de língua oficial portuguesa.
4. Inocência Mata, “Novas leituras para a literatura africana”, Revista África
Hoje (Lisboa), Janeiro de 1999.
spbsX_P1.indb 35 09/12/30 18:20:15
36 Inocência Mata
5. JL – Jornal de Letras, Artes e Ideias (Lisboa), de 27 de Fevereiro a 11 de
Março de 2008, ano XXVII, nº 976, p. 2.
6. Boaventura Cardoso, O Signo do Fogo, Porto: Campo das Letras, 1992.
7. Pepetela, A Geração da Utopia, Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1992.
8. Utilizo este termo enquanto categoria discursiva. Isto é: por “raça” quero
significar, tão somente, diferenças biológicas entre indivíduos da raça humana,
com repercussões ideológicas no edifício sociocultural. Explicitando: “A
raça é uma categoria ‘discursiva’ e não uma categoria biológica. Isto é, ela
é a categoria organizadora daquelas formas de falar, daqueles sistemas de
representação e práticas sociais (discursos) que utilizam um conjunto frouxo,
frequentemente pouco específico, de diferenças em termos de características –
cor da pele, textura do cabelo, características físicas e corporais, etc. − ‘como
marcas simbólicas’, a fim de diferenciar socialmente um grupo de outro”
(Hall, 2001, p. 63). Ver, entre outros: Claude Lévi‑Strauss, Raça e História
(Lisboa: Editorial Presença, 1980); Albert Memmi, O Racismo (Lisboa:
Editorial Caminho, 1993); Paul Gilroy, Entre Campos: Nações, Culturas e o
Fascínio da Raça, São Paulo: Annablume, 2007).
9. Do mesmo modo, utilizo o termo etnia no sentido de “entidade caracterizada
por uma mesma língua, uma mesma tradição cultural e histórica, ocupando
um dado território, tendo uma mesma religião e, sobretudo, a consciência de
pertencer a essa comunidade” (Lopes, 1988, p. 37).
10. Lembra Jacques d’Adesky que “o mérito deve ser compreendido como uma
noção relativa; não pode ser considerado como absoluto, como se não tivesse
nenhum laço com a realidade. Havemos de convir que a noção de mérito não
tem sentido em si mesma. Alcança o seu verdadeiro significado quando está
claro de que se trata de uma noção que se supõe relacionada com algo que lhe
seja exterior. Na prática, o uso do critério do mérito deveria ser ponderado
quando se pretende realizar julgamento o mais equitativo possível. Nesse
sentido, parece evidente que é necessário, no mínimo, perguntar: estamos
falando do mérito em relação a quê, e em relação a quem?” (Adesky, 2006, p.
125).
11. Cientista americano, Prémio Nobel da Medicina de 1962 (pela descoberta
da estrutura molecular do DNA), que declarou, em entrevista a The Sunday
Times (Oct 14, 2007), que os negros eram menos inteligentes que do que os
brancos (motivo pelo qual se declarava céptico em relação ao futuro de África.
As palavras de Watson foram: “There is no firm reason to anticipate that the
intellectual capacities of peoples geographically separated in their evolution
should prove to have evolved identically. Our wanting to reserve equal powers
of reason as some universal heritage of humanity will not be enough to make
it so”. I am “inherently gloomy about the prospect of Africa [because] all
our social policies are based on the fact that their intelligence is the same as
ours − whereas all the testing says not really. (…) people who have to deal
with black employees find this not true (...) There are many people of colour
who are very talented, but don’t promote them when they haven’t succeeded
at the lower level” (The Sunday Times, Oct 14, 2007; Times Online, 17 Oct
2007).
spbsX_P1.indb 36 09/12/30 18:20:15
Na Senda de um Imaginário Migrante? 37
12. Julia Kristeva, Cahiers de Recherches (Paris), nº 13, 1984. Apud Carlos Reis,
O Conhecimento da Literatura, Coimbra: Livraria Almedina, 1995, p. 26.
13. Esta é uma ideia repetida. Duas ocasiões em que esta ideia foi referida
foram: (i) numa mesa‑redonda realizada no dia 7 de Dezembro de 2000, na
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o alemão “Lonha” interpelou
directamente Zeferino Coelho, da Editorial Caminho, sobre a questão;
outrossim, no dia 02 de Setembro de 2003, quando do lançamento dos
dois volumes de actualização do Dicionário de Literatura, de Jacinto Prado
Coelho e de Máximas Mínimas, de Suffit Kitab Akenat (São Paulo, Landy
Editora, 2003) na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pires Laranjeira,
professor da Universidade de Coimbra, começou por expressar a mesma
ideia. Questionado, emendou o caminho face a contestações, reconhecendo,
na altura, a perversidade da ideia.
spbsX_P1.indb 37 09/12/30 18:20:15
spbsX_P1.indb 38 09/12/30 18:20:15
No jogo do passado
Laura Cavalcante Padilha
Universidade Federal Fluminense, Brasil
A evocação do passado é necessária para afirmar a própria identidade,
tanto a do indivíduo quanto a do grupo.
Tzvetan Todorov
Evocar o passado para, por sua rearticulação simbólica, afirmar a iden‑
tidade como algo em diferença se faz uma das marcas dos modernos
textos ficcionais angolanos, desde o instante em que a descolonização
impôs a sua urgência, procurando rasurar velhos jogos de apagamen‑
tos e silêncios. O resultado é que a tradição antiga se usou como forma
de subverter a tradição estética da cultura branco‑européia, momento
em que o heterogêneo se recusou – e ainda se recusa – a aceitar a pres‑
são do homogêneo imposta pela colonialidade epistêmica.
É bom demarcar que a tradição não pode ser pensada como algo
imutável ou como uma “viagem de retorno” a essências contidas nos
princípios, mas sim como um mapa outro ou ainda como um “repertó‑
rio de significados”, no dizer de Stuart Hall (2003: 74). Desse “repertó‑
rio” lançam mão os produtores textuais empenhados em descolonizar
o outro arquivo imposto pelas normas simbólicas ocidentais. O ato
de substituição, ou o mais das vezes de ampliação, não foi realizado
por diversos produtores apenas como um modo de encontrar novas
soluções estéticas, mas, a partir dos anos de 1950, como forma de re‑
forço da própria utopia revolucionária, quando se sedimenta o sonho
de independência nacional. Nascem, assim, concomitantemente, o mo‑
vimento de libertação e o novo projeto estético‑ideológico pelo qual se
funda o alicerce daquilo que se pode considerar a modernidade literá‑
ria angolana. Cultivam‑se, então, novas formas de expressão artística
e o passado e sua memória se convocam como uma espécie de motor
capaz de subverter a fala percebida como alheia.
De outra parte, o resgate, nos textos literários, das línguas nacio‑
nais vai contribuir para que esse processo de subversão se acirre e a
língua européia, já também transformada em nacional, se dobre frente
spbsX_P1.indb 39 09/12/30 18:20:15
40 Laura Cavalcante Padilha
às outras. Nesse sentido, as novas formas de expressão artística se ar‑
ticulam sobre um atravessamento lingüístico pelo qual acabam por
harmonizar‑se modernidade e tradição. O uso das línguas nacionais –
nesse momento em que a urgência de libertação se mostrou com toda
sua força pulsional – se fez um dos instrumentos revolucionários por
excelência, no sentido posto por Lenin que, a propósito de Tolstoi,
afirma em “Leon Tolstoi, espejo de la revolución rusa”: “todo gran ar‑
tista debió de reflejar en sus obras, si no todos, algunos de los aspectos
esenciales de la revolución” (1979: 108).
No pós‑independência, a necessidade de enfrentamento e de busca
da memória antiga como um modo de construção do novo não per‑
dem força, sobretudo porque as línguas nacionais são até hoje faladas
por cerca de 88% da população, segundo dados colhidos em artigo da
lingüista Charlotte Galves (2008). É interessante observar que, mesmo
autores como Luandino Vieira e/ou Paula Tavares, por exemplo, cuja
língua materna é o português, não deixaram de ir em busca dessa me‑
mória que, à falta de melhor termo, se pode nominar como ancestral e
que se sustenta na fala da terra, por assim dizer.
Começando com Paula Tavares, recuperam‑se trechos de entrevis‑
ta por ela concedida ao Jornal de Letras, em novembro de 2007 e,
a seguir, enfoca‑se o romance de Luandino Vieira, De rios velhos e
guerrilheiros 1. O livro dos rios (2006). Ambos os textos, embora de
diversa natureza discursiva, servirão para que se comprove como a re‑
presentação da força arquitetural do passado continua a sustentar o
repertório de significados pelo qual se assegura a manutenção de um
legado percebido como próprio, o que não equivale a dizer que se vi‑
rem as costas para o mundo, em última instância, no sentido posto,
também, por Stuart Hall: “Cada vez mais, os indivíduos recorrem a
esses vínculos e estruturas nas quais se inscrevem para dar sentido ao
mundo sem serem rigorosamente atados a ele em cada detalhe de sua
existência” (2003: 74).
Para começar, portanto, recuperam‑se trechos da entrevista de Paula
Tavares, na qual, referindo‑se à sua dupla origem e à necessidade pes‑
soal de afirmação de sua identidade, diz: “Tive [...] o privilégio de ter
nascido ali [no Lubango], de ter uma avó negra do Kuanhama, e uma
avó branca de Castelo Branco, que me deu esta fala, a outra fala [...]
Havia um ruído de fundo de que eu fui à procura (2007: 44)”.
Repare‑se que a avó negra do Kuanhama precede, na ordem do
discurso, a branca de Castelo Branco e é a dona da fala principal. A
segunda avó, no entanto, é a doadora da fala de que ela, Paula, se
spbsX_P1.indb 40 09/12/30 18:20:15
No Jogo do Passado 41
vale, quando toma a via do literário como o seu caminho de expressão.
Esclarece‑se, já aqui, o encontro da cultura local com a transplantada.
Por sua vez, um certo “ruído de fundo” passa a ser perseguido pela
produtora e se constitui a base do traçado artístico de seu caminho,
quando ela decide “ler a memória daqueles povos” (idem), dela fazen‑
do a matéria por excelência de sua poesia. Voltando a citar trechos da
entrevista, para finalizar:
Eu e a minha terra não nos separamos. Não uso todo este material a
que felizmente tive acesso como uma fonte, onde vou debicar aqui ou
ali. Eu tento incorporar muito deste material e saber como foi... [...] eu
que sou uma mulher que só falo línguas imperiais... mas tenho ouvido
o som de outras línguas, e portanto, eu não faço cópias: trabalho, ca‑
nibalizo e devoro como muitos outros africanos fizeram. [...] Esse é o
trabalho que tento fazer: a incorporação de vários patrimónios, e se o
meu olhar para ver o mundo é aquela terra, aquele espaço, eu também
não estou cega ao resto do mundo [...] e estou aberta a todas as experi‑
ências do mundo (idem).
Jogar o jogo do passado ou recuperar o patrimônio por este jogo
sustentado não significa, portanto, fechar‑se ao mundo, mas fixar o
ponto de emergência do olhar, em última instância. Isso é o que tam‑
bém propõem vários romances produzidos entre o final do século XX
e o início do XXI em Angola, como, para ficar com uns poucos exem‑
plos, se dá em Rioseco (1997) e/ou O manequim e o piano (2005), de
Manuel Rui; A casa velha das margens (1999), de Arnaldo Santos;
Vou lá visitar pastores (1999) e/ou As paisagens propícias (2005), de
Ruy Duarte de Carvalho; Mãe, materno mar (2001), de Boaventura
Cardoso e De rios velhos e guerrilheiros 1. O livro dos rios (2006), de
Luandino Vieira, aqui escolhido como base de exemplificação.
Portanto, em um número expressivo de romances angolanos nessa
viragem do século produzidos, percebe‑se, com clareza, a insistência
dos seus produtores em projetarem suas cartografias identitárias em
diferença. Desse modo, se fazem textos em que se pode detectar, sem
escamoteamentos, como a memória do passado se faz elemento pro‑
dutor de sentidos. Por outro lado, como tão bem assinalado por Paula
Tavares, os romancistas igualmente não negam o legado deixado pela
matriz européia que, dentre as várias categorizações que estabelece,
abarca a que se refere à concepção do próprio gênero romance. Ao
mesmo tempo, esse legado estabelece uma tradição para tal gênero
no espaço construído pelas línguas imperiais, principais ocupantes do
centro emanador do conhecimento. A produção romanesca dos povos
spbsX_P1.indb 41 09/12/30 18:20:15
42 Laura Cavalcante Padilha
antes dominados em geral e dos angolanos, em particular, tenta sub‑
verter esta tradição, ao mesmo tempo em que busca recuperar aquela
que se percebe como própria, marcando‑se os romances, nesses espaços
produzidos, por uma pluralidade epistêmica que se faz instigante em
todos os sentidos, como tão bem demonstra De rios velhos e guerrilhei‑
ros, de Luandino.
Nessa obra, o romancista tenta propor uma reinscrição de Angola,
pela emersão dos vários passados soterrados da história nacional, pro‑
jetada metafórica e metonimicamente na estória pessoal do guerrilhei‑
ro Kene Vua, sujeito flagrado em uma forte crise ética e que, por isso,
resgata a sua trajetória de vida e os seus muitos nomes: Kene Vua;
Kapapa; Diamantininho. Seu passado individual, assim, inscreve‑se pa‑
limpsesticamente sobre o de sua própria terra. Por isso mesmo, o mo‑
mento da guerra de libertação revela‑se como contraditório e, em certa
medida, é virado pelo avesso, perdendo um pouco de sua aura mítica.
Por outro lado, o produtor resgata, com surpreendente afeto, as
formas de pensamento angolanas, não só quando nomeia e descreve os
rios (infindáveis rios), mas pelo acumpliciamento com as memórias que
os sustentam, sempre alicerçadas na fala da terra. O quimbundo e o
português travam embates a cada nova página por Luandino construí‑
da, enquanto os provérbios, as adivinhas, as estórias ancestrais – como
os chamados missossos e/ou mussossos – e as histórias acontecidas, de‑
nominadas malundas ou mussendos, povoam o contado, edificando‑o
eticamente, como se dá nesta passagem citada com cortes:
Recitarei um mussendo: Kisongo kia’xi gerou Mukambi a Kisongo,
Kisonde kia Kisongo, Kalemba ka Kisongo – os que subiram as falésias;
[...] e foi Mbumba ia Kibaia quem que tabucou no Kabidikisu, selou
a sangue o vau, subiu para Mbila Ngolo – por séculos, ali esperou os
portugueses (2006: 82).
A batalha do “vau do Mbudi” é apresentada, em outro trecho mui‑
to significativo do romance, em forma de “testemunho em quimbun‑
do‑de‑Bíblia e mussosso” (idem: 90), sendo tal trecho traduzido para
o português, logo a seguir. Muitas vezes a tradução se faz na outra
direção, ou seja, sai do português para o quimbundo. De um modo ou
de outro, os enfrentamentos de cunho histórico ou os já feitos ficção
(mussossos) são sempre metáforas do embate das tradições ancestrais
contra as modernas, bem como do das línguas, grandes “capas‑de‑chu‑
va” ou “abrigos” das culturas em tensão. Por isso mesmo, ao escolher,
na via da tradução, qual dos textos do capítulo final deveria fechar o
spbsX_P1.indb 42 09/12/30 18:20:15
No Jogo do Passado 43
romance, Luandino, em “Rios, III”, traz, em primeiro lugar, o texto
expresso em português, dizendo em seguida: “Em quimbundo, assim”
(2008:128). E traduz.
Se se entende, com São Jerônimo, citado a partir de Susan Sontag,
que traduzir é “manter o sentido, mas alterar a forma, adaptando tanto
as metáforas como as palavras para adaptar‑se à nossa língua” (2008:
172), percebe‑se claramente que, por sua escolha de finalizar com o
quimbundo, uma das línguas ancestrais de Angola e a sua própria se‑
gunda língua, Luandino demonstra que esta se faz a principal do texto.
Só resta ao idioma português acolher e expor a acusação final da úl‑
tima e breve frase: “Aditernos rios, águas de sangue” (2006: 128). O
embate é ganho pelo quimbundo e a língua materna do próprio autor
sofre um soberbo “rapto”, perdendo a antiga hegemonia imperial, ao
mesmo tempo em que a memória local se sobreleva.
Assim, é possível concluir‑se que, neste romance, como em outros
em nossos tempos produzidos, e também na poesia, há um evidente
adensamento da memória do local da cultura e, por isso mesmo, a tra‑
dição se convoca não como mera criação de um simples efeito estético
ou como um simulacro. Ela se torna um modo outro de produzir novos
sentidos.
Comprova‑se, por tal via, que o passado ainda significa, sendo o
seu legado, desse modo, um elemento simbólico de primordial impor‑
tância, cuja evocação se torna uma forma deliberada de impedir que a
identidade angolana, sempre um múltiplo, se esfacele ou se perca nas
águas dos rios da história globalizada que as hegemonias neo‑imperia‑
listas nos obrigam a viver. Ao jogarem o jogo do passado, de forma ao
mesmo tempo afetiva e desafiante, os produtores literários angolanos
demonstram como suas cartografias identitárias se fazem os princi‑
pais motores de seu imaginário, o que não implica dizer que, de algum
modo, eles se fechem aos apelos do mundo, pois, para eles, recuperar
a tradição não significa expulsar a modernidade, mas antes adensá‑la
mais ainda.
Referências bibliográficas
Boaventura Cardoso, Mãe, materno mar, Porto: Campo das Letras, 2001.
Ruy Duarte de Carvalho, Vou lá visitar pastores: exploração epistolar de um
percurso angolano em território Kuvale (1992‑1997), Rio de Janeiro:
Gryphus, 2000.
spbsX_P1.indb 43 09/12/30 18:20:16
44 Laura Cavalcante Padilha
Ruy Duarte de Carvalho, As paisagens propícias, Lisboa: Cotovia, 2005.
Charlotte Galves, “O papel das línguas africanas na formação do português
brasileiro: (mais) pistas para uma nova agenda de pesquisa”, Revista Gragoatá,
Publicação do Programa de Pós‑Graduação em Letras da Universidade
Federal Fluminense. Org. Laura Cavalcante Padilha e Lucia Helena, Niterói,
nº 24, pp. 145‑174, 1. sem. 2008 (em fase final de editoração pela Editora da
Universidade Federal Fluminense).
Stuart Hall, Da diáspora, Identidades e mediações culturais, Trad. Adelaine La
Guardiã Resende, Ana Carolina Escosteguy, Cláudia Álvares, Francisco
Rüdiger, Sayonara Amaral, Org. Liv. Sovik, Belo Horizonte: Editora da
Universidade Federal de Minas Gerais, 2003.
Lenin, La literatura y el arte, Trad. Editorial Progreso, URSS: Editorial Progresso,
1979.
Manuel Rui, Rioseco, Lisboa: Cotovia, 1997.
Manuel Rui, O manequim e o piano, Luanda: União dos Escritores Angolanos,
2005.
Arnaldo Santos, A casa velha das margens, Porto/Luanda: Campo das Letras/Chá
de Caxinde, 1999.
Susan Sontag, Ao mesmo tempo, Trad. Rubens Figueiredo; org. Paolo Dilonardo e
Anne Jump; introd. David Rieff, São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
Paula Tavares, “Entrevista”, Jornal de Letras, 7‑20/Nov./2007.
Tzvetan Todorov, Memória do mal, tentação do bem: Indagações sobre o século
XX, Trad. Joana Angélica D’Ávila, São Paulo: Aerx‑C, 2002.
Luandino Vieira, De rios velhos e guerrilheiros 1. O livro dos rios, Luanda: Nzila,
2006.
spbsX_P1.indb 44 09/12/30 18:20:16
Notas históricas:
solidariedade e relações comunitárias
nas literaturas dos países africanos
de língua portuguesa
Benjamin Abdala Junior
Universidade de São Paulo / CNPq, Brasil
O estudo dos processos de afirmação das literaturas africanas de lín‑
gua portuguesa levam o crítico a relevar formas em que os escritores,
desde a facção da obra, procuram obter sua legitimação, num cam‑
po intelectual definido por relações comunitárias. Autor, texto e leitor
situam‑se nesse horizonte lingüístico‑cultural que se pauta pela tendên‑
cia à supranacionalidade, que se tem mostrado tão importante quanto
as adesões empáticas da nacionalidade. Nessa rede, o trabalho literário
procurará sua legitimação não apenas em termos de criação, mas tam‑
bém nas esferas de circulação, por onde circulam os principais agentes
de seu reconhecimento. Estabelecem‑se, assim, a partir de cada obra,
relações de solidariedade entre esses agentes. Para tanto, a inclinação
para a inovação artística torna‑se correlata ao desejo de se provocar
impacto, encontrar ressonância enquanto poder simbólico.
Impõe‑se uma observação preliminar, não obstante essa tendência
a uma normatização supranacional: as literaturas africanas de língua
portuguesa apresentam especificidades nacionais e só um olhar distraí‑
do nivela suas diferenças. Do ponto de vista metodológico, sua aborda‑
gem pode ser feita como em qualquer série cultural: registros em língua
portuguesa, que se articulam supranacionalmente, como foi assinala‑
do, seguindo redes e fluxos da circulação da cultura. Do ponto de vista
histórico, essas literaturas, cujos repertórios configuraram‑se plastica‑
mente na língua literária portuguesa, trazem marcas que vêm desde
a formação de Portugal como estado nacional, mas articulam‑se em
redes com outros sistemas, em cada situação histórica. Evidentemente,
esse reporte às origens das literaturas em português pode ser alongado,
pois a experiência literária é obviamente mais ampla, acabando por
se associar à própria origem da cultura. Um patrimônio de todos os
povos, que não se reduz às apropriações e matizações politicamente
associadas a formações nacionais.
spbsX_P1.indb 45 09/12/30 18:20:16
46 Benjamin Abdala Junior
Liberalismo e projetos nacionais
historicamente, as literaturas africanas de língua portuguesa são
recentes e seguem – como aconteceu com o romantismo em escala
mundial – os influxos da tomada de consciência nacional por parte da
intelectualidade letrada. É por isso que certos vetores encontráveis no
romantismo brasileiro podem ser associados às produções africanas,
mesmo em produções de até meados do século XX. Os países coloni‑
zados por Portugal na África deparam‑se com a necessidade de estatuir
literaturas nacionais, no quadro da modernidade, tal como ocorreu
com o Brasil no século XIX. Tivemos o romantismo propriamente dito
e, depois, a Semana de Arte Moderna, como divisora de águas, que
propiciou a literatura, dita “regional” e a nossa poesia modernista.
No romantismo, a literatura brasileira veio a inventar mitos da na‑
cionalidade, buscando a “cor local” para uma sintaxe que vinha da
Europa. E tanto Portugal, como o Brasil, estavam sob o manto liberal
e artístico da França. Pensávamos nossas formas de independência em
francês, mediatizando‑o por situações locais, o que, por assim dizer,
neutralizava o que pudesse de ser explosivo na perspectiva hegemônica
no campo intelectual liberal. Há faces diferentes: o liberalismo torna‑se
dominante, no Brasil, revestindo‑se de inclinações para a afirmação
nacional; liberalismo em Portugal como estratégia de modernização,
contra as formas passadiças associadas ao modo de pensar e sentir o
país dos setores conservadores.
A leitura desse processo histórico nos países africanos de língua
portuguesa revela que um primeiro momento de fratura do imaginário
do colonizador veio a ocorrer pela presença político‑cultural de uma
burguesia crioula africana, nos últimos vinte anos do século XIX. Foi
um período liberal, que pode ser associado à Regeneração portuguesa,
e que favoreceu o início de uma intensa atividade jornalística nas então
colônias. A imprensa desponta, desse modo, como a força responsável
pelo surgimento dos primeiros redutos dos assim chamados “naturais
da terra”, capazes de romper o silêncio imposto pela estrutura colonial.
Seriam uma versão africana, correlata ao que havia acontecido com a
elite dos crioulos brasileiros (mestiços descendentes de portugueses),
que haviam conseguido a libertação da metrópole colonial.
Muitos dos nomes mais significativos na história das idéias em
Angola, por exemplo, estão ligados a esse período de fundação e con‑
solidação da imprensa. No campo da literatura, destaca‑se Alfredo
Troni, autor da novela Nga Mutúri1 (1882), que se correspondia com
spbsX_P1.indb 46 09/12/30 18:20:16
Solidariedade e Relações Comunitárias 47
escritores portugueses da Geração de 70. Sua novela foi publicada em
folhetins na “Gazeta de Portugal”, em Lisboa. Nessa narrativa, com
ironia que lembra a literatura de Eça de Queirós, Troni já mostra a in‑
corporação de costumes locais e domínio do quimbundo. Se o escritor
nasceu e se formou advogado em Portugal, sua identificação maior se
fez com a nova terra, ele que era republicano e socialista. Seu ideário −
mais forte do que questões de origem − tinha suas bases na Revolução
Francesa. Foi um processo de identificação, pois, sua adesão às reivin‑
dicações da burguesia crioulizada de Angola. Aspirou por formas po‑
líticas liberais e, mesmo, com a independência do país. Nos horizontes
de seu grupo intelectual, estava o Brasil e sua literatura romântica,
antiga colônia que havia conseguido se libertar da metrópole. Seu repu‑
blicanismo e socialismo proudhoniano o levava mais longe.
As identificações políticas das elites angolanas com o Brasil já eram
anteriores. É de se recordar que no tratado de reconhecimento da in‑
dependência brasileira por parte de Portugal, feito sob mediação ingle‑
sa em 1825, o Brasil se comprometeu a não aceitar “proposições” de
quaisquer colônias portuguesas de se reunirem a ele. Havia um movi‑
mento desencadeado em Angola, nesse sentido, associado a interesses
escravocratas, o que contrariava os interesses ingleses, além evidente‑
mente dos portugueses. Nas décadas finais do século XIX, as aspira‑
ções eram de outra natureza, de outros setores, os anti‑escravocratas.
Alfredo Troni foi autor de um regulamento que declarou definitiva‑
mente extinta a escravidão em Angola. Acabou por ser destituído de
seus cargos públicos e compulsoriamente exilado para Moçambique.
Consciência regional e consciência nacional
Traços neo‑românticos, centrados na incorporação da atmosfera
cultural da terra, ultrapassariam o século XIX como linhas de força
que se projetam, no conjunto dos países africanos de língua portugue‑
sa, até meados do século XX. Essa observação é geral e deve‑se consi‑
derar também diferenças que matizam esse romantismo que embalou
tanto o Brasil como Portugal. Há, entretanto, uma inclinação para o
mapeamento sociocultural e mesmo da ambiência natural que permi‑
tem aproximações. Aos poucos, nas primeiras décadas do século XX
até às vésperas da Segunda Guerra Mundial, afirmaram‑se na África
colonial portuguesa formas de consciência regional, que já embutiam
aspirações nacionais. Nessa nova matização, as imagens românticas são
spbsX_P1.indb 47 09/12/30 18:20:16
48 Benjamin Abdala Junior
comutadas, em especial, por uma apropriação de repertórios do moder‑
nismo brasileiro. Este é o dado novo, tendo em vista que o gesto artísti‑
co de nossos escritores procurava afastar paradigmas e mesmo uma sin‑
taxe identificada com dicções evocativas da situação colonial. A língua
literária possuía um repertório proviente de experiências comuns, mas
que tinham sua especificidade nas apropriações, que eram uma forma
de ação comunitária interna, culturalmente também híbrida. A litera‑
tura “traduz” em suas formas um conhecimento que vinha de outras
áreas: história, filosofia, política, sociologia, antropologia, artes etc.
No período do pós‑Segunda Guerra e em torno da afirmação dos
princípios de auto‑determinação dos povos, proclamada pela carta das
Nações Unidas, radicalizaram‑se formas de identificação nacional. Se
Portugal era associado à Pátria (colonial) dos discursos oficiais, os afri‑
canos buscavam a afirmação da Mátria (a “Mamãe‑África”), e, com
essa perspectiva, os escritores africanos olharam com ênfase para as
produções literárias do Modernismo brasileiro (a Frátria – a antiga
colônia que se libertou e construiu um discurso próprio). A fraternida‑
de supranacional se traduz em formas de solidariedade, com simetrias
entre gestos: no Brasil, em meados do século, rediscutia‑se a nossa for‑
mação histórica, que deu origem a obras clássicas de nossa cultura, de
autoria de Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Junior e Antonio
Candido, por exemplo. Na literatura, os ecritores procuravam revelar
facetas psicossociais de nossa gente. Sob o jugo colonial português, a
ênfase sociológica e nacional dos escritores africanos encontrava sua
radicalidade em formulações discursivas anticoloniais. Eram tempos
de literatura engajada e esses intelectuais mostram‑se com facetas es‑
pecificamente literárias tão radicais como as políticas. O escritor e o
cidadão, para eles, não poderiam deixar de caminhar juntos. A grande
imagem (neo‑romântica) que se firmou após a Revolução Cubana, foi
a de Che Guevara: numa mão o livro; noutra, o fuzil.
Um bom exemplo dessa problemática é Castro Soromenho. Viveu
em período anterior, onde já se desenhavam atitudes que irão embalar
as lutas de libertação nacional na África de língua oficial portugue‑
sa, que eclodiram depois, nos anos 60. Soromenho situa‑se no campo
intelectual da intelectualidade de esquerda (a grande frente popular
antifascista dos anos 30‑40), para quem questões de independência na‑
cional se imbricavam com perspectivas sociais. Esse autor, nascido em
Moçambique (1910), filho de português e cabo‑verdiana, foi com um
ano de idade para Angola, onde viveu de 1911 a 1937. Fez estudos pri‑
mários e de liceu em Lisboa (1916‑1925). Voltou a Portugal em 1937.
spbsX_P1.indb 48 09/12/30 18:20:16
Solidariedade e Relações Comunitárias 49
Em face de perseguições políticas, teve de exilar‑se, vivendo na França
(1960‑1965) e, depois, no Brasil (1965‑1968), onde veio a falecer. Foi
um dos fundadores do Centro de Estudos Africanos da Universidade
de São Paulo, dirigido por Fernando Mourão. O romance Terra morta2
teve sua primeira edição publicada no Brasil, em 1949, quando o autor
residia em Portugal. Nem poderia ser diferente, pois esse romance de‑
nuncia o colonialismo português.
Por outro lado, laços de solidariedade eram compactuados com a
intelectualidade metropolitana. Os sonhos libertários, advindos do tér‑
mino da Segunda Guerra Mundial e que então embalavam os intelec‑
tuais portugueses, eram frustrados pela atmosfera sufocante da guerra
fria e pela persistência do regime ditatorial. No mesmo campo, as rela‑
ções de solidariedade coexistem contrastivamente com as de desigual‑
dade. Há hegemonias e as mais significativas são as que se naturalizam:
os não‑hegemônicos aceitam com naturalidade a dominação do outro.
E, em Portugal, entre africanos e metropolitanos, havia diferenças, pois
os primeiros não aceitavam a dominância histórica dos segundos. São
tensões que afloraram no campo político, com ressonâncias na literatu‑
ra. Questões ideológicas manifestam‑se também em nível inconsciente
e hábitos coloniais acabam por se manifestar para além da consciência
ou intenções, inclusive dos atores do campo intelectual.
Mesclagens culturais e olhares em contraste
A literatura cabo‑verdiana pode ser dividida em dois períodos: antes
e depois da revista Claridade (1936‑1960). Os escritores do arquipéla‑
go de Cabo Verde, ao procurarem voltar as costas para modelos temá‑
ticos europeus, fixaram seus olhos no chão crioulo, próprio da mes‑
clagem étnica e cultural de seu país. A crioulidade deve ser entendida
como uma mescla cultural não unívoca (mestiça), um conjunto híbrido
onde pedaços de culturas interagem entre si, ora se aproximando, ora
se distanciando. Essa atitude dos intelectuais cabo‑verdianos, de opo‑
sição aos padrões hegemônicos provenientes da metrópole, era corre‑
lata à obsessão de procura de origens − origens étnicas e culturais, que
sensibilizavam a intelectualidade africana do continente. Interessante é
indicar essa tomada de consciência regional.
Um bom exemplo dessa trajetória é Osvaldo Alcântara (pseudôni‑
mo poético de Baltasar Lopes), que, a exemplo de parte da intelectua‑
lidade de seu país, sonha à Manuel Bandeira com uma pasárgada que
spbsX_P1.indb 49 09/12/30 18:20:16
50 Benjamin Abdala Junior
existiria em outra margem do oceano. Se o poeta brasileiro imagina um
reino com um rei bonachão que lhe permitiria todas as “libertinagens”
(título da coletânea de Bandeira), Osvaldo Alcântara tem saudade de
uma pasárgada futura que encontraria no “caminho de Viseu” (“...
indo eu, indo eu,/a caminho de Viseu”). Osvaldo Alcântara estava com
os pés em Cabo Verde, mas a cabeça inclina‑se para fora, para o sonho
da imigração: o “caminho de Viseu” da cantiga de roda portuguesa.
Sua perspectiva é aquela que historicamente sempre se colocou para
povos de migrantes como os cabo‑verdianos, e ele não deixa de ter
consciência de que “esta saudade fina de Pasárgada/ é um veneno gos‑
toso dentro do meu coração”3.
Mais tarde, já em plena luta de libertação nacional, Ovídio Martins
− identificado com os pressupostos ideológicos da Casa dos Estudantes
do Império, em Lisboa − já se coloca no pólo oposto. Não aceita o
reino de Pasárgada, para sua geração uma forma de fuga. Em oposição
ao que ocorrera no sonho de Bandeira, ele não só não era amigo do
rei (“Vou‑me embora pra Pasárgada/ Lá sou amigo do rei”4) como foi
perseguido por sua polícia (a polícia política de Salazar). Não conse‑
guindo permanecer em Lisboa, foi obrigado a imigrar para a Holanda.
Ovídio Martins, como Osvaldo Alcântara, sonha com o que não tinha:
justamente sua terra, Cabo Verde. Se Osvaldo Alcântara olha para ho‑
rizontes indefinidos do mar, Ovídio Martins adota a perspectiva inver‑
sa: procura arremessar‑se ao chão (“Pedirei/ Suplicarei/ Chorarei/ Não
vou para Pasárgada”).
Discursividades supranacionais
Na prosa de ficção, a presença do romance nordestino brasileiro se
mostra bastante forte em romances como Os flagelados do vento leste
(1960)5, de Manuel Lopes e Chiquinho (1947)6, de Baltasar Lopes, em
diálogo, respectivamente, entre outros, com Graciliano Ramos (Vidas
secas7) e José Lins do Rego (Menino de engenho8). Importa indicar
a tomada de consciência dos cabo‑verdianos de sua terra, que teve
como um de seus agentes o crítico literário José Osório de Oliveira,
que apontou para os cabo‑verdianos a necessidade de situarem suas
produções na ambiência física e cultural de sua terra (para ele, uma
região de Portugal). Outro desses atores foi o poeta‑diplomata brasilei‑
ro Ribeiro Couto, que fez chegar ao arquipélago os poetas modernis‑
tas brasileiros. No fundo, considerava‑se idealmente, em Cabo Verde,
spbsX_P1.indb 50 09/12/30 18:20:16
Solidariedade e Relações Comunitárias 51
uma espécie de literatura em língua portuguesa, como um todo, com
matizações onde o regional e o nacional pouco diferiam. Logo, uma
aspiração comunitária para além de diferenciações, que, não obstante,
seriam necessárias por darem veracidade às produções culturais, que
deveriam estar fincadas na terra. A perspectiva crítica de José Osório
de Oliveira, que caminhava nessa direção, tinha seus limites. Embalado
pelos estudos de Gilberto Freyre tendia a exaltar a convivência har‑
mônica, do ponto de vista étnico, social e nacional, no “mundo que o
português criou” – perspectiva que foi criticada nas décadas seguintes
pela intelectualidade africana, do arquipélago e do continente.
Os fios supranacionais da Claridade tiveram origem no movimen‑
to socialista francês da “Clarté”, inaugurado por Henri Barbeuf, nos
primeiros anos da década de 1920. Articula‑se o grupo da revista em
Portugal, em especial, ao movimento da Presença. Mais tarde, os fluxos
da revista – que se afasta da Presença − projetam‑se, por exemplo, em
Manuel Ferreira, neo‑realista português identificado com a cabo‑ver‑
dianidade, cuja obra ensaística consolidou o estudo das literaturas afri‑
canas de língua portuguesa, apropriou‑se dessa temática da evasão/
anti‑evasão. O título de seu romance Hora di bai (1962)9 é referência
a uma conhecida morna de Eugênio Tavares. Escritas em crioulo, a
cadência dessas composições vai dar ritmo e repertório para os poemas
em português e também será referência para os ficcionistas originários
da “Claridade”. Voz de prisão (1971)10, o principal romance de Manuel
Ferreira, situa‑se em Lisboa, e problematiza a questão da oralidade (o
então denominado dialeto crioulo, hoje língua cabo‑verdiana) e o por‑
tuguês‑padrão. Orlanda Amarílis, cabo‑verdiana vivendo na diáspora
lisboeta, problematizará essa condição de migrante, revestindo‑se suas
produções literárias de grande sentido de atualidade, nestes tempos de
deslocamentos da globalização (Cais‑do‑Sodré te Salamansa, 1974)11.
O sentimento de nação situado, assim, para além das fronteiras rígidas
e dos espartilhos de estado.
No período do após‑guerra, ao mesmo tempo em que se desenvolviam
formas de organização político‑culturais em cada um dos países africanos,
como o movimento dos “Novos Intelectuais de Angola”, constituiu‑se
em Portugal um importante núcleo organizativo: a Casa dos Estudantes
do Império. O momento exigia novas estratégias: confluem para a lite‑
ratura formas discursivas da antropologia, da sociologia, da política, do
jornalismo, etc. Espaço de convergência, a literatura (re)descobre cada
país africano para (re)imaginá‑lo em suas especificidades. Espaço polí‑
tico de notável importância, passaram pela casa dos estudantes líderes
spbsX_P1.indb 51 09/12/30 18:20:17
52 Benjamin Abdala Junior
como como Amílcar Cabral, Alda do Espírito Santo, Marcelino dos
Santos, além de Agostinho Neto, todos protagonistas das histórias das
independências dos países africanos colonizados por Portugal. No pla‑
no cultural, cabe destacar, entre os feitos dessa casa, a antologia Poesia
negra de expressão portuguesa (1953)12, organizada por Mario Pinto de
Andrade e por Francisco Tenreiro, e a publicação da colecção “Autores
Ultramarinos”, sob a direcção de Costa Andrade e Carlos Ervedosa.
Tudo mesclado
A afirmação nacional não deixa de imbricar com a supranaciona‑
lidade do campo intelectual desses escritores. Essa coletânea poética
reúne autores negros, brancos e mestiços. Tratava‑se de se publicar
uma antologia de poemas de “expressão portuguesa”, mas o escritor
cujo texto serve de uma espécie de pórtico poético é o cubano Nicolás
Guillén. Seu poema “Son número 6” não foi traduzido, mas transcrito
no original, em língua espanhola. Mais interessante ainda é constatar
que esse poeta − a “mais alta voz da negritude hispano‑americana”,
segundo os organizadores da antologia − releva não a diferença étnica,
mas a mestiçagem: “(...) Estamos juntos desde muy lejos,/ Jóvenes, vie‑
jos,/ Negros y blancos, todo mezclado;/ Uno mandando y outro man‑
dado,/ Todos mezclados(...)”.
Essa inclinação para uma afirmação político‑cultural mais ampla
vai persistir em autores dessa geração, com produção posterior. É o
caso de José Craveirinha, personalidade emblemática para a poética
moçambicana, com uma trajetória que vai de Chigubo (1964)13 a Maria
(1988)14, com destaque para a coletânea Karingana ua Karingana
(1974)15. Craveirinha, como os poetas de Angola, Cabo Verde e de São
Tomé, busca formas híbridas, com incorporação de elementos lingüís‑
ticos das línguas nacionais. Deve‑se considerar o fato de que esses esta‑
dos nacionais reúnem múltiplas culturas, que afinal confluem para um
caldo híbrido das grandes cidades. Nessas circunstâncias, o idioma do
colonizador, apropriado nacionalmente, situa‑se também como primei‑
ra língua de criação literária. O sistema da língua portuguesa, convém
recordar, é abstrato. Nesse sentido, ele só existe concretamente sob for‑
mas variantes: há variantes africanas, como brasileiras e portuguesas.
Em Angola, a literatura empenhada tem em Costa Andrade um autor
programático: Terras das acácias rubras16; Poesias com armas17; Estórias
de contratados (1980)18. Manuel Rui, poeta e prosador, é autor de canções
spbsX_P1.indb 52 09/12/30 18:20:17
Solidariedade e Relações Comunitárias 53
em parceria com vários conhecidos compositores, inclusive o brasilei‑
ro Martinho da Vila: Cinco vezes onze poemas em novembro (1985)19,
Quem me dera ser onda (1982)20, O manequim e o piano (2005)21.
Novos tempos
Os caminhos da poética se diversificaram gradativamente, sobretudo
após a consolidação dos estados nacionais africanos, com produções ex‑
pressivas. Em Cabo Verde, desde as buscas de raízes como em Eugênio
Tavares (Mornas‑cantigas crioulas22, de 1932) até um Corsino Fortes
(Pão & fonema23, 1974), com uma poética afim do concretismo. À pre‑
ocupação com a materialidade dos signos lingüísticos soma‑se a ques‑
tão multifacética das identidades, presente na obra do angolano Ruy
Duarte de Carvalho, que mistura gêneros e mostra visão bastante lúcida
de seu trabalho literário (Hábito da terra, de 198824; Observação dire‑
ta, 200025). Ampliam‑se supranacionalmente os horizontes em Arlindo
Barbeitos, a partir da tradição oral de seu país, que se associa inclusive
a técnicas da poesia chinesa e japonesa (Angola Angolê Angolema, de
197526; Na leveza do luar crescente, 199827). O trabalho artístico desses
escritores pode ser relacionado com as tendências experimentais da poe‑
sia brasileira e portuguesa, sobretudo a partir da década de 1960.
Entre as vozes poéticas femininas mais recentes, figuram a são‑tomen‑
se Maria da Conceição Lima (A dolorosa raiz do micondó, de 200628), a
cabo‑verdiana Vera Duarte (Amanhã amadrugada, de 199329), a guine‑
ense Odete Semedo (No fundo do canto, 200330). Particular relevo nessa
ascensão do comunitarismo de gênero, merece a obra da angolana Paula
Tavares (Ritos de passagem, 198531; Dizes‑me coisas amargas como
os frutos, 200132). Suas obras associam‑se à série literária nacional e à
afirmação supranacional do feminismo. Elas também se colocam como
“contadoras de estórias”, no que seus trabalhos literários também se
articulam com a antropologia. No romance, singulariza‑se, com densi‑
dade artística, a primeira romancista de Moçambique, Paulina Chiziane
(Ventos do apocalipse, de 199533; Niketche, de 200234).
Novos registros, novas plasticidades
As literaturas africanas de língua portuguesa apresentam, na atuali‑
dade, prosadores vigorosos. José Luandino Vieira ocupa uma posição
spbsX_P1.indb 53 09/12/30 18:20:17
54 Benjamin Abdala Junior
central. A maior parte de suas “estórias” foram produzidas no campo
de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, onde ficou preso junta‑
mente com outros intelectuais dos países africanos engajados na luta
anticolonial. Procurava pensar a língua portuguesa em quimbundo,
em suas narrativas, incorporando a oralidade. Um gesto indicativo de
estratégia literária que teve em Alfredo Troni um seu precursor. Tal
estratégia é análoga à do grupo da Claridade em Cabo Verde, com o
crioulo matizando os textos em português e ainda com as estratégias
poéticas de José Craveirinha, em Moçambique. Tratava‑se de pensar
a língua portuguesa a partir das estruturas da oralidade, dos crioulos
lingüísticos e das línguas nacionais de origem africana.
Não só: Luandino Vieira, ao se deparar com a obra de Guimarães
Rosa, identificou‑se com ela. Encontrou no escritor brasileiro um
respaldo artístico para que avançasse nesses processos de hibridiza‑
ções, dando asas à criação literária. Sua obra, traduzida em vários
países, tem sido seguidamente reeditada. É de se mencionar, entre
outros títulos, Luuanda, 196435; A vida verdadeira de Domingos
Xavier, 197436; Velhas estórias, 197437; No antigamente, na vida,
197438; Nós, os do Makulusu, 197539, João Vêncio: os seus amores, de
198740. Essa inclinação de seu trabalho artístico foi importantíssima
para os escritores angolanos, como Boaventura Cardoso (Dizanga dia
muenhu, 197741; Maio, mês de Maria, 199742), Jofre Rocha (Estórias
do musseque, 197743) e Uanhenga Xitu (“Mestre” Tamoda e Kahitu,
de 197644).
Luandino Vieira e Guimarães Rosa, veiculados no campo das litera‑
turas em português, mostram efeitos comunitários, em especial na obra
já abrangente do moçambicano Mia Couto. Ao procurar novas mar‑
gens para a criação literária, o escritor moçambicano tensiona discur‑
sos antropológicos, sociais, históricos e políticos. Associa‑os a formas
de um realismo mágico, que tem a ver com a ficção latino‑americana,
e com a maneira de ver e sentir a realidade dos povos de Moçambique.
Em relação a essa literatura, suas produções imprimem novas dimen‑
sões à prosa de ficção de seu país, em especial à obra de Luís Bernardo
Honwana (Nós matamos o cão‑tinhoso, 196445). A obra de Mia
Couto, como de Luandino e Guimarães, vem encontrando legitimiza‑
ção internacional e premiações. Ela atende a alguns aspectos das con‑
dições atuais da circulação literária supranacional, em especial quando
o discurso histórico se entremeia com o antropológico. Entre as mui‑
tas “estórias” que publicou, podem ser indicadas, em especial: Vozes
anoitecidas, 198646; Terra sonâmbula, 199247; Estórias abensonhadas,
spbsX_P1.indb 54 09/12/30 18:20:17
Solidariedade e Relações Comunitárias 55
199448; Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, 200249; O
outro pé da sereia, 200650).
Estórias e histórias
Nesse contexto dos contadores de “estórias”, situa‑se igualmente
a obra do cabo‑verdiano Germano Almeida, cujo primeiro romance
obteve grande impacto crítico (O testamento do sr. Napomuceno da
Silva Araújo, 199151). Suas “estórias” são sobretudo crônicas da vida
cabo‑verdiana, algumas inclinadas para comentários em torno da co‑
munidade dos países de língua portuguesa (Estórias contadas, 199852).
Circulando entre Angola, Portugal e Brasil, situa‑se o angolano José
Eduardo Agualusa, atestando a força de nosso comunitarismo cultural,
onde encontra seu repertório literário (A conjura, 198953; Nação criou‑
la, 199754; O ano em que Zumbi tomou o Rio, 200355; Manual prático
de levitação, 200556). Mais jovem e com obra já traduzida para vários
idiomas é seu compatriota Ondjaki, com produções onde associa téc‑
nicas que vêm de sua profissão de roteirista e formação em sociologia,
com a linguagem do cinema e das artes plásticas (Bom dia camaradas,
200057; O assobiador, 200258).
Para fecho desta breve exposição sobre notas histórico‑literárias,
que têm em vista destacar articulações entre as literaturas africanas
com Brasil e Portugal, convém remeter à obra do angolano Pepetela.
Seu romance A geração da utopia (1992)59 apresenta uma auto‑crítica,
que pode ser de sua geração de intelectuais que se embalaram na uto‑
pia libertária. Focaliza a trajetória dos estudantes, que se reuniam na
Casa dos Estudantes do Império, em Lisboa, e liam literatura brasilei‑
ra. Vê criticamente as orientações desses atores, como já o fizera em
Mayombe (1980).60 Sua obra recebeu vários prêmios, com edições su‑
cessivas e traduções para vários idiomas. Em boa parte dela, o escritor
procura recontar ficcionalmente a história de seu país – um projeto
literário que lembra o do brasileiro José de Alencar. Seu horizonte é
crítico, desenvolvendo estratégias discursas que questionam situações
político‑sociais da atualidade, seja em relação a fatos com referenciais
históricos mais antigos ou do cotidiano mais próximo (O cão e os
caluandas, 198561; Yaka, 198562; Lueji, o nascimento de um impé‑
rio, 199063; A gloriosa família, 200064; Jaime Bunda, agente secreto,
200165).
spbsX_P1.indb 55 09/12/30 18:20:17
56 Benjamin Abdala Junior
Referências Bibliográficas
A. Barbeitos, Angola angolê angolema, Lisboa: Sá da Costa, 1975.
A. Barbeitos, Na clareza do luar crescente, Lisboa: Caminho, 1998.
A. Troni, Ngá mutúri, Lisboa: Edições 70, 1973.
B. Cardoso, Dizanga dia muenhu, São Paulo: Ática, 1982.
B. Cardoso, Maio, mês de Maria, Porto: Campo das Letras, 1997.
B. Lopes, Chiquinho, 4. ed., Lisboa: Prelo Editora, 1974.
C. Andrade, Terras das acácias rubras, Lisboa: Casa dos Estudantes do Império,
1960.
C. Andrade, Poesias com armas, Lisboa: Sá da Costa, 1975.
C. Andrade, Estórias de contratados, Lisboa: Edições 70, 1980.
C. Fortes, Pão & fonema, 2. ed., Lisboa: Sá da Costa, 1980.
C. Lima, A dolorosa raiz do micondó, Lisboa: Caminho, 2006.
E. Tavares, Mornas – cantigas crioulas, 2. ed., Luanda: Liga dos Amigos de Cabo
Verde, 1969.
F. M. Castro Soromenho, Terra morta. 4. ed., Lisboa: Sá da Costa, 1978
G. Ramos, Vidas secas, 27. ed., São Paulo: Livraria Martins Editora, 1970.
G. Almeida, O testamento do sr. Nepomuceno da Silva Araújo, Lisboa: Caminho,
1991.
G. Almeida, Estórias contadas, Lisboa: Caminho, 1998.
J. Craveirinha, Chigubo. 2. ed., Maputo: INLD, 1980.
J. Craveirinha, Maria. Lisboa: ALAC, 1988.
J. Craveirinha, Karingana ua karingana. 2. ed., Maputo: INLD, 1982.
J. E. Agualusa, A conjura, 2. ed., Lisboa: Dom Quixote, 1998.
J. E. Agualusa, Nação crioula, Lisboa: TV Guia Editora, 1997.
J. E. Agualusa, O ano em que Zumbi tomou o Rio, Rio de Janeiro: Gryphus,
2002.
J. E. Agualusa, Manual prático de levitação, Rio de Janeiro: Gryphus, 2005.
J. L.Vieira, Luuanda, São Paulo: Ática, 1982.
J. L.Vieira, A vida verdadeira de Domingos Xavier. 2. ed., Lisboa: Edições 70,
1975.
J. L.Vieira, Velhas estórias, 2. ed., Lisboa: Edições 70, 1976.
J. L.Vieira, No antigamente, na vida, 2. ed., Lisboa: Edições 70, 1975.
J. L.Vieira, Nós, os do makulusu, 2. ed., Lisboa: Sá da Costa, 1976.
J. L.Vieira, João Vêncio: os seus amores, Lisboa: Edições 70, 1987.
J. L. Rego, Menino de engenho, 38. ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.
J. Rocha, Estórias de musseque, São Paulo: Ática, 1980.
spbsX_P1.indb 56 09/12/30 18:20:17
Solidariedade e Relações Comunitárias 57
L. B. Honwana, Nós matamos o cão tinhoso, São Paulo: Ática, 1980.
M. Bandeira, Itinerário de Pasárgada, Rio de Janeiro: Record, 1997.
M. Couto, Vozes anoitecidas, 6. ed., Lisboa: Caminho, 2001.
M. Couto, Terra sonâmbula, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995.
M. Couto, Estórias abensonhadas, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996.
M. Couto, Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, São Paulo: Companhia
das Letras, 2003.
M. Couto, O outro pé da sereia, São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
M. P. Andrade, Antologia temática de poesia africana I: na noite grávida de
punhais, Lisboa: Sá da Costa, 1975.
M. Ferreira, Hora di bai, São Paulo: Ática, 1980.
M. Ferreira, Voz de prisão, Porto: Inova, 1971.
M. P. Andrade e F. J. Tenreiro, Poesia negra de expressão portuguesa, Linda‑a‑Velha:
Literatura, Arte e Cultura, 1982.
M. Lopes, Os flagelados do vento leste, São Paulo: Ática, 1979.
M. Rui, Cinco vezes onze poemas em novembro,Luanda: UEA, 1985.
M. Rui, Quem me dera ser onda, Rio de Janeiro: Gryphus, 2005.
M. Rui, O manequim e o piano, Lisboa: Cotovia, 2005.
O. Semedo, No fundo do canto, Belo Horizonte: Nandyala, 2007.
O. Amarílis, Cais‑do‑Sodré te Salamansa, Coimbra: Centelha, 1974.
Ondjaki, Bom dia camaradas, Rio de Janeiro: Agir, 2006.
Ondjaki, O assobiador, 2. ed. Lisboa: Caminho, 2002.
P. Tavares, Ritos de passagem, Luanda: UEA, 1985.
P. Tavares, Dizes‑me coisas amargas como frutos, Lisboa: Caminho, 2001.
P. Chiziane, Ventos do apocalipse, Lisboa: Caminho, 1999.
P. Chiziane, Niketche, 2. ed., Lisboa: Caminho, 2002,
Pepetela, A geração da utopia, Lisboa: Dom Quixote, 1992.
Pepetela, Mayombe. São Paulo: Ática, 1982.
Pepetela, O cão e os caluandas. 2. ed. Lisboa: Dom Quixote, 1993.
Pepetela, Yaka, São Paulo: Ática, 1984.
Pepetela, Lueji, o nascimento de um império, Lisboa: Dom Quixote, 1990.
Pepetla, A gloriosa família, Lisboa: Dom Quixote, 1997.
Pepetela, Jaime Bunda, agente secreto, 4. ed., Lisboa: Dom Quixote, 2002.
R. D. Carvalho, Hábito da terra, Luanda: UEA, 1988.
R. D. Carvalho, Observação direta, Lisboa: Cotovia, 2000.
U. Xitu, “Mestre” Tamoda e Kahitu, São Paulo: Ática, 1984.
V. Duarte, Amanhã amadrugada, Lisboa: Vega‑ICL, 1993.
spbsX_P1.indb 57 09/12/30 18:20:18
58 Benjamin Abdala Junior
Notas
1. Lisboa: Edições 70, 1973.
2. 4. ed., Lisboa: Sá da Costa, 1978.
3. “Itinerário de Pasárgada”. Apud: ANDRADE, M. P. Antologia temática de
poesia africana I: na noite grávida de punhais, Lisboa: Sá da Costa, 1975. p.
32.
4. Itinerário de Pasárgada, Rio de Janeiro: Record, 1997.
5. São Paulo: Ática, 1979.
6. 4. ed., Lisboa: Prelo Editora, 1974.
7. 27. ed., São Paulo: Livraria Martins Editora, 1970.
8. 38. ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.
9. São Paulo: Ática, 1980.
10. Porto: Inova, 1971.
11. Coimbra: Centelha, 1974.
12. Linda‑a‑Velha: Literatura, Arte e Cultura, 1982.
13. 2. ed. Maputo: INLD, 1980.
14. Lisboa: ALAC, 1988.
15. 2. ed. Maputo: INLD, 1982.
16. Lisboa: Casa dos Estudantes do Império, 1960.
17. Lisboa: Sá da Costa, 1975.
18. Lisboa: Edições 70, 1980.
19. Luanda: UEA, 1985.
20. Rio de Janeiro: Gryphus, 2005.
21. Lisboa: Cotovia, 2005.
22. 2. ed., Luanda: Liga dos Amigos de Cabo Verde, 1969.
23. 2. ed., Lisboa: Sá da Costa, 1980.
24. Luanda: UEA, 1988.
25. Lisboa: Cotovia, 2000.
26. Lisboa: Sá da Costa, 1975.
27. Lisboa: Caminho, 1998.
28. Lisboa: Caminho, 2006.
29. Lisboa: Vega‑ICL, 1993.
30. Belo Horizonte: Nandyala, 2007.
31. Luanda: UEA, 1985.
32. Lisboa: Caminho, 2001.
spbsX_P1.indb 58 09/12/30 18:20:18
Solidariedade e Relações Comunitárias 59
33. Lisboa: Caminho, 1999.
34. 2. ed., Lisboa: Caminho, 2002
35. São Paulo: Ática, 1982.
36. 2. ed., Lisboa: Edições 70, 1975.
37. 2. ed., Lisboa: Edições 70, 1976.
38. 2. ed. Lisboa: Edições 70, 1975.
39. 2. ed., Lisboa: Sá da Costa, 1976.
40. Lisboa: Edições 70, 1987.
41. São Paulo: Ática, 1982.
42. Porto: Campo das Letras, 1997.
43. São Paulo: Ática, 1980.
44. São Paulo: Ática, 1984.
45. São Paulo: Ática, 1980.
46. 6. ed., Lisboa: Caminho, 2001.
47. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995
48. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996.
49. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
50. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
51. Lisboa: Caminho, 1991.
52. Lisboa: Caminho, 1998.
53. 2. ed., Lisboa: Dom Quixote, 1998.
54. Lisboa: TV Guia Editora, 1997.
55. Rio de Janeiro: Gryphus, 2002.
56. Rio de Janeiro: Gryphus, 2005.
57. Rio de Janeiro: Agir, 2006.
58. 2. ed., Lisboa: Caminho, 2002.
59. Lisboa: Dom Quixote, 1992.
60. São Paulo: Ática, 1982.
61. 2. ed., Lisboa: Dom Quixote, 1993.
62. São Paulo: Ática, 1984.
63. Lisboa: Dom Quixote, 1990.
64. Lisboa: Dom Quixote, 1997.
65. 4. ed., Lisboa: Dom Quixote, 2002.
spbsX_P1.indb 59 09/12/30 18:20:18
spbsX_P1.indb 60 09/12/30 18:20:18
As literaturas africanas de língua portuguesa:
contexto de criação e contexto de tradução
Rebeca Hernández
Universidade de Salamanca, Espanha
As tensões derivadas dos processos de (des)colonização fazem com que
as literaturas africanas de língua portuguesa apresentem um discurso
híbrido marcado por uma grande presença de aspectos culturais na‑
cionais. Desta forma, nestas literaturas coexistem nos planos linguísti‑
co e cultural traços portugueses e autóctones dos países africanos que
o autor integra nas suas obras realizando frequentemente um labor
de tradutor e negociador entre línguas e culturas. Existe nestes tex‑
tos, como é lógico, uma conjunção de línguas, uma combinação de
estruturas gramaticais ou de léxico português e africano utilizada pelos
autores como um recurso literário capaz de reinterpretar a experiên‑
cia colectiva, multicultural e plurilingue em que se encontram imersos.
Assim, vemos, por exemplo, como o escritor angolano Uanhenga Xitu
introduz no seu texto, extraído da sua obra Maka na Sanzala (Mafuta)
numa nota de rodapé a sua própria tradução (linguística e cultural)
para português de um diálogo escrito em quimbundo:
Vamos então começar, já é tarde. E uma das moças principiou com as
sortes.
—Eme‑éé?(160)
—Kiua‑kiua, txum‑txum‑txum... (161)
—Kuala uhaxi? (162)
—Txum‑txum‑txum
Em nota de rodapé:
(160) Eu, ou antes, é comigo?
(161) (Este é o piar do pássaro, fá‑lo com pausa e com pequenos inter‑
valos; é nestes intervalos que aqueles que deitam sortes fazem as per‑
guntas. Estas não param enquanto o pássaro continuar a piar).
(162) Há doença? (p. 107)
Ou como no seguinte fragmento extraído da obra de Pepetela
Parábola do Cágado Velho (1996) encontramos uma glosa intratextual
que situa contextualmente a significação da palavra “olongo”:
Podia se dizer que o kimbo estava construído e lhe deram o nome de
Olongo, porque Mande e Ana, ao escolherem o sítio encontraram no
spbsX_P1.indb 61 09/12/30 18:20:18
62 Rebeca Hernández
lugar onde hoje se ergue o njango os imponentes chifres do animal do
mesmo nome (p. 97).
Homi K. Bhabha denomina terceiro espaço a este contexto de si‑
tuação de natureza híbrida derivado da colonização e relaciona a sua
natureza intersticial com a emergência de um espaço único a partir do
qual surgem a invenção e a criatividade próprias da literatura pós‑colo‑
nial (Bhabha, p. 2). Encontramos outro exemplo deste terceiro espaço
(literário) descrito por Bhabha nos seguintes fragmentos, extraídos da
obra Nós Matámos o Cão‑Tinhoso, de Luís Bernardo Honwana:
a) O grupo da horta devia ter tardado, porque José, o seu kuka, ainda
estava a fazer a fogueira para a botwa de farinha (p. 62).
b) A nós não tem curpa! Ele que veio pruguntar, e gente veio com ele
para ver jimininu cum cão! A nós não tem curpa, só veio ver matar cão!
Não tem curpa! […] Num mata nós, num tira, patrão... Hi! (p. 39)
No primeiro fragmento, pertencente ao conto “Dina”, vemos como
há palavras africanas (kuka, botwa) inseridas no discurso em portu‑
guês que fusionam, de uma forma quase impercertível para o leitor, as
duas realidades. No segundo caso, extraído do conto “Nós Matámos o
Cão‑Tinhoso”, encontramos um processo de integração mais imbricada
com uma língua pidginizada, mistura da língua portuguesa e da língua
ronga. Estes recursos linguísticos utilizados por Honwana aparecem
como um modo de representação da hibridação cultural e linguística
do contexto de criação e são reflexo de uma situação social, cultural e
política determinada. A expressão linguística híbrida, comum a grande
parte das obras das literaturas africanas de língua portuguesa pode ser
percebida como o resultado da luta e da convivência entre as línguas
do colonizador e do colonizado.
Para uma eventual tradução deste tipo de textos para uma outra
língua europeia é preciso ter em conta o pluringuismo existente neste
discurso literário, porque traduzir o texto de uma forma monolingue
elimina a representação da convivência e da tensão que resultam do
processo de colonização. A tradução literária no Ocidente contemplou
sempre discursos monolingues tanto para os textos de origem quanto
para os textos traduzidos. Tal como acontece em outras literaturas es‑
critas em contextos derivados de um processo de (des)colonização, nas
literaturas africanas de língua portuguesa, a presença de diferentes lín‑
guas conforma um discurso literário não monolingue que faz necessária
spbsX_P1.indb 62 09/12/30 18:20:18
Contexto de Criação e Contexto de Tradução 63
uma revisão do conceito traductológico vigente até aos últimos tempos
nos sistemas literário e editorial ocidentais. Assim, uma tradução que
ignore a natureza plurilingue deste tipo de textos acabaria por fazer um
labor de domesticação (Venuti, Berman) que apagaria qualquer mani‑
festação de tensão ou de convivência entre ambas línguas e culturas
apresentando ao público receptor na reformulação do texto uma reali‑
dade diferente daquela que existe no texto original. Da mesma forma,
a assimilação do texto de origem à língua de chegada acaba por ser
um movimento de carácter etnocêntrico gerando uma homogeneidade
literária que obedece aos parâmetros daquilo que o Ocidente considera
universal. Como afirma Spivak:
In the act of wholesale translation into [English] there can be a betrayal
of the democratic ideal into the law of the strongest. This happens when
all the literature in the Third World gets translated into a sort of with‑it
translatese, so that the literature by a woman in Palestine begins to re‑
semble, in the feel of its prose, something by a man in Taiwan (p. 182).
Num plano conceptual (Faucconier e Turner), o terceiro espaço, es‑
tabelecido por Bhabha, para a hibridação encontrada nas literaturas
africanas de língua portuguesa, pode ser visto como um espaço men‑
tal próprio da realidade pós‑colonial no qual se integram as diferentes
línguas que aparecem tanto no contexto real quanto no contexto lite‑
rário. Se percebemos que o uso de diferentes línguas num determina‑
do texto literário pode abrir diferentes espaços mentais no leitor, um
por cada espaço cultural representado, incluído o espaço de hibridação
pós‑colonial, ou funcionar como uma forma de adquirir um novo co‑
nhecimento de outra cultura ou como um silêncio para o leitor não
familiarizado com essa determinada cultura, traduzir o texto de uma
forma monolingue pode acabar por eliminar a representação da convi‑
vência e da tensão resultante do processo de colonização que o autor
transmite nos seus textos através do plurilinguismo e das manifestações
de diferentes culturas.
Tendo em conta as dificuldades traductológicas que estes textos
apresentam propomos uma ética de tradução que sirva para traduzir
o discurso plurilingue (Hernández), respeitando o equilíbrio entre cul‑
turas e respeitando o diálogo entre as diferentes línguas de uma forma
similar ao trabalho de tradução proposto por Boaventura de Sousa
Santos para as ciências sociais. Assim, e por exemplo, no caso já citado
do conto “Dina”, de Luís Bernardo Honwana, a tradução proposta
seria, para castelhano: “Los de la cuadrilla de la huerta debían de haber
spbsX_P1.indb 63 09/12/30 18:20:18
64 Rebeca Hernández
llegado tarde, porque José, su kuka, estaba todavía haciendo el fuego
para el botwa de harina”, com a especificação do significado de kuka e
botwa num glossário no final do livro (Kuka: cocinero, adaptación del
inglés cooker; Botwa: caldera de hierro con tres patas). Desta forma,
a coexistência de diferentes línguas como representação do resultado
da (des)colonização está também presente no texto traduzido sem cair
numa homegeneização etnocentrista que ignore as especificidades des‑
tas literaturas.
Referências bibliográficas
Antoine Berman, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Paris: Seuil, 1999.
Boaventura de Sousa Santos, “Para uma sociologia das ausências e uma sociologia
das emergências”, in http://www.ces.uc.pt/bss/documentos/sociologia_das_
ausencias.pdf
Gayatri Chakravorti Spivak, Outside in the Teaching Machine, London: Routledge,
1993.
Gilles Faucconier and Mark Turner, The way we think. Conceptual blending and
the mind’s hidden complexities, New York: Basic Books, 2002.
Homi K. Bhabha, The Location of Culture, London: Routledge, 1994.
Lawrence Venuti, The Scandals of Translation. Towards an Ethics of Difference.
London: Routledge, 1998.
Luís Bernardo Honwana, Nós Matámos o Cão‑Tinhoso, Porto: Afrontamento, 1972.
Luís Bernardo Honwana, Nosotros Matamos al Perro‑Tiñoso, Madrid: Baobab,
2008, Trad. de Rebeca Hernández.
Pepetela, Parábola do Cágado Velho, Lisboa: D. Quixote, 1996.
Rebeca Hernández, Traducción y postcolonialismo: Procesos culturales y lingüísticos
en la narrativa postcolonial de lengua portuguesa, Granada, Comares, 2007.
Uanhenga Xitu, Maka na Sanzala (Mafuta), Lisboa: Edições 70, 1979.
spbsX_P1.indb 64 09/12/30 18:20:18
A ironia:
propostas para as literaturas de língua portuguesa
Lola Geraldes Xavier
Escola Superior de Educação de Coimbra, Portugal
A ironia
A ironia há muito que interessa a vários estudiosos de diferentes
á reas, desde a antiguidade, não gerando, porém, consensos. Refira‑se os
contributos de Aristófanes, Sócrates, Aristóteles, Cícero, Kierkegaard,
Jankélévitch, Wayne Booth, Paul de Man, Georg Lukács, Catherine
Kerbrat‑Orecchioni, Candace Lang, Joseph Dane, Pierre Schoentjes,
Linda Hutcheon, Philippe Hamon, Ernest Behler, Umberto Eco e Claire
Colebrook.
Dos estudos destes investigadores podemos concluir que a ironia
sobressai pela interrogação, questionamento e problematização que
pressupõe: a ironia enquanto forma subjectiva de lidar com a vida,
enquanto forma de nos imunizarmos contra comprometimentos ou
extremismos sentimentais, como uma espécie de prudência egoística.
A maneira como a ironia recusa o fascínio para com a vida permite
proteger‑nos contra a desilusão. É indiscutível também que a ironia
tem por detrás uma intenção avaliativa.
Das várias perspectivas que pretendem explicar a ironia, destaque‑se
as “echoic mentions” ou “echoic interpretations” (Sperber e Wilson,
1978 e 1986) e a explicação com base nas “discursive communities”
(Linda Hutcheon, 1995). A teoria de Sperber e Wilson desenvolvida
por outros estudiosos como Berrendonner (1981) e Kreuz e Roberts
(1993) teve o mérito de abrir caminho no sentido de perspectivar a
ironia como um fenómeno privilegiado de polifonia enunciativa e, por
arrastamento, de ligar a ironia à transtextualidade, na medida em que
um texto B faz ouvir reminiscências de um texto A.
A ironia, seja oral, escrita ou pictórica, é forma de análise das rela‑
ções humanas, ou do Homem com o mundo, no quotidiano, na arte,
no cinema, na literatura, na arquitectura, na pintura, etc. O estudo da
ironia terá de abranger a forma como esta nasce, cresce e morre ao
longo da cadeia irónica através dos seus elementos: o ironista, o enun‑
ciado, o alvo e o observador. Isto quer dizer que a análise da ironia terá
spbsX_P1.indb 65 09/12/30 18:20:18
66 Lola Geraldes Xavier
de ter presente a relação entre Produção/Enunciado − Texto/Recepção,
pelas relações dinâmicas e plurais, que a ironia implica, pelo distancia‑
mento que provoca entre as pessoas e pelas hierarquias que cria:
a) quem usa, quem recebe, a vítima;
b) quem utiliza, quem percebe e quem não percebe.
Deste processo, a ironia pode simultaneamente incluir e excluir, pode
sugerir tanto cumplicidade, como distância. Pelo que de ideológico há
na escolha do alvo, quase que se poderia afirmar, em tom provocatório,
“diz‑me sobre o que ironizas, dir‑te‑ei qual é a tua ideologia”.
Tipologias da ironia
A ironia não é necessariamente uma arte, mas através do contexto
especial da literatura torna‑se enquanto tal.
Tão variada quanto a definição e os objectivos da ironia é a carac‑
terização dos vários tipos de ironia. Desta panóplia, Muecke (1980)
vem sintetizar as várias tipologias, apresentando uma divisão que
se resume apenas à ironia verbal e à ironia situacional. Por sua vez,
Kerbrat‑Orecchioni (1980) fala de ironia situacional e de ironia não‑si‑
tuacional.
Considerando a ironia como um processo discursivo mais abran‑
gente do que um sintagma ou uma frase, a nossa proposta recai sobre‑
tudo no objectivo visado pela ironia. Desta forma, propomos o uso da
ironia a um nível temático: a ironia histórica, a ironia social, a ironia
cultural e a ironia ideológica. Dentro destas macroestruturas sugerimos
a divisão formal em ironia lexical, ironia contextual e ironia trágica.
A primeira é visível através dos vocábulos escolhidos pelo autor,
através dos nomes escolhidos para as personagens, locais, etc., que des‑
concertam o leitor pelo inusitado do significado na história. Essas esco‑
lhas revelam, normalmente, a incoerência entre os nomes e a actuação
das personagens, entre o nome dos espaços e a significação dos locais
onde se passa a acção ou a que se refere a narração, por exemplo. São
opções lexicais que visam, geralmente, desconcertar ou introduzir um
significado inesperado à história.
A ironia contextual é o tipo de ironia situacional usada quando ape‑
nas uma personagem ou narrador está na posse de uma determinada
informação, que o leitor interpreta pelo contexto textual. A ironia é
spbsX_P1.indb 66 09/12/30 18:20:19
A ironia 67
contextual na medida em que apenas o narrador ou a personagem está
na posse de informação que o seu interlocutor desconhece e que vai
contra toda a expectativa, surpreendendo‑o.
Há ainda a referir a ironia trágica, que se manifesta quando a acção
coloca em destaque um resultado negativo para uma dada personagem.
Podemos afirmar que todo o trágico reside no “estar suspenso”, é o
resultado de um conflito, é tentativa de reconciliação de dois pólos
opostos.
As fronteiras da ironia
A ironia é frequentemente posta a par com a alegoria, a antífra‑
se, o oximoro e a metáfora. Não raras vezes se confunde com outros
processos. Propomos, pois, a terminologia de “parairónico” para de‑
signar os processos discursivos que se aproximam da ironia e que de
alguma forma se interligam com ela, que se situam na fronteira da
ironia. Referimo‑nos ao sarcasmo, à sátira, ao humor, ao “pastiche” e
à paródia.
Não vamos, aqui, debruçarmo‑nos em relação a cada um destes
processos e à sua relação com a ironia, uma vez que não é o objectivo
deste artigo. Sobre este assunto confrontar, por exemplo, o que escre‑
vemos anteriormente (cf. Xavier, 2007, pp. 45‑65).
A ironia em literaturas de língua portuguesa
Perguntemo‑nos então: qual o papel da ironia em literaturas contem‑
porâneas como a portuguesa, a angolana, a moçambicana ou a brasi‑
leira? Para responder a esta questão, baseemo‑nos em algumas obras de
quatro autores de língua portuguesa: António Lobo Antunes, Pepetela,
Mia Couto e João Ubaldo Ribeiro. São obras publicadas no espaço
de quase duas décadas, de 1984 a 2002. Os títulos de António Lobo
Antunes, As Naus (1988) e O Manual dos Inquisidores (1996) reme‑
tem‑nos para a História, bem como o subtítulo escolhido por Pepetela
para A Gloriosa Família − O Tempo dos Flamengos (1997). Também
João Ubaldo Ribeiro, com Viva o Povo Brasileiro (1984), nos encami‑
nha para a História e para um tom panfletário, de manifesto, de hino.
Em O Cão e os Caluandas (1985), que classificamos de “para‑ro‑
mance”, sobressai a cacofonia, a aliteração, como se se tratasse do
spbsX_P1.indb 67 09/12/30 18:20:19
68 Lola Geraldes Xavier
nome de uma fábula. No entanto, a simplicidade, também presente
em títulos deste autor como Parábola do Cágado Velho, O Desejo de
Kianda ou A Montanha da Água Lilás, engana. Esta evocação da ora‑
lidade, do mundo da fábula, da lenda está também presente no título
de Mia Couto, O Último Voo do Flamingo (2000). É ainda para este
mundo do maravilhoso e do conto tradicional que parece remeter o
título de João Ubaldo Ribeiro, O Feitiço da Ilha do Pavão (1997).
Finalmente, Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra
(2002) faz lembrar uma espécie de lenga‑lenga, colocando em evidên‑
cia a importância da cosmogonia na vivência africana.
No entanto, a aparente singeleza de alguns destes títulos engana e,
apesar de serem de valor estilístico‑compositivo diferente, são obras sig‑
nificativas dentro do autor a que pertencem e, até, dentro da Literatura
em que se inscrevem. Em graus também diferentes evidenciam o papel
da ironia literária enquanto forma subversiva contra a ordem ontológi‑
ca, moral, social, cultural, histórica e ideológica.
Método de trabalho
A partir deste “corpus” delineamos uma tese, fruto de quatro fases
de uma investigação: recolha de dados, colocação de hipóteses, análise
e conclusão.
A observação de que a ironia é um processo actualmente implanta‑
do no comummente designado período Pós‑modernista permitiu‑nos
criar várias hipóteses:
1. A ironia não depende apenas da inteligência.
2. A ironia é uma forma subversiva da relação do Homem com o
mundo.
3. A inversão semântica, e por arrastamento a antítese, não é, con‑
trariamente ao que a Retórica defendeu ao longo dos séculos, o
único indício de ironia.
4. Há várias formas e tipologias de ironia.
5. A ironia actua ao nível histórico, social, cultural e ideológico
abalando e desconstruindo verdades comummente aceites.
6. Há aspectos comuns que unem os países de língua portuguesa,
como Portugal, Brasil, Angola e Moçambique, e isso repercute‑se
na literatura.
7. Pode falar‑se de uma ironia de língua portuguesa.
spbsX_P1.indb 68 09/12/30 18:20:19
A ironia 69
Depois de analisar os vários romances que constituem o “corpus”
deste estudo (cf. Xavier, 2007), nas várias componentes que interagem
com a Literatura (nomeadamente a História, a Sociedade, a Cultura e a
Ideologia), de ler várias perspectivas teóricas, de que se destacam aqui
apenas Linda Hutcheon, Paul Ricoeur, Boaventura de Sousa Santos,
chegámos a várias conclusões. Por um lado, a constatação de que a
ironia se joga nas representações do mundo extraliterário com o mun‑
do do texto e de que a literatura não se pode dissociar da história, da
sociedade, da cultura e da ideologia. Consoante o tema‑alvo da ironia,
podemos falar de ironia histórica, social, cultural e ideológica. E dentro
destas considerar uma subdivisão mais microscópica e semântico‑esti‑
lística, em ironia contextual, ironia lexical e ironia trágica, como refe‑
rimos atrás.
A ironia nestes romances é, assim, o resultado de várias interacções
que se prendem com a temática‑alvo da ironia (História, cultura, socie‑
dade, etc.), algumas vertentes relacionadas com esta (o tempo, o espaço,
a língua, etc.), a intertextualidade estabelecida e a ideologia visada.
Destacam‑se, então, aqui, as várias conclusões a que se chega do es‑
tudo da ironia num contexto pós‑moderno aliado à análise de obras de
António Lobo Antunes, Pepetela, Mia Couto e João Ubaldo Ribeiro:
1. A ironia depende de vários factores e não só do intelecto, pois todos
nós pertencemos simultaneamente a vários tipos de comunidades dis‑
cursivas (Hutcheon, 1995, pp. 89‑115): é‑se, por exemplo, homem
ou mulher, branco ou negro, católico ou muçulmano, português ou
brasileiro, casado ou solteiro, etc. Assim, apresentamos sempre uma
multiplicidade de identidades sociais que tornam possível a interpre‑
tação da ironia. Esta interpretação dependerá das competências do
intérprete tais como as competências paralinguísticas, metalinguís‑
ticas, ideológicas, sociais, culturais e, no caso dos textos literários,
terá de existir também um conhecimento das convenções literárias.
2. A ironia tem função pragmática, resulta de um questionar, funciona
quer como antífrase, quer como estratégia avaliadora, que implica
uma dada atitude do codificador do texto, exigindo a interpretação
consequente do descodificador. Ao nível semântico, a ironia tem
origem na sobreposição de contextos que recaem sobre o que é afir‑
mado e o que é intencionado, existindo um significante e dois signi‑
ficados. Desta forma, a ironia não é um jogo sem risco, pois não há
garantias de que o intérprete compreenda o verdadeiro sentido que
spbsX_P1.indb 69 09/12/30 18:20:19
70 Lola Geraldes Xavier
o ironista quis dar ao enunciado. A ironia é uma estratégia discur‑
siva, com valor hermenêutico, implica relações dinâmicas e plurais
e o seu sucesso depende do contexto, da identidade e da posição do
ironista e da sua audiência. Falar de definição de ironia sem gerar
controvérsias parece impossível. O fenómeno revela‑se complexo e
só compactua com a possibilidade de várias definições.
3. A ironia aparece como o único modo de discurso capaz de colo‑
car questões ao receptor através de significações contraditórias. O
“ethos”, no sentido de reacção intencionada e inferida, motivada
pelo texto, dos vários conceitos aparentados, que abordámos, e a
que chamámos de processos «parairónicos», mostram‑no: nem a
condenação que a sátira impõe, nem o divertimento pretendido pelo
risível, nem o “ethos” ofensivo do sarcasmo, substituem o “ethos”
interrogativo da ironia. A ironia é, pois, um jogo conceptual que
convida à reflexão, ao questionamento.
4. É possível, ainda que não de forma dogmática, identificar indícios
de ironia histórica, social, cultural e ideológica e, dentro destas, a
ironia contextual, a ironia lexical e a ironia trágica. Esta tentativa
de classificação é aplicável a qualquer texto literário, sendo que,
dependendo do texto, pode sobressair uma tipologia destas em rela‑
ção às restantes.
5. Os países de Língua Portuguesa têm particularidades a unirem‑nos,
como a língua e contactos históricos e culturais, porém são todos
constituídos por idiossincrasias que não permitem, mesmo dentro
de cada um deles, falar de unidade lusófona, com toda a polémica
que gera este termo.
A partir do momento em que defendemos que não há culturas fe‑
chadas em si mesmas, que não se pode escamotear o papel da glo‑
balização, que o texto literário terá de ser estudado de acordo com
a especificidade do contexto histórico, cultural e social em que é
produzido, concluímos que os pressupostos de uma língua, de uma
cultura e de uma História em comum dos países de língua portugue‑
sa não passam de três falácias da “lusofonia” (cf. Xavier, 2007, pp.
309‑311). Ao desconstruirmos esta homogeneização de uma “luso‑
fonia”, verifica‑se, no entanto, um aspecto que une a ironia destes
vários países: o objectivo universal de reflexão e exposição da tragé‑
dia da existência humana nas suas contradições e desumanizações.
spbsX_P1.indb 70 09/12/30 18:20:19
A ironia 71
6. Mostrando o relevo que a ironia literária desempenha em campos
relacionados com a História, a sociedade, a cultura e a ideologia,
tendo por motivo central o Homem e o trágico da sua condição
imperfeita, parece possível concluir que este tema universal, tratado
de formas diferentes nos vários textos, contribui para o carácter
transnacional das literaturas em questão: portuguesa, brasileira, an‑
golana e moçambicana.
7. Não se pode falar de uma ironia de língua portuguesa, porque a
ironia é transtemporal e transespacial. Pela complexidade das com‑
ponentes geográficas, históricas, ideológicas, sociais e culturais dos
espaços em questão, e por tudo o que acaba de se dizer, não pode‑
mos afirmar que haja uma ironia de Língua Portuguesa. Mas há
uma ironia transnacional, pela subversão que permite, pelos desen‑
cantos e inquietações humanas que expõe, pelo alcance universal.
É, porém, uma ironia que pela peculiaridade dos contextos em con‑
fronto se joga no “entrelugar” do local com o universal. É uma iro‑
nia que anuncia o trágico da condição humana, pelas contradições
das relações. É um trágico resultado de um conflito, que tem por
fundamento último e radical o estabelecimento da ordem positiva
do real. Neste sentido, o trágico deriva de um “não‑estar”, da ten‑
tativa de o Homem se encontrar. É o reconhecimento de que a res‑
posta para a “medida do Homem” lhe é transcendente que acarreta
o trágico.
Assim, o que une as obras analisadas é uma ironia de pendor trági‑
co, que expõe as fragilidades do ser humano, esmagado pelos contex‑
tos históricos, sociais, económicos, culturais e ideológicos. O que une
estas obras é o facto de o Homem se encontrar, nas suas fraquezas,
encontros e desencontros, no centro das preocupações destes escrito‑
res. Assim se compreende como, citando as palavras de António Lobo
Antunes, para termos sucesso na leitura destes romances,
É necessário que a confiança nos valores comuns se dissolva, página
a página, que a nossa enganosa coesão interior vá perdendo gradu‑
almente o sentido que não possui e todavia lhe dávamos, para que
outra ordem nasça desse choque, pode ser que amargo, mas inevitável
(Antunes, 2002, p. 110).
É neste sentido também que vai a afirmação de Mia Couto com que
concluímos aqui: «Como escritor, a Nação que me interessa é a alma
humana» (2005, p. 96).
spbsX_P1.indb 71 09/12/30 18:20:19
72 Lola Geraldes Xavier
Referências bibliográficas
Bibliografia activa
António Lobo Antunes, As naus (edição “ne varietur”), Lisboa: Publicações Dom
Quixote, 2006.
António Lobo Antunes, O manual dos inquisidores (edição “ne varietur”), Lisboa:
Publicações Dom Quixote, 2005.
João Ubaldo Ribeiro, Viva o povo brasileiro, Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1984.
João Ubaldo Ribeiro, O feitiço da Ilha do Pavão, Lisboa: Publicações Dom
Quixote, 1999.
Mia Couto, O último voo do flamingo, Lisboa: Editorial Caminho, 2000.
Mia Couto, Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, Lisboa, Editorial
Caminho, 2002.
Pepetela, O cão e os caluandas, Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985.
Pepetela, A gloriosa família, Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1997.
Bibliografia passiva
Alain Berrendonner, Éléments de pragmatique linguistique, Paris: Minuit, 1981,
pp. 173‑239.
António Lobo Antunes, “Receita para me lerem”, Segundo livro de crónicas,
Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2002, pp. 109‑111.
Catherine Kerbrat‑Orecchioni, “L’ironie comme trope”, Poétique, nº 41, Paris:
Éditions du Seuil, 1980.
Boaventura de Sousa Santos, “Entre Próspero e Caliban: Colonialismo,
pós‑colonialismo e inter‑identidade”, in Maria Irene Ramalho e António
Sousa Ribeiro, Entre ser e estar: raízes, percursos e discursos da identidade,
Porto: Edições Afrontamento, 2002.
D. C. Muecke, The compass of irony, London/New York: Methuen, 1980.
Dan Sperber e Deirdre Wilson, “Les ironies comme mentions”, Poétique, nº 36,
Paris: Éditions du Seuil, 1978, pp. 399‑412.
Dan Sperber e Deirdre Wilson, Relevance: communication and cognition, Oxford:
Basil Blackwell, 1986.
Linda Hutcheon, Irony’s edge, London/New York: Routledge, 1995.
Lola Geraldes Xavier, O Discurso da Ironia, Lisboa: Novo Imbondeiro, 2007
Mia Couto, Pensatempos, Lisboa: Editorial Caminho, 2005.
spbsX_P1.indb 72 09/12/30 18:20:19
A ironia 73
Paul Ricoeur, Do texto à acção — Ensaios de hermenêutica II, Porto: Editora Rés,
s/d.
Paul Ricoeur, Temps et récit, tome I, Paris: Éditions du Seuil, 1983.
Paul Ricoeur, Temps et récit, la configuration du temps dans le récit de fiction,
tome II, Paris: Éditions du Seuil, 1984.
Paul Ricoeur, Temps et récit, le temps raconté, tome III, Paris: Éditions du Seuil,
1985.
Paul Ricoeur, Ideologia e utopia, Lisboa: Edições 70, 1991.
Paul Ricoeur, Teoria da interpretação, Lisboa: Edições 70, 2000.
Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Éditions du Seuil, 2000.
Roger Kreuz e Richard Roberts, “On satire and parody: the importance of being
Ironic”, Metaphor and symbolic activity, Lawrence Erlbaum Associates,
1993, pp. 97‑109.
spbsX_P1.indb 73 09/12/30 18:20:19
spbsX_P1.indb 74 09/12/30 18:20:19
Ressonâncias da literatura brasileira
nas literaturas africanas de língua portuguesa
Elisalva Madruga Dantas
Universidade Federal da Paraíba, Brasil
Data de muito tempo o diálogo poético estabelecido entre as literaturas
africanas de língua portuguesa e a literatura brasileira. No entanto, é
a partir do final da década de 40 do século passado que este diálogo
adquire mais intensidade. E isso se dá, em decorrência, sobretudo, dos
anseios que passam a nortear o fazer dos poetas africanos, os quais, na‑
quele momento, se encontravam empenhados em preencher os vazios
provocados pelo processo de desterritorialização, implementado pelo
sistema colonizador, a partir do que sua língua, suas matrizes míticas,
seus costumes foram rechaçados e substituídos impositivamente pelos
da cultura alheia.
Assim motivados, iniciaram eles um processo de reencontro com
sua terra, com seu povo, enfim com eles próprios, criando, segundo
Manuel Ferreira “sua razão de ser na expressão das raízes profundas
da realidade social nacional entendida dialeticamente”1.
Valorizar, naquele momento, o local, o cotidiano, como o fizeram
os modernistas brasileiros, dentre eles, Manuel Bandeira, foi para os
poetas africanos, uma forma de, através do registro da singularidade,
assinalar no concerto das nações, sobretudo das nações de língua por‑
tuguesa, a sua diversidade. Afinal, valorizar o cotidiano é pressuposto
básico para a existência de qualquer cultura.
Por assim proceder e também por adotar uma linguagem poética
vazada na simplicidade, Manuel Bandeira teve entre os caboverdeanos
uma enorme ressonância. Um exemplo dos poemas realizados em sua
homenagem é “Carta para Manuel Bandeira” de Jorge Barbosa, do
qual extraímos os versos que se seguem, através do que o lírico cabo‑
verdeano extravasa seu sentimento por nosso bardo: “Eu faria por ti
qualquer coisa impossível. / Era capaz de procurar a Estrela da manhã /
por todos os cabarés / por todos os prostíbulos. / E eu ta levaria / ‘pura
ou degradada até à última baixeza’”. Vários outros poemas são cria‑
dos tendo como “leitmotiv” a lírica bandeiriana, seja parafraseando‑a,
parodiando‑a ou mesmo se apropriando de algumas de suas passagens
como no caso do poema acima, em que o último verso citado é uma
spbsX_P1.indb 75 09/12/30 18:20:20
76 Elisalva Madruga Dantas
transcrição “ipsis literis” do penúltimo verso do poema “Estrela da
Manhã” de Manuel Bandeira.
Sob o título “Itinerário de Pasárgada”, o qual por si só já indicia
a filiação do poema à lírica bandeiriana, mais precisamente ao poema
“Vou‑me embora para Pasárgada”, o poeta Oswaldo de Alcântara, em
consonância com as propostas do movimento da Claridade, voltadas
para o cantar da sua terra, da sua gente, marcada pelo sofrimento,
inclusive o de ter que partir em busca da sobrevivência, traz à manei‑
ra do poeta pernambucano um eu lírico também atraído pela utópica
Pasárgada como maneira de escapar da realidade distópica na qual se
encontra: “Saudade fina de Pasárgada... / Em Pasárgada eu saberia /
Onde é que Deus tinha depositado / O meu destino... / E na altura em
que tudo morre... / (cavalinhos de Nosso Senhor correm no céu; / a
vizinha acalenta o sono do filho rezingão; / Tói Mulato foge a bordo
de um vapor; / O comerciante tirou a menina de casa; / Os mocinhos
da minha rua cantam: / Indo eu, indo eu, / A caminho de Viseu...) /
Na hora em que tudo morre, / Esta saudade fina de Pasárgada / É um
veneno gostoso dentro do meu coração”.
Conforme se pode ver, a adoção da paráfrase como processo cons‑
trutor do hipertexto só reitera a identificação estética e ideológica
com o hipotexto, assinalada respectivamente pelo registro do humilde
cotidiano, ou seja, das coisas simples do povo, inclusive das canções
populares, expressas em linguagem simples, e da temática da evasão,
simbolizada pelo desejo de ir a Pasárgada, onde segundo Manuel
Bandeira “podemos viver pelo sonho o que a vida madrasta não nos
quis dar”2.
Decantado pelos integrantes da Claridade, o tema da evasão não
tem lugar entre os participantes do movimento da Certeza, grupo que
sucede aos claridosos, no final dos anos 50, o qual marcado por “uma
consciência mais segura do processo dinâmico social”, traduz a pers‑
pectiva de integração do homem caboverdeano no seu contexto social.
O desejo de partir, a ilusão de encontrar fora a felicidade sonhada dá
lugar à agressiva decisão de ficar, apesar de toda a distopia. Imbuído
desse espírito, o caboverdeano Ovídio Martins, diferentemente do seu
conterrâneo Oswaldo Alcântara, subverte o texto bandeiriano, trazen‑
do um eu lírico frontalmente contrário à idéia de ir para Pasárgada no
poema intitulado “Antievasão”: “Pedirei / Suplicarei / Chorarei // Não
vou para Pasárgada // Atirar‑me‑ei ao chão / E prenderei nas mãos con‑
vulsas / Ervas e pedras de sangue // Não vou para Pasárgada // Gritarei
/ Berrarei / Matarei // Não vou para Pasárgada”.
spbsX_P1.indb 76 09/12/30 18:20:20
Ressonâncias da literatura brasileira 77
Também em Angola, embora não com a mesma intensidade do que
ocorre em Cabo Verde, Bandeira encontra acolhida entre os poetas
locais. Seu nome, juntamente com o de Ribeiro Couto, outro poeta
brasileiro, figura logo no primeiro verso do poema “Exortação” de
Maurício Gomes de Almeida: “Ribeiro Couto e Manuel Bandeira, /
Poetas do Brasil, / Do Brasil, nosso irmão, / Disseram: / ‘– É preciso
criar a poesia brasileira, / de versos quentes, fortes, como o Brasil, /
sem macaquear a literatura lusíada’. / Angola grita pela minha voz, /
Pedindo a seus filhos nova poesia!”
Imbuídos desse propósito de criarem então uma nova poesia, a
exemplo dos nossos modernistas, desceram os poetas africanos às fon‑
tes genuínas, conforme prescrevia o brasileiro Raul Bopp, para busca‑
rem, na tradição ancestral, os mitos, as crenças, as superstições, im‑
prescindíveis a um processo de construção de identidade cultural.
Nessa linha, citem‑se alguns versos do poema “Serão de Menino”
do angolano Viriato da Cruz, em cuja poesia pode‑se perceber traços
de afinidades com o “Mundo do Menino Impossível” do brasileiro
Jorge de Lima, principalmente no tocante ao resgate, valorização e pre‑
servação da memória, uma vez que ambos os poemas trazem à baila
vivências passadas que restabelecem o elo com as matrizes míticas e
culturais. Falam‑nos eles, através de uma linguagem simples, extraída
da boca do povo, de lendas, canções, brincadeiras, crenças, ligadas às
suas tradições, conforme se pode ver nos trechos abaixo, extraídos dos
citados poemas: “Serão de menino”, Viriato da Cruz, − “na noite de
breu, / ao quente da voz / de suas avós, / meninos se encantam / de con‑
tos bantus... / “ Era uma vez uma corça / dona de cabra sem macho... /
(…) / Matreiro, o cágado lento / tuc...tuc...foi entrando / para o conse‑
lho animal... / ( “ – Tão tarde que ele chegou!”) / Abriu a boca e falou
– / deu a sentença final: / “ − Não tenham medo da força! / Se o leão
o alheio tem / − luta ao Mal! Vitória ao Bem! / tire‑se ao leão, dê‑se à
corça” / Mas quando lá fora / o vento irado nas frestas chora / e ramos
xuaxalha de altas mulembas / e portas bambas batem em massembas /
os meninos se apertam de olhos abertos: / − Eué / − É casumbi... / “O
mundo do menino impossível”. Jorge de Lima: (…) / É boquinha da
noite / no mundo que o menino impossível / povoou sozinho! / (…) / E
vem descendo / uma noite encantada / da lâmpada que expira / lenta‑
mente / na parede da sala... / O menino poisa a testa / e sonha dentro da
noite quieta / da lâmpada apagada / com o mundo maravilhoso / que
ele tirou do nada... // Xô! Xô! Pavão! / Sai de cima do telhado / Deixa
o menino dormir / Seu soninho sossegado!”.
spbsX_P1.indb 77 09/12/30 18:20:20
78 Elisalva Madruga Dantas
Desse modo, tanto no plano da expressão como no do conteúdo
os poemas manifestam uma contraposição aos padrões ideo‑estéticos
responsáveis pelo processo de alienação cultural, o que, no poema de
Jorge de Lima, é explicitado pela rejeição do eu lírico a: “os brinque‑
dos perfeitos / que os vovós lhe deram: / o urso de Nürnberg, / o velho
barbado jugoeslavo (sic), / as poupées de Paris aux / cheveux crêpés, /
o carrinho português / feito de folha‑de‑flandres, / a caixa de música
checoslovaca, / o polichinelo italiano / made in England, / o trem de
ferro de U.S.A. / e o macaco brasileiro / de Buenos Aires / moviendo la
cola y la cabeza”.
A essas afinidades ideo‑estéticas que aproximam africanos e bra‑
sileiros, ressalte‑se também a incorporação por parte dos africanos
da “língua sem arcaísmos, sem erudição”, defendida por Oswald de
Andrade em favor daquela simplicidade, da qual também nos fala
Bandeira em “O Último Poema” e com a qual concorda o caboverde‑
ano Jorge Barbosa, quando em seu poema intitulado “Simplicidade”
deixa entrever a mesma preocupação estética, conforme o demonstram
os versos a seguir: “Eu queria ser simples naturalmente / Sem o propó‑
sito de ser simples. / (…) / A minha poesia / Seria sem gramática / Feita
toda de cor / Ao som do violão / Com palavras aprendidas na fala do
povo. / Eu queria ser simples naturalmente / Sem saber que existia a
simplicidade.”
Para além de Manuel Bandeira e Ribeiro Couto, outro brasileiro
com o qual os poetas africanos de língua portuguesa dialogam é João
Cabral, por se identificarem com o projeto ideológico e estético que nor‑
teia a sua poiesis. A título de exemplo cite‑se o poema, intitulado “Toti
Cadabra (Vida e morte severina)”, do caboverdeano Armênio Vieira,
poeta dos anos 60, cujo cujos laços ideológicos com a poesia de João
Cabral ficam explicitados a partir do subtítulo: “‘Toti Cadabra’, nome
exacto para um / ser marginal. / Estes versos são o teu epitáfio; depois
/ deles nunca mais falarão de ti. / No enterro de Toti / nem padre nem
gente / na campa de Toti / nem flor de finado / Na campa‑buraco / teu
corpo mirrado / já eras larva / bem antes da cova / Toti Cadabra / de
vida macabra / já eras cadáver / bem antes da morte / Bem antes da mor‑
te / já eras cadáver / Toti Cadabra / de vida sinistra / O grogue e a fome /
são traças são bichos / já eras larva / bem antes da cova / No enterro de
Toti / nem padre nem gente / na campa de Toti / nem flor de finado”.
Bem menos explicitamente e bem mais implicitamente se pode fa‑
lar de uma aproximação do discurso poético do angolano Ruy Duarte
de Carvalho, poeta contemporâneo, com o de João Cabral de Melo
spbsX_P1.indb 78 09/12/30 18:20:20
Ressonâncias da literatura brasileira 79
Neto. Como bem o ressalta Rita Chaves, na poética desse angolano,
“os procedimentos artísticos caminham, pois, no rumo da condensa‑
ção. Não há espaço para derramamentos ou facilidades verbais: a den‑
sidade, combinada com a contração, gera uma poesia quase mineral,
nascida entre as frestas do terreno, rejeitando qualquer excesso. (…)
Entre o canavial e as cidades percorridas por João Cabral de Mello
Neto e as anharas pastoreadas por Ruy Duarte de Carvalho, ergue‑se
uma ponte, traçada a régua e compasso, pelas linhas da concisão e da
lucidez”3.
Construção engenhosamente planejada, para a qual converge o
esmero do poeta‑arquiteto, atento à colocação da palavra no texto,
ao seu assentamento em relação às demais, ao efeito estético do seu
enquadramento, ao seu funcionamento expressivo, pois, segundo ele,
“Toda a conversa sobre poesia resulta absurda se não se tiver em conta
que o próprio da poesia é a sua energia e que esta resulta da organiza‑
ção particular dada à palavra”4.
A preocupação com a utilização precisa da palavra por parte de Ruy
de Carvalho emerge de versos como os que se seguem, os quais, ense‑
jados pela realidade do mundo pastoril, confirmam de modo inusita‑
do, através das relações estabelecidas entre essa realidade e a realidade
da palavra, o valor a ela atribuído pelo poeta de firmeza, perenidade,
imortalidade quando expressa de maneira adequada: “Não espanta o
gado, a palavra / quando é boa / nem apodrece / quando exposta ao
tempo...” (Nyaneka, p. 32).
A voz de Drummond carregada de sentimento de mundo é outra a
ecoar entre as vozes poéticas africanas, formando com elas um coro,
cuja tonalidade se encontra orientada pelo mesmo diapasão de dor.
Sentimento de mundo que à semelhança do que ocorre na poética drum‑
mondiana, observado por José Guilherme Merquior, também entre os
africanos assinala uma “tomada de consciência do universo histórico
concreto”5 Apropriando‑nos mais uma vez das palavras de Merquior,
podemos ainda dizer que, entre os africanos, “mutatis mutandis”, esse
sentimento de mundo “leva a marca da consciência literária (…), sen‑
sibilizada pelas tensões e conflitos por eles vivenciados, espelhando a
“metamorfose ética e cognitiva”6, por eles operacionalizada.
A título de ilustração, cite‑se o poema “Metamorfose” do moçam‑
bicano Luís Carlos Patraquim. Poema habitado também pela voz po‑
ética drummondiana, como não deixa dúvidas a referência explícita
ao nosso poeta, ao seu sentimento, à sua obra feita logo nos versos
iniciais: “quando o medo puxava lustro à cidade / eu era pequeno / vê
spbsX_P1.indb 79 09/12/30 18:20:20
80 Elisalva Madruga Dantas
lá que nem casaco tinha / nem sentimento do mundo grave / ou lido
Carlos Drummond de Andrade”.
Centrado à maneira drummondiana no tempo presente, nos homens
presentes, na vida presente, o poema em questão, também, estetica‑
mente, guarda semelhanças com os poemas de Drummond, conforme
atestam‑no o coloquialismo, a flexibilidade dos versos, ora curtos, ora
longos, imprimindo ao poema um ritmo prosaico oscilante, marcado
por recuos e avanços, homologando, assim, em termos expressivos a
agitação de que trata o poema, derivada da conscientização, da percep‑
ção das dores e das alegrias, das implosões e das explosões que provo‑
cam a morte e que impulsionam a vida.
Ainda em termos expressivos, ressalte‑se como marco irrefutável
das afinidades aqui apontadas, as equivalências sonora e posicional,
geradas pelo emprego das palavras “grave” e “Andrade” rimando en‑
tre si e apresentando‑se ambas como último dos vocábulos dos versos
nos quais se encontram (penúltimo e último versos do poema). Em
termos estéticos, elas, ao mesmo tempo que reiteram a ressonância de
Drummond na poética de Patraquim, confirmam a importância do po‑
eta brasileiro e do seu sentimento de mundo para a poética africana.
Simples como Bandeira, rigoroso como Cabral, gauche como
Drummond, poeta como ele próprio, Manuel de Barros, lá dos recôn‑
ditos do Mato Grosso, é outra voz presente, nesse diálogo poético, há
tanto tempo iniciado, tendo como um dos seus interlocutores, uma
das vozes mais expressivas da atualidade angolana, o jovem poeta
e escritor Ondjaki, cuja poesia apresenta vários pontos de contatos
com a do matogrossense. Citem‑se, entre outros, o processo adota‑
do de construção, reconstrução e desconstrução poéticas, que nos faz
lembrar o “criançamento” de Manoel de Barros, o qual, segundo ele,
consiste na desarrumação da sintaxe; a maneira de mexer com as pa‑
lavras, ora fragmentando‑as, ora fundindo‑as, buscando com isso uma
maior expressividade e ainda a ilogicidade. Este último traço é também
valorizado por Manoel de Barros, por acreditar que a razão diminui a
poesia. Como exemplo, vejamos o poema “Chão” dedicado ao mato‑
grossense: “palavras para manoel de barros − apetece‑me des‑ser‑me; /
reatribuir‑me a átomo. / cuspir castanhos grãos / mas gargantadentro; /
isto seja: engolir‑me para mim / poucochinho a cada vez. / um por mais
um: areios. / assim esculpir‑me a barro / e re‑ser chão. muito chão. /
apetece‑me chãonhe‑ser‑me.”
Além dessas marcas apontadas como confirmadoras do diálogo po‑
ético do citado angolano com o brasileiro, na obra Há prendisajens
spbsX_P1.indb 80 09/12/30 18:20:20
Ressonâncias da literatura brasileira 81
com o xão. (O segredo húmido da lesma & outras descoisas) de onde
extraímos o referido poema, Ondjaki registra explicitamente essa apro‑
ximação em mais de uma ocasião. Afora a dedicatória, o faz também
nos agradecimentos expressos nas páginas iniciais, assim dizendo:
“manoel de barros – distante, me ensinou a tanta importância do chão:
que deve ser promovido a almofada, mas ele sobre nós”7 e, nas páginas
finais, em que, entre outras afirmações referentes a Manoel de Barros,
assinala: “ainda que manoel de barros não se revisse no papel de padri‑
nho (como lhe chamei) do há prendisajens, em mim essa idéia se havia
já fixado. Os poemas tinham aparecido entre brumas da linguagem de
manoel – entre bichos, entre ambiências minúsculas. Deixava‑me des‑
cansado ter‑lhe falado sobre isso. Ao telefone, mais tarde, cedi à tenta‑
ção de lhe pedir uma qualquer espécie de nota de abertura. Ele sorriu:
‘você me desculpe, mas eu não sou crítico literário...’; e chamou‑me
“camarada angolano”8.
Referências bibliográficas
José Guilherme Merquior, Verso Universo em Drummond, Rio de Janeiro: José
Olympio, Secretaria de Estado de Cultura, Ciência e Tecnologia, 1975.
Manuel Bandeira, Itinerário de Pasárgada, 3ª ed., Rio de janeiro: Editora do Autor,
1966.
Manuel Ferreira, O discurso no percurso africano I, Lisboa: Plátano Editora, s/d.
Michel Laban, Angola. Encontro com Escritores, Porto: Fundação eng. António
de Almeida, s/d, II vol.
Ondjaki, Há prendisagjens com o xão (o segredo húmido da lesma & outras
descoisas), Lisboa: Editorial Caminho, 2002.
Rita Rita, “Ruy Duarte de Carvalho: A Educação pela Terra”, in Anais do I
encontro de Professores de Literaturas Africanas de Língua Portguesa,
Niterói: Imprensa Universitária da UFF, 1995.
Notas
1. Ferreira, s/d, p. 33.
2. Bandeira, 1966, p. 98.
3. Chaves, 1995, p. 200.
4. Laban, s/d, p.705.
spbsX_P1.indb 81 09/12/30 18:20:20
82 Elisalva Madruga Dantas
5. Merquior, 1975, p. 41.
6. Merquior, 1975, p. 41.
7. Ondjaki, 2002, p. 9.
8. Ondjaki, 2002, p. 9.
spbsX_P1.indb 82 09/12/30 18:20:20
Voz autoral e reescrita da história:
as guerras de independências (1961‑1974)
nas literaturas angolana, moçambicana e portuguesa
Bárbara dos Santos
Universidade de Rennes 2, França
A literatura portuguesa possui um vasto número de obras sobre o tema
da guerra colonial que foram escritas depois desse acontecimento his‑
tórico. Essa produção, que engloba textos de qualidade diversa, surgiu
como a manifestação de uma profunda consciencialização dos danos
da história. No caso da produção literária realizada nos países africa‑
nos de língua portuguesa, é possível constatar a importância diminuta
e o número ínfimo das obras que focam este tema escritas depois das
lutas. De facto, é difícil saber se isso é devido à condição dos escritores
durante a guerra (muitos estavam exilados), à successão das guerras
civis que seguiram a independência, ou aos problemas que continuam
a enfrentar esses escritores para publicar. Talvez todos estes factores
tenham contribuído, bem como o facto de as literaturas africanas de
língua portuguesa não terem sido criadas a partir das mesmas necessi‑
dades que as literaturas ocidentais.
O autor africano parece assumir uma função que se acrescenta à do
artista criador. Apreendido como um intelectual empenhado, subsiste
a ideia de que o escritor africano deve ser testemunha da história do
seu povo e que deve preservar, através da expressão da sua realidade,
a preocupação constante de exprimir e educar a colectividade1. No seu
estudo intitulado Littérature et Développement2, Bernard Mouralis
sublinha a importância do trabalho do escritor na análise da litera‑
tura negro‑africana. O autor africano parece assumir três principais
funções: o seu empenho político, a sua consciência cultural e a sua
consciência literária. Estas funções, que surgem de forma recorrente na
análise literária dos textos africanos, podem, a nosso ver, ser conside‑
radas como poéticas, em relação directa com a perspectiva de estudo
ligada à temática do autor. O escritor posiciona‑se a partir de critérios
ideológicos que o levam a apresentar o seu ponto de vista, tendo em
conta as diversas estratégias na cena enunciativa.
Esta perspectiva suscitou particularmente a nossa atenção na medi‑
da em que os escritores angolanos e moçambicanos também participam
spbsX_P1.indb 83 09/12/30 18:20:21
84 Bárbara dos Santos
de uma consciência colectiva e cultural afirmada, cujo empenho sig‑
nificativo se reflete directamente dentro do texto. A questão autoral
manifesta‑se de forma entrecruzada à da escrita da história, indicando
ao leitor a singularidade da obra literária e a posição do autor dentro
da análise da história. Como o sublinhou Angela Guimarães, as lutas
de libertação aparecem como “o acto cultural por excelência”3. A rees‑
crita da história, a nosso ver, apresenta‑se como uma escrita que revi‑
sita, de forma crítica, o passado, com base no momento presente. Por
isso, questionar‑se sobre a relação que estas literaturas mantêm com
a história passa obrigatoriamente por questões de ordem identitárias,
culturais e sociais.
Maurice Couturier mostrou no seu estudo La figure de l’auteur4
que a análise da questão autoral evidencia estratégias metatextuais que
reenviam para a necessidade de o autor moderno impor a autoridade
figural no seu texto, independentemente das aparências de desprendi‑
mento que esta figura possa adoptar. Essa perspectiva crítica permi‑
tiu‑nos verificar que o “sujet‑origine” 5 se torna, então, numa fonte
problemática cujo objectivo é sublinhar a multiplicidade de enunciados
possíveis e a consequente heterogeneidade do seu saber. Apesar de a
análise de Maurice Couturier se encontrar significativamente marcada
pela influência da teoria de Barthes (reconhecida pelo próprio autor),
La figure de l’auteur, surge, a nosso ver, como uma obra importante
sobre a problemática do autor. De facto, o autor é doravante apreen‑
dido como uma figura autoral que assume uma efectiva “função” na
narrativa. A compreensão dessa “função” parece‑nos fundamental na
compreensão das literaturas angolana e moçambicana.
Mikail Bakthin, por sua vez, já tinha levantado a questão da voz
autoral a partir das suas funções estéticas e formais, geradoras da obra.
Ao efectuar a distinção entre “autor‑pessoa”6 (o artista, o escritor) e
“o autor‑criador” (que é para esse crítico um elemento da obra), é a
particularidade da questão autoral na obra que é posta em relevo, su‑
blinhando a importância do autor‑criador. Este elemento constitutivo
da obra não pode, nem deve, ser associado à pessoa do escritor, mas
sim à do agente da unidade artística. Bakthine mostra, portanto, que a
questão do autor deve ser analisada a um nível superior de leitura, pos‑
to que este não é mais do que «a consciência de uma consciência, isto
é, a consciência que abrange a consciência e o mundo da personagem,
que abrange e conclui essa consciência da personagem com elementos
por princípio transgredientes a ela mesma e que, sendo imanentes, a
tornariam falsa”7.
spbsX_P1.indb 84 09/12/30 18:20:21
Voz autoral e reescrita da história 85
A teoria de Bakthin parece particularmente interessante na medida
em que a questão do autor se afigura, deste ponto de vista, como uma
perspectiva fundamental na análise da história em literatura. De facto,
a implicação que tiveram os autores africanos de língua portuguesa
no combate e a “responsabilidade” que assumem nas suas obras são
elementos que se encontram nos interstícios da mensagem poética. Por
outro lado, a escrita da história surge como um processo no qual a
implicação da voz do autor, enquanto testemunha e crítico, se situa no
centro da própria elaboração desta mesma escrita, pela sua percepção
do mundo e pela impossibilidade de a dissociar do acto artístico. O
autor que, segundo Bakthin, se coloca como uma segunda voz na obra,
surge, assim, como uma “pura relação” estabelecendo os seus próprios
vínculos com a realidade artística representada.
O facto de penetrar nas obras a partir da questão da voz autoral,
essa segunda voz, pura relação, orienta o leitor para os principais pro‑
cessos utilizados no seu trabalho de reescrita da história e de elabora‑
ção artística. O autor, artista e testemunha, empenha‑se e age sobre o
mundo veiculando, através da linguagem, uma diversidade de valores e
o seu modo de ver e pensar a história. O carácter complexo, até muitas
vezes subversivo, das literaturas africanas é, em primeiro lugar, a mani‑
festação de uma profunda reflexão sobre o carácter cultural e histórico
destas sociedades. Essa voz, mestre da sua obra, divulga a progressão
do artista e da testemunha empenhados na realidade subjectiva, social
e histórica.
Reflectir sobre as lutas de libertação nas literaturas africanas impõe
obrigatoriamente uma reflexão sobre a história desse povo e, conse‑
quentemente também, sobre o colonialismo e as problemáticas identi‑
tárias que delas decorreram. Como sustenta João de Melo a propósito
da guerra colonial nas literaturas de língua portuguesa, o colonialis‑
mo tem que ser considerado como “um acto prolongado da guerra
colonial”8, visto que se trata de uma guerra que é, na realidade, a con‑
sequência de um combate que durou vários séculos.
Assim, é importante apontar para o facto de que se as lutas de li‑
bertação conduziram a uma reflexão sobre a organização do combate
e sobre os diferentes parâmetros que este suscitou, esse acontecimento
simbólico reenvia também para uma reflexão sobre a liberdade dos
povos colonizados, para interrogações sobre a noção de identidade na‑
cional, sobre o passado e o futuro destas nações. A análise das lutas
de libertação leva a uma reflexão sobre o “renascimento” desses povos
oprimidos e sobre as suas bases.
spbsX_P1.indb 85 09/12/30 18:20:21
86 Bárbara dos Santos
Acrescentaremos, para sermos sintéticos, que o tema das lutas de
libertação enquanto processo cenográfico da obra literária, revela as
difíceis condições da guerra assim como o sofrimento humano que elas
provocaram. Mas é importante notar a constante e quase principal pre‑
ocupação que se encontra nestas obras de reconsiderar a própria noção
do ponto de vista da história e de divulgar uma reavaliação crítica da
história da guerra nos respectivos países. Mais do que a descrição das
estratégias de combate ou do que a escrita da violência da guerra em
si, estas obras parecem ser orientadas numa profunda reflexão ideoló‑
gica sobre o valor e o sentido da história. Uma forte consciencialização
das diferentes relações ideológicas e culturais é‑nos veiculada nesses
romances que procuram orientar o debate, manifestando assim um de‑
sejo de abertura para o mundo. As posições dos autores revelam‑se a
partir dos diferentes pontos narratológicos dos textos, tal como evi‑
dencia a relação que entretêm com o narrador, participando por vezes
de forma visível na diegese. Mas a sua posição não aparece só nesta
relação. Também se constata um trabalho cenográfico agudo tanto na
representação do espaço humano como na constante interacção entre
o tempo e o indivíduo. As personagens e os discursos visíveis nestas
obras assumem‑se como representativos da época e do espaço.
As obras que tratam desse tema não são de uma leitura fácil, na
medida em que os diferentes autores utilizam estratégias intra e ex‑
tra‑textuais: jogos de desconstruções, paródia, ironia, assim como um
trabalho bem definido sobre as diferentes formas de representações
emergem de forma recorrente nessas literaturas. Todos os meios são
utilizados para evidenciar a realidade do combate, com o objectivo de
redefinir uma nação que simbolicamente também se liberta pelo desen‑
volvimento da sua própria literatura. Essas obras estão também ligadas
a um regresso às tradições, de modo a mostrar as interacções entre o
passado e o presente, afirmando, assim, um combate para um novo
“nós”, condição essencial para a construção da nação.
Referências bibliográficas
Ângela Guimarães, «Mayombe : do passado ao futuro», in Les littératures africaines
de langue portugaise à la recherche de l’identité individuelle et nationale :
Actes du Colloque International, Paris, 28‑29‑30 novembre, 1 décembre,
Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, 1985, pp.
65‑70.
spbsX_P1.indb 86 09/12/30 18:20:21
Voz autoral e reescrita da história 87
Bernard Mouralis, Littérature et développement : essai sur le statut, la fonction
et la représentation de la littérature négro‑africaine d’expression française,
Paris: Silex Edition, 1984.
João de Melo, Os anos da guerra 1961‑1975: Os portugueses em África, vol. 1,
Lisboa: Dom Quixote, 1988.
Käte Hamburger, Logique des genres littéraires, Paris: Editions du Seuil, 1986.
Lilyan Kesteloot, Les écrivains noirs de langue française, Bruxelas: Universidade
Livre de Bruxelas, 1977.
Maurice Couturier, La figure de l’auteur, Paris : Editions du Seuil, 1995.
Mikhail Bakhtin, Estética da criação verbal, São Paulo: Martins Fontes, 2003.
Notas
1. Lilyan Kesteloot, Les écrivains noirs de langue française, Bruxelles: Univ .
Livre de Bruxelles, p. 295.
2. Bernard Moralis, Littérature et développement : essai sur le statut,
la fonction et la représentation de la littérature négro‑africaine
d’expression française, Paris: Silex Edition, 1984.
3. Guimarães, pp. 65‑70.
4. Couturier, p. 73.
5. Hamburguer, p. 14.
6. Bakhtin, p. 9.
7. Bakhtin, p. 11.
8. Melo, p. 14.
spbsX_P1.indb 87 09/12/30 18:20:21
spbsX_P1.indb 88 09/12/30 18:20:21
A ficção como gesto solidário
Vima Lia Martin
Universidade de São Paulo, Brasil
Pois é bem esta a finalidade última da arte:
recuperar este mundo, mostrando‑o tal como ele é, mas como se tivesse
origem na liberdade humana.
Jean‑Paul Sartre
A prosa literária produzida pelo brasileiro João Antônio (1937‑1996) e
pelo angolano Luandino Vieira (1935‑ ) apresenta, como um dos prin‑
cipais eixos estruturantes, a ficcionalização da tensão entre norma e
conduta, bastante aguda em países de extração colonial. Ao recriarem
a atmosfera social de seus países em meados do século passado a partir
da elaboração de personagens marginalizadas que buscam se equilibrar
entre os pólos da ordem e da desordem, os dois autores fixam um dos
grandes impasses que caracterizam a formação das sociedades brasilei‑
ra e angolana, ambas organizadas a partir de um código moral inau‑
têntico: o descompasso entre a norma institucionalizada e a conduta do
corpo social que, de algum modo, vivencia‑a como ilegítima.
Se consideramos a obra Malagueta, Perus e Bacanaço (1963), com‑
posta por nove contos, e a obra Luuanda (1964), composta por três
contos, como representativas dos projetos literários levados a cabo
respectivamente por João Antônio e por Luandino Vieira, podemos
depreender do conjunto de suas narrativas um modo de compreender
e representar a realidade característico de cada escritor. E essa maneira
particularizada de conceber literariamente o mundo diz muito das in‑
quietações e das aspirações de ambos.
Perseguindo os escombros de um Brasil marcado pela moderniza‑
ção conservadora, os contos de Malagueta, Perus e Bacanaço revelam
o cotidiano tedioso e desencantado de homens politicamente alienados.
Para os melancólicos protagonistas das narrativas de João Antônio,
não há espaço para o sonho ou a para a esperança. Nesse contexto, o
que poderíamos chamar de “ética da malandragem” ganha espaço ao
longo das narrativas, surgindo como resultado da fragmentação de um
código moral, pautado sobretudo na ética do trabalho, que se encontra
spbsX_P1.indb 89 09/12/30 18:20:21
90 Vima Lia Martin
em profunda crise. Daí que o passado seja rememorado de maneira
nostálgica pelos protagonistas das histórias e suas experiências acumu‑
ladas sejam percebidas como estéreis, incapazes de mobilizar o presen‑
te ou de gerar aspirações de um futuro qualitativamente diferente.
Em contrapartida, a aprendizagem subjacente às experiências vivi‑
das pelos protagonistas das estórias que compõem Luuanda move‑os
em direção a um futuro mais desejável, impulsionado pelo desejo de
emancipação e de reconstrução de Angola durante o período revolucio‑
nário que antecedeu a independência do país. Principalmente nas duas
últimas estórias do livro, as experiências passadas são atualizadas sob
um viés crítico, como herança que, ressignificada, poderia favorecer a
luta contra o colonialismo e a consolidação de uma nova sociedade.
Em termos da elaboração discursiva, cumpre ressaltar a forte pre‑
sença da ironia nos textos engendrados pelos dois autores. Demolidora
da ordem, a ironia é um procedimento que permite o desmascaramento
do desajuste vivido pelas personagens que se encontram apartadas da
norma e promove uma reversão das figuras de autoridade, contribuin‑
do para a prevalência dos tons melancólico e utópico que orientam o
conjunto das narrativas de cada livro.
Em Malagueta, Perus e Bacanaço, o discurso irônico aponta para a
tragicidade do confronto existente entre a subjetividade dos “otários” e
o mundo burguês e entre a atividade dos malandros e o submundo por
onde eles se movem. Combinando‑se quase sempre com a amargura,
a ironia assume um tom dramático e acentua a melancolia decorrente
das solitárias deambulações dos protagonistas.
Em Luuanda, a ironia associa‑se ao humor, fazendo com que, mesmo
nas situações mais difíceis, personagens e leitores possam rir da realida‑
de. Porta‑voz do impasse, a ironia dessacraliza as normas impostas pelo
colonialismo e funciona como arma para que os protagonistas – aos
quais o humor confere superioridade moral sobre os opressores − resis‑
tam à violência institucionalizada e combatam os desmandos do poder.
A recriação do discurso dos excluídos, realizada através do amálga‑
ma entre a linguagem normativa e a linguagem oral, é marca constitu‑
tiva das obras de João Antônio e de Luandino Vieira. Em seus textos,
a mobilidade do ponto de vista do narrador, que adere à perspectiva
dos protagonistas e cede espaço para a expressão de suas vozes, favo‑
rece a apreensão da complexidade de sua dimensão humana. Trata‑se,
com efeito, de uma aproximação entre o universo da cultura erudita
e o universo da cultura popular que, fundidos num estilo espontâneo,
desvendam a realidade dos marginalizados.
spbsX_P1.indb 90 09/12/30 18:20:21
A ficção como gesto solidário 91
Do ponto de vista lingüístico, os recursos expressivos utilizados
pelos escritores são basicamente os mesmos. Ambos se valem das re‑
petições, das elipses, das assonâncias, das aliterações, das rimas, das
enumerações, dos diminutivos e dos provérbios para estilizar a visão
de mundo tanto dos habitantes da periferia paulistana como dos ha‑
bitantes dos musseques luandenses. No caso de Malagueta, Perus e
Bacanaço, verifica‑se, ainda, a contundente absorção da gíria como
diferencial da fala marginal e, no caso de Luuanda, a fundamental in‑
corporação do léxico e da sintaxe do quimbundo que singulariza a
linguagem praticada pelos mussequeiros de Luanda.
É essencial destacar que, ao lado da mescla lingüística elaborada
por Luandino Vieira, também o seu trabalho de apropriação de pro‑
cedimentos típicos de narrativas orais africanas, como as “makas”
e os “missossos”, é responsável, no nível da estruturação formal de
Luuanda, pela superação do impasse gerado pela condição colonial. O
modo como o autor mistura o português e o quimbundo, criando uma
expressão que incorpora a dicção e o imaginário popular, e o modo
como ele introduz paulatinamente a voz do narrador/“griot” (lembre‑
mos que são ritualizados o final da segunda estória e o início e o final
da terceira), a marcar o caráter de exemplaridade da duas últimas nar‑
rativas e a exigir um posicionamento ético dos leitores, estabelece, em
termos discursivos, a possibilidade de ultrapassar as cisões provocadas
pela situação de dominação portuguesa.
Nas duas obras, a negação da tradição lingüística − entendida como
a utilização de um vocabulário erudito e de uma sintaxe normativa −
afirma‑se simultaneamente como um ato de contestação da norma im‑
posta, cuja aplicação tem sido historicamente intolerante e repressiva, e
como uma estratégia de inclusão do “outro” através da linguagem.
Ao promoverem, através de escolhas temáticas e formais, o ques‑
tionamento dos valores que sustentam a tensão entre norma e con‑
duta em contextos sociais autoritários e segregadores, João Antônio
e Luandino Vieira fazem da resistência um processo inerente à escrita
literária. Nesse sentido, suas narrativas, que traduzem os anseios e as
aflições daqueles que ocupam um lugar socialmente à margem, cons‑
tituem‑se como gestos solidários, capazes de dar visibilidade e voz aos
excluídos e conscientizar o leitor sobre o valor essencial do exercício
da cidadania.
“Evocar” significa tornar algo presente pelo exercício da memória
e/ou da imaginação. Nesse sentido, o fato de os dois autores empreen‑
derem uma contundente “evocação da marginalidade” em suas obras
spbsX_P1.indb 91 09/12/30 18:20:21
92 Vima Lia Martin
revela que eles assumem com convicção o papel do escritor como cons‑
ciência crítica da sociedade. Assim, o sentido de resistência e a amplitu‑
de simbólica de textos ficcionais que, a partir das margens, estabelecem
uma crítica profunda da organização social brasileira e angolana, dei‑
xam entrever um mesmo compromisso ético com os excluídos.
Referências bibliográficas
João Antônio, Malagueta, Perus e Bacanaço, São Paulo: CosacNaify, 2004.
José Luandino Vieira, Luuanda, São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
Bernard Mouralis, Littérature et développement : essai sur le statut, la fonction
et la représentation de la littérature négro‑africaine d’expression française,
Paris: Silex Edition, 1984.
João de Melo, Os anos da guerra 1961‑1975: Os portugueses em África, vol. 1,
Lisboa: Dom Quixote, 1988.
Käte Hamburger, Logique des genres littéraires, Paris: Editions du Seuil, 1986.
Lilyan Kesteloot, Les écrivains noirs de langue française, Bruxelas: Universidade
Livre de Bruxelas, 1977.
Maurice Couturier, La figure de l’auteur, Paris : Editions du Seuil, 1995.
Mikhail Bakhtin, Estética da criação verbal, São Paulo: Martins Fontes, 2003.
Notas
1. Lilyan Kesteloot, Les écrivains noirs de langue française, Bruxelles: Univ .
Livre de Bruxelles, p. 295.
2. Bernard Moralis, Littérature et développement : essai sur le statut, la fonction
et la représentation de la littérature négro‑africaine d’expression française,
Paris: Silex Edition, 1984.
3. Guimarães, pp. 65‑70.
4. Couturier, p. 73.
5. Hamburguer, p. 14.
6. Bakhtin, p. 9.
7. Bakhtin, p. 11.
8. Melo, p. 14.
spbsX_P1.indb 92 09/12/30 18:20:22
A função estética e social do espaço
nas literaturas cabo‑verdiana
e nordestina brasileira
Carlos da Silva
Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí, Brasil
As literaturas nascidas ou formadas sob o signo da colonização − qual‑
quer que seja a dominante ideológica que as orienta – mantêm com o
espaço uma significativa relação de dependência como forma de apre‑
sentação estética.
Antes de tudo, a questão se apresenta como condicionante para o
desenvolvimento de uma literatura identificada com alguns aspectos
tipicamente locais e mesmo regionais, nem sempre exclusivas, mas for‑
temente marcadas por este condicionalismo. Isto significa estabelecer
relações entre a produção literária e o contexto de onde emerge a litera‑
tura, considerando, nessa instância, de que forma o espaço se apresenta
na constituição das estruturas narrativas construídas na perspectiva da
dimensão social.
Para uma definição de espaço que permita estudá‑la enquanto ins‑
tância de inter‑relação entre sujeito e objetos do mundo físico, necessá‑
rio se faz estabelecer não só uma possível definição, mas de que espaço
se fala, quando estão em discussão as literaturas africanas de língua
portuguesa em sua representação estética.
A primeira reflexão sobre a questão do espaço na formação ou na re‑
presentação dessas literaturas deve considerar um aspecto de suma im‑
portância, qual seja, a presença da colonização portuguesa em Angola,
Cabo Verde, Guiné‑Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe até a
segunda metade do século XX. A permanência do aparato colonial
português nas ex‑colônias não pode ser desconsiderada, quando se ob‑
serva que esta presença demorada pode ter compelido a produção lite‑
rária ou cultural dos intelectuais do espaço colonizado a buscarem, na
diferença cultural, uma forma específica de representação literária.
Para melhor situar esta proposta, a de aproximar a literatura ca‑
bo‑verdiana e a literatura nordestina brasileira, será importante con‑
siderar o espaço não apenas enquanto porção física de interesse ge‑
ográfico, como o poderia definir a Geografia tradicional, mas numa
concepção em que “o espaço deva ser considerado como um conjunto
spbsX_P1.indb 93 09/12/30 18:20:22
94 Carlos da Silva
indissociável do qual participam, de um lado, certo arranjo de objetos
geográficos, objetos naturais e objetos sociais e, de outro lado, a vida
que os anima ou aquilo que lhes dá vida” (Santos, 1988, p.9).
Na inter‑relação entre o espaço e o sujeito, ou os grupos sociais or‑
denados em determinada estrutura, a antiga concepção de espaço deve
ceder lugar a uma nova perspectiva de relação, propiciando a abertura
para o que se poderia denominar “dialética do espaço”, onde a aproxi‑
mação entre sujeito e instância espacial provoca alterações substanciais
no comportamento humano que, por sua vez, também altera a consti‑
tuição original do espaço.
No sentido em que se pretende redimensionar a concepção espacial,
e nela tentar compreender os meios de produção humana, inclusive a
literatura, é pertinente considerar que as literaturas africanas em língua
portuguesa sofreram transformações significativas em sua forma de se
apresentar, ou seja, o objeto estético, o texto construído não se ausenta
da contaminação do contato com o aparato colonial em sua real dimen‑
são. Isso significa entender que o texto nascido nas condições geradas
pela dominação colonial é uma produção com características diferen‑
ciadas.
A chamada literatura colonial1 não pode pressupor o rompimento
de um sistema pragmático‑ideológico que a sustenta e lhe dá validade,
porque não permite à dominante desse sistema descaracterizar ou invali‑
dar‑se a si mesma. A noção de dominante está em íntima conjunção com
as reais condições de produção que afetam tanto os intelectuais envolvi‑
dos no processo de criação, quanto à realidade concreta que os envolve
– a economia, a segmentação da sociedade, as aspirações de fundo socio‑
político, etc. A isso, junta‑se o aspecto estritamente ideológico que deve
direcionar todo o processo de colonização: o domínio das mentalidades
e das vontades individuais, ou coletivas, não se manifesta de forma iso‑
lada ou surge “ex abrupto”, mas está associado, como determinante, ao
domínio do espaço ocupado pelos atores envolvidos nele.
Esta relação estreita entre atores e o espaço, na existência do co‑
lonialismo, provoca o surgimento não de um texto padronizado, mas
de uma forma específica de estrutura textual onde são reconhecidas as
marcas da colonização e do colonizado. E a presença ou a permanência
de dominadores e dominados em um mesmo espaço pode ser entendido
como fator de desequilíbrio entre uma e outra forma de ver o fato colo‑
nial, e este, por si só, já admite o fechamento das relações interpessoais,
estendendo‑se esta restrição à produção literária e a outras atividades
intelectuais.
spbsX_P1.indb 94 09/12/30 18:20:22
A função estética e social do espaço 95
As condições sociais e políticas das ex‑colônias africanas de língua
portuguesa produzem, até 1975, um contexto espacial de pouca aber‑
tura para a superação de um “modus operandi” que pudesse estabele‑
cer o distanciamento entre colono e colonizador, necessário à concep‑
ção de uma imagem diferenciada do Outro. Nesse aspecto, em ambos
os casos, não é possível deixar de notar a contaminação que exercem
entre si os elementos que coabitam o mesmo espaço.
Ao mesmo tempo em que essa contaminação exerce num e noutro
seu poder de influência, estabelecendo, às vezes, normas próprias de
conduta, pode também instituir processos de resistência ao nivelamen‑
to de atitudes padronizadas, propiciando o que se poderia denomi‑
nar “fortalecimento das identidades locais ou regionais”2 , exatamente
porque o contexto colonial não se movimenta em uma direção única,
embora a presença da dominante colonial possa manter certo controle
das identidades locais.
No sentido em que a questão do espaço vem sendo colocada, na
perspectiva da colonização portuguesa, a literatura africana se apresen‑
ta diferenciada, em cada uma das ex‑colônias, segundo as especificida‑
des próprias da relação entre elementos componentes de uma estrutura
mais ampla, onde entra em jogo o espaço construído e as relações hu‑
manas – aí incluídos os produtos estéticos e ideológicos.
Para o propósito desta análise, deve‑se destacar que os espaços onde
são produzidas as literaturas cabo‑verdiana e nordestina brasileira re‑
velam‑se plenos de variados sentidos, porque formados numa especi‑
ficidade estética e social, característica que tem os espaços definidos
pelas condições naturais e políticas desfavoráveis. Embora a literatura
nordestina não tenha sido produzida sob o peso da colonização, do
mando político‑ideológico restritivo das liberdades de expressão, tam‑
bém ela sofre as conseqüências que a presença do espaço exerce sob os
modos de produção, especificamente a de base literária. Quer dizer, se
para as nações africanas a presença do colonialismo retardou certa pos‑
tura literária, a literatura nordestina, ainda que nascida no espaço livre
da presença colonial, não deixou de sofrer, também ela, as imposições
do meio, determinantes espaciais que direcionaram o texto nordestino
a reproduzir situações de análise crítica da realidade nacional.
A literatura brasileira modernista que melhor sintetiza uma leitura
atenta do país está concentrada na vertente social, no direcionamento
oferecido pelos escritores nordestinos como José Lins do Rego, Raquel
de Queirós e Graciliano Ramos. Em todos, a presença do espaço serve,
de uma forma ou de outra, como um componente da tessitura do texto,
spbsX_P1.indb 95 09/12/30 18:20:22
96 Carlos da Silva
mostrando que, em determinado momento da vida brasileira, a litera‑
tura serve‑se da realidade nacional – de uma determinada faixa dessa
realidade – para oferecer uma visão crítica do país. E nesse sentido, a
contribuição da ficção nordestina pode ser vista como a síntese de es‑
truturas políticas mal organizadas da vida brasileira, ou se se quiser, da
disparidade constante entre o crescimento socioeconômico e cultural
do Sul e do Nordeste.
A situação geral da literatura brasileira, entre os anos 30 e 40 do
século passado – após a experiência da Semana de Arte Moderna e suas
conseqüências para o entendimento da cultura nacional – confere ao
Nordeste o estatuto de matriz da olhada crítica da realidade brasileira,
quando as atenções dos escritores nordestinos retornam às estruturas
de composição postas em prática pelo regionalismo‑naturalista, inten‑
sificado agora com as condições impostas pela questão social.
Uma rápida passada pelos romances de Graciliano Ramos, de
Caetés (1933) a Vidas Secas (1938) confirma uma tendência ou a forte
presença do espaço na construção do enredo. Em Caetés, romance de
estréia de Graciliano Ramos, a realidade regionalista é apresentada sob
os signos da solidão e do isolamento (Castro, 1976, p.146) como con‑
seqüência do relacionamento entre estruturas sociais ainda não bem
assimiladas, é o que concorre para mostrar o romance como uma nar‑
rativa frouxa e mal acabada (Coutinho, 2000, p. 173). No entanto,
essa mesma fragilidade do texto é, possivelmente, a correlação mais
acertada entre as personagens do romance e o cotidiano, enquanto es‑
paço construído da narrativa:
Em Caetés, o ritmo das atitudes reiteradas ganha importância funda‑
mental. A ritualização extremada do cotidiano, como o ato de tomar
café, as festas religiosas [o presépio, a procissão], almoços e jantares, as
conversas sobre fatos políticos, compõem o universo estático de Palmeira
dos Índios que Graciliano quis reproduzir (Silva, 1991, p. 41).
É a presença do espaço configurado no texto como cotidiano de
província o elemento que concede ao romance o material básico do
conflito necessário à concepção romanesca, não o conflito de um herói
isolado, problematizado com o meio do qual provém, não no sentido
que Lukács lhe confere, mas problemática é toda a coletividade onde
está situado João Valério.
O afastamento das personagens de Caetés da discussão de um pro‑
blema central, de uma tese única que possa conduzir o texto para o
caminho do “inconformismo” ou da inquietação “demoníaca” como
spbsX_P1.indb 96 09/12/30 18:20:22
A função estética e social do espaço 97
afirma Coutinho (2000, p. 166), é que o romance, escrito entre 1925 e
1928, não consegue superar a relação imediata entre texto e contexto.
Em Caetés, portanto, a constante necessidade, movendo as ações do
romance, revela a preocupação em mostrar o íntimo dos personagens
na sua carência. No enredo que subsiste por baixo do enredo principal,
o narrador combina os elementos tirados do repertório naturalista a
uma conduta próxima da insatisfação existencial (Silva, 1991, p. 50).
No tímido regionalismo apresentado no romance as insatisfações
manifestadas pelas personagens − a histeria de Clementina, os arrou‑
bos esquizofrênicos e o casamento que não se realiza; a dependência
sexual de D. Maria José; as doenças do sapateiro que inspiram piedade
a Luísa; a recusa de Padre Atanásio a dobrar os sinos pela morte de
Adrião, e a acumulação irresponsável do capital por D. Engrácia –
apontam para uma atenção centrada na sociedade nordestina, sintoma
de um Nordeste em crise, como de resto, “a crise do conjunto do país”
(Coutinho, 2000, p.160).
Como aprofundamento de algumas indicações anunciadas em
Caetés, em São Bernardo (1934) o espaço que se apresenta vem trans‑
formado ou contagiado pela Revolução de 1930: a fragilidade da socie‑
dade urbana estagnada, mostrada em aparente solidez estrutural.
Na economia do texto, e como síntese das relações interpessoais, a
permanente busca da ascensão social em Paulo Honório, a qualquer
preço, conjuga o narcisismo latente às imposições do espaço de onde
provém a personagem, resultando numa personalidade deformada,
desajustado no universo da comunicação com outras personagens do
romance, particularmente Madalena.
A dimensão humana presente em São Bernardo oscila entre o des‑
cobrimento do núcleo familiar de Paulo Honório e as fraturas do seu
relacionamento com Madalena, ambos criados sob o peso de espaços
antagônicos – a cidade e o campo, o urbano e o agreste. É ainda na es‑
fera das relações familiares, ou não, que o processo de fixação de Paulo
Honório num espaço construído aos poucos pela busca do lucro, que a
reificação da personagem culmina com o suicídio de Madalena.
A derrota final das personagens em São Bernardo – descontada a
dose excessiva do egoísmo de Paulo Honório – tem muito da presença
da fazenda São Bernardo na vida de seus integrantes, como Casimiro
Lopes, Marciano, Seu Ribeiro, Rosa etc. O espaço aí é a reprodução
mal digerida ou ainda não bem entendida de “uma fase de mudanças
de relações capitalistas substituindo velhas relações de semi‑servidão”
(Sodré, 1965, p. 20).
spbsX_P1.indb 97 09/12/30 18:20:22
98 Carlos da Silva
Repensando a condição social e econômica do Brasil entre as déca‑
das de 30 e 40, e nela inserindo a produção literária moderna, Alfredo
Bosi enfatiza a importância do intelectual brasileiro diante do desequi‑
líbrio provocado pelo capitalismo, sinônimos presentes na estrutura de
algumas obras do Modernismo brasileiro:
Não cabia na consciência de Graciliano, nem no melhor romance de
30‑40, tematizar as conquistas da técnica moderna ou entoar os ritos
de um Brasil selvagem. O mundo da experiência sertaneja ficava muito
aquém da indústria e dos seus encantos; por outro lado, sofria de con‑
tradições cada vez mais agudas que não se podiam exprimir na mitolo‑
gia tupi, pois exigiam formas de dicção mais chegadas a uma sóbria e
vigilante mimese crítica (Bosi, 1988, p. 123).
Ao mencionar o “mundo da experiência sertaneja”, Bosi deve re‑
ferir‑se à presença da realidade brasileira nordestina em textos como
Vidas secas (1938) e Fogo morto (1943), dentre outros, para mostrar
na decadência dos engenhos de cana‑de‑açúcar o fracasso das institui‑
ções agrárias diante da emergente industrialização brasileira. Na forte
expressividade típica de um José Amaro, de um Capitão Vitorino ou do
Coronel Lula de Holanda, “expressões maduras dos conflitos humanos
de um Nordeste decadente” (Bosi, 1994, p. 399) a conjunção de perso‑
nagem e espaço evidencia as fraturas provocadas pelo ambiente na vida
das pessoas. Realidade e ficção se encontram em narrativas forjadas
em ambientes regionalistas dominados por uma concepção estática da
realidade, muitas vezes retrógrada, porque mimeticamente concebida
numa base única de relação entre o homem e a terra.
Com Vidas secas não será diferente, embora o salto qualitativo do
texto Graciliano admite, além da concisão da escrita, a leitura crítica
da miserável situação nordestina que arrasta seres humanos e coisas à
destruição inevitável pela seca, pelo abandono, pelo latifúndio impla‑
cável que tudo desumaniza.
Em Fabiano, a consciência da personagem sobre sua condição de‑
fine não só a dúvida expressa oscilando entre homem e bicho, mas,
sobretudo aponta na direção da fusão do humano com o espaço que
lhe dá formas:
Virou o rosto para fugir à curiosidade dos filhos, benzeu‑se. Não que‑
ria morrer. Ainda tencionava correr mundo, ver terras, conhecer gente
importante como seu Tomás da bolandeira. Era uma sorte ruim, mas
Fabiano desejava brigar com ela, sentir‑se com força para brigar com
ela e vencê‑la. Não queria morrer. Estava escondido no mato como
spbsX_P1.indb 98 09/12/30 18:20:22
A função estética e social do espaço 99
tatu. Mas um dia sairia da toca, andaria com a cabeça levantada, seria
um homem.
− Um homem, Fabiano (pp. 24‑25).
A semelhança da figura de Fabiano com o meio traz outra homo‑
logia entre o patrão e a natureza impiedosa: “Tudo seco em redor. E o
patrão era seco também, arreliado, exigente e ladrão, espinhoso como
um pé de mandacaru” (p. 24).
Esta é a literatura que penetrará fundo no gosto das nações africa‑
nas, especialmente em Cabo Verde e Angola. A identificação, como já
afirmou Salvato Trigo, em ensaio sobre a emergência das literaturas afri‑
canas e a literatura brasileira3, será a porta de entrada para uma aproxi‑
mação maior com as literaturas do mesmo macrossistema literário.
Para os cabo‑verdianos, o surgimento de “Claridade” (1936) asse‑
gura modernidade a uma literatura que procurava encontrar raízes em
suas próprias dificuldades: as imposições do colonialismo, as secas pro‑
longadas e a fome, conjugadas aos problemas da imigração forçada,
forjam os temas mais correntes da moderna ficção de Cabo Verde.
A questão de uma estética promovida pelo espaço nas literatu‑
ras cabo‑verdiana e brasileira de vertente nordestina não pode ser
concebida sem ajustar‑se a ela também a dimensão social. Desde
“Claridade”, quando se propunha uma olhada aos problemas inter‑
nos do Arquipélago, as diretrizes em busca da cabo‑verdianidade não
excluíram dessa temática o envolvimento do humano com a natureza
árida, em que o sofrimento parece apurar essa ligação telúrica. Alguns
romances cabo‑verdianos nascem dessas ligações, como é o caso de
Chiquinho (1947), Hora di bai (1962), Os flagelados do vento leste
(1960) ou Os famintos (1962).
O romance de Baltazar Lopes pode ser visto como um “romance de
iniciação” (Laranjeira, 1995, p. 206) ou de aprendizagem, pois é a tra‑
jetória de Chiquinho da aldeia à cidade, e daí, num processo de abertu‑
ra do texto, à América. Sendo um romance de temática cabo‑verdiana,
os aspectos culturais e sociais são apresentados como componentes da
narrativa cujo modelo Baltasar Lopes buscou na literatura nordestina
brasileira e no romance realista português do século XIX (Laranjeira,
1995, p. 208).
Em Chiquinho, o espaço e seus componentes socioculturais conden‑
sam a narrativa para tematizar o que se pode chamar de “cabo‑verdia‑
nidade objetiva”, porque na estrutura do discurso das personagens a
ancestralidade cultural, mais as condições precárias do solo de Cabo
Verde conferem ao texto uma dimensão ainda não atingida pela ficção
spbsX_P1.indb 99 09/12/30 18:20:22
100 Carlos da Silva
cabo‑verdiana. Subsistem na estrutura do romance vestígios da cultura
afro‑negra, como as figuras de Totone Menga‑menga, a Mamãe Velha,
Nhô Chic’Ana, Nha Rosa Calita, todas personagens formadoras de um
modo de ser característico do menino Chiquinho. É o Caleijão, espaço
onde se confundem a tradição ibérica – Carlos Magno, Roldão – e a
permanência da cultura africana de mistura com o fabulário das ilhas.
As repercussões sociais da seca podem ser vistas em vários trechos
do romance, como neste:
Constantemente passava pela minha porta gente que fugia dos povo‑
ados de Norte‑a‑Baixo, em direção à vila. Era um cortejo lamentável
de homens, mulheres, crianças. Os animais domésticos faziam parte
do êxodo para outras regiões mais habitadas. Nelas, ao menos, havia
a consolança de um olhar de cristão no meio do drama lancinante.
Os meninos, com as barrigas inchadas sobre as pernas magras. E vi‑
nha tudo: o pote de barro, a cama de finca‑pé, as esteiras. A vaquinha
magra e as cabras do pé de porta não abandonavam os donos em tal
povoação. Os cachorros de língua de fora, farejando resto de osso para
enganarem a fome. (...) Homens e bichos não conheciam distâncias na‑
quela irmanação perante o destino comum (III, 13, p.155‑56).
Em ensaio sobre Chiquinho, Alberto Carvalho (1987), aponta para
uma direção oposta à que se tem dirigido quase toda leitura sobre o
texto de Baltasar Lopes. Carvalho identifica no romance os temas da
orfandade da personagem conjugada à emigração, acima da condição
sociológica denotativa no romance. Para ele (o autor), “será talvez
muito mais produtivo prestar atenção às configurações actanciais que
estruturam a orfandade da personagem numa trama enredada sob a
aparência das evidências denotativas, e que fazem de Chiquinho uma
personagem problemática que escapa a um simples e directo enquadra‑
mento sociológico” (Carvalho, 1987, p. 218).
Embora não se possa negar que a estruturação do texto de Baltasar
Lopes, em três partes, indique situações evolutivas da formação de
Chiquinho, é exatamente aí que residem os sentidos perseguidos no ro‑
mance: a narração em situação autodiegética coloca a personagem como
centro de uma existência massacrada por um espaço impiedoso, mas
carregado de informações culturais e familiares que darão à personagem
a base de sua formação. A orfandade, neste caso, é a confirmação da
impossibilidade de sobrevivência digna numa terra inóspita e árida.
Romances como Chiquinho, Hora di bai, Os flagelados do vento
leste ou Famintos, estão na base da relação humana com o espaço que
lhes empresta a motivação necessária para a exposição do flagelo de
spbsX_P1.indb 100 09/12/30 18:20:23
A função estética e social do espaço 101
homens e animais. Em cada um desses textos, uma característica ressal‑
ta: a fragilidade da relação que as personagens mantêm com o espaço.
A seca prolongada em Famintos e Hora di bai traduz a prostituição
forjada pela fome, a gente maltratada pelo poder, pela necessidade da
sobrevivência a qualquer custo.
No macrossistema literário em que se situam as literaturas brasileira
e africanas de língua portuguesa, nesse particular a cabo‑verdiana, a
questão do espaço deve ser entendida como extensão do sistema do‑
minante em cada literatura, especificando a estrutura sociopolítica que
conduz as formas de produção. Na literatura cabo‑verdiana, tanto a
presença do neo‑realismo português, quanto do realismo crítico trazido
pelo Modernismo brasileiro, deixa claro a necessidade dos cabo‑verdia‑
nos em tornar explícita uma condição vital que não pode ser relegada
a um plano secundário, indo buscar no texto nordestino motivações
estéticas para um problema de ordem política e social. O fato colonial,
como conseqüência imediata do colonialismo, ainda que estabeleça o
fechamento dos processos de produção intelectual, foi o elemento de‑
sencadeador de certo tipo de texto crítico e incisivo, de busca da identi‑
dade de Cabo Verde na literatura de base social, cujo marco inicial, sem
dúvida, foi o posicionamento cultural exposto em “Claridade”.
A contrapartida oferecida pela literatura brasileira, nessa intertex‑
tualidade explícita, ou não, com o texto cabo‑verdiano, leva em con‑
sideração o fator da diferença espacial que conduz o texto, enquanto
síntese das variantes locais e mesmo regionais, a mostrar sua especifici‑
dade. Enquanto produção estética, a literatura dos escritores nordesti‑
nos é a afirmação da denúncia a que estão subordinados os elementos
do espaço, o “topos” definido pelas condições climáticas, pela “indús‑
tria da seca”, pelo sentimento de impotência.
Apesar de tudo − a dessemelhança do texto nordestino dentro da sé‑
rie social da literatura brasileira − é essa diferença o modo pelo qual se
dá a aproximação entre duas literaturas, distantes no tempo e no espa‑
ço, mas aproximadas por “afinidades eletivas” que conduzem, ambas,
a um diálogo do autoconhecimento das potencialidades do macrossis‑
tema de língua portuguesa.
O conhecimento mútuo é, portanto, o meio mais ajustado para es‑
tabelecer paradigmas de análise cultural entre povos que ainda não se
conhecem bem, porém, estabelecer este contato, mais do que neces‑
sário, é urgente. E o texto literário pode servir de instrumento para
solidificar as relações entre nações que sofreram a presença do mesmo
colonizador.
spbsX_P1.indb 101 09/12/30 18:20:23
102 Carlos da Silva
Referências bibliográficas
Alfredo Bosi, Céu, inferno, São Paulo: Ática, 1988.
Alfredo Bosi, História concisa da literatura brasileira, 32ª ed., São
Paulo: Cultrix, 1994.
Alberto Carvalho, “Emigração e orfandade em Chiquinho de Baltasar
Lopes”, in Literaturas africanas de língua portuguesa, Lisboa:
Calouste Gulbenkian, 1987.
Carlos Nelson Coutinho, Cultura e sociedade no Brasil – ensaios sobre
idéias e formas, 2.ed., Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
Carlos Silva, A poética da falência em Graciliano Ramos (Dissertação
de Mestrado), Faculdade de Ciências e Letras de Assis, 1991.
Homi K. Bhabha, O local da cultura, Trad. Myriam Ávila e outros,
Belo Horizonte: Ed.UFMG, 1998.
Milton Santos, “O espaço geográfico como categoria filosófica“, in
Terra Livre, nº5, p.9‑20.
Nelson Werneck Sodré, Ofício de escritor, Rio de Janeiro: Civilização
brasileira, 1965.
Paulo César da Costa Gomes e Rogério Haesbaert Costa, “O espaço na
modernidade”, Terra Livre, nº5, p.48‑67.
Pires Laranjeira, A literatura calibanesca, Porto: Afrontamento, 1985.
Pires Laranjeira, Literaturas africanas de expressão portuguesa, Lisboa:
Universidade Aberta, 1995.
Salvato Trigo, Ensaios de literatura comparada Afro‑luso‑brasileira,
Lisboa: Vega, s.d.
Sílvio Castro, A revolução da palavra: Origens e estrutura da literatura
brasileira moderna, Petrópolis: Vozes, 1976.
Notas
1. Literatura colonial está sendo usada aqui no sentido que lhe atribui
Pires Laranjeira em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa,
Lisboa: Universidade Aberta, 1995.
2. A expressão está sendo empregada em sentido diverso do que lhe
conferem Paulo César da Costa Gomes e Rogério Haesbaert Costa
spbsX_P1.indb 102 09/12/30 18:20:23
A função estética e social do espaço 103
em O espaço e a modernidade ao se referirem à diferença entre
espaço e território, no conceito de F. Guattari.
3. Em Ensaios de literatura comparada afro‑luso‑brasileira, Lisboa:
Vega, s.d., Salvato Trigo analisa a questão da influência do romance
nordestino na formação das literaturas africanas.
spbsX_P1.indb 103 09/12/30 18:20:23
spbsX_P1.indb 104 09/12/30 18:20:23
Agostinho Neto’s Sacred Hope: protest and revolt
– the makings of a national culture
Solange Luis
Universidade Agostinho Neto / ISCED, Lubango, Angola
Universidade de Coimbra (doutoranda), Portugal
Franz Fanon classified the development of the national intellectual into
three phases, which Eugene Perkins called Assimilation, Protest and
Revolt –the latest two being indispensable in the makings of indepen‑
dence and, consequently, in the emergence of a National Culture.
Fanon defines National Culture as “the whole body of efforts made
by a people in the sphere of thought to describe, justify, and praise the
action through which that people has created itself and keeps itself in
existence” (Fanon, p. 233), therefore, “it is around the people’s strug‑
gles that African Negro culture takes on substance” (Fanon, p. 235).
Agostinho Neto’s Sacred Hope acts in the sphere of thought, aiming
at making people aware that their freedom depends on them, on their
country’s struggle. This type of literature is referred to, by Fanon, as
Combat Literature (Fanon, p. 223). With this literature, we can truly
begin to speak of a National Literature, for the native intellectual no
longer speaks to the oppressor but to the oppressed, becoming “the
mouthpiece of a new reality in action” (Fanon, p. 223).
The Angolan poetry of the 1950’s fits into what Perkins classified
as Fanon’s second phase: Protest Literature, which happens, accord‑
ing to Fanon, when the “National Intellectual is disturbed”, when he,
the “assimilado”, tries to “remember” what he is (Fanon, p. 222) and
embarks on a journey to re‑discover Angola. He begins to articulate
racial consciousness and to denounce colonial exploitation and its as‑
similation agenda, which aims at the complete annihilation of African
culture. Once the Native Intellectual tries to speak to the masses, he
realizes that he is alien to it, and that the process of assimilation cre‑
ated a cultural and economic gulf between him, the “assimilado”, and
the masses. In the embryo state of this phase, the poetry demonstrates
a preoccupation with the sufferings caused by colonialism, exposing a
“gallery of victims” with their hunger, loss of dignity, inertia, loss of
hope, forced labor, humiliation, death, and body desecration amongst
other characteristic consequences of colonization (Wolfers, p. 24).
spbsX_P1.indb 105 09/12/30 18:20:23
106 Solange Luis
These victims are well portrayed by Neto in his poem “Saturday in
the Muceques”. Here, Neto offers a trained physician’s concern over
the Angolan’s physical and mental illnesses and the ignorance vis‑à‑vis
these conditions. He speaks of the Muceques, which are “poor neigh‑
borhoods/ of poor people” where anxiety is everywhere: “in the tu‑
mult/ in the smell of alcoholic drinks”; in every woman who “will sigh
with relief/ when her man enters the house”; “in the man/ hidden in the
dark corner/ violating a child” who will “only late… cry out against
her fate”; “in the mother/ who asks the fortuneteller/ if her little girl
will recover/ from pneumonia/ in the hut/ made of broken tin cans”;
“in the skeleton of wooden poles/ threatening inclined/ holding up a
heavy zinc roof”, and in the “enslaved souls” of the Muceque people
(Neto, p. 3). The “marketwoman”, who “sells herself” (Neto, p. 13);
the “old black man”, “always always defeated”, “Forced to obey / God
and men / (…) lost himself // (…) lost his country / and the concept of
being” (Neto, pp. 14‑15); Sá Domingas, the “marketwoman” in the
poem “midnight at the stall”, who sells tomatoes, cashew nuts, coco‑
nut sweets so that she can pay her son’s tax in order to keep him from
being forced into contract work (Neto, pp. 15‑16); and the “contract
workers” who “carry heavy loads”, “exhausted by work”, “filled with
injustice”, who sing (while the poet writes), “with cries of protest”
(Neto, pp. 23‑24) – these are some of the colonial victims portrayed by
Neto in the poetry of his Sacred Hope.
Despite being the perfect example of what Portugal intended with
the process of assimilation, this new generation questioned the process
of assimilation and rejected, the best it could, the aims of its accultura‑
tion agenda. At this point, Fanon notes that “the native intellectual […]
tried to make European culture his own” but once he realizes that he
has become estranged from his people, “he spurns these acquisitions
which he suddenly feels make him a stranger in his own land” (Fanon,
pp. 218‑219). The national intellectual, fighting this assimilation,
“clings on to his people, to secure anchorage, turns backwards to his
own roots… because he feels estranged” from his people and his own
culture; he consequently turns himself into “the defender of his people’s
past”. Otherwise they would be without “an anchor, without a horizon,
colorless, stateless, rootless” (Fanon, 217‑218); and as Neto denotes
in his poem “the green of the palm trees of my youth”, “without land,
without language, without country” (Neto, p. 57). This is the moment,
in Fanon’s model for the intellectual development of the colonized, that
the intellectual realizes he needs his ancestral past in order to re‑create
spbsX_P1.indb 106 09/12/30 18:20:23
The makings of a national culture 107
his African identity. At this time there is a call to celebrate nature and
traditions, as well as the ancestral past from which the intellectual
has been removed from by an urban life‑style and a European educa‑
tion. This generation calls upon the “assimilados” to ‘de‑assimilate’,
to ‘de‑Portugalise’ and to ‘re‑Africanize’. Although heavily watched
by Salazar’s fascist censorship, this generation of native intellectuals
searched for their native identity and their African origins – aiming at
finding contact with the masses: the ‘Africans’ who did not undergo the
‘Europeanization’ process of assimilation. They follow Cabral’s call for
re‑Africanization and cultural contestation as a necessary step for the
identification of the national elite with the cultural and social values
of the African masses. They attempt to speak for the subaltern masses.
The individualism and subjectivity that has been “hammered into the
native’s mind” by the colonialist bourgeoisie is now replaced by the
collective “everyone” (Fanon, p. 47). For Neto, in “we must return”,
the “liberated Angola / independent Angola” is for everyone; the col‑
lective permeates the whole poem, beginning with the title – “we must
return”: “to our rivers, our lakes / to the mountains, the forests / we
must return // To the coolness of the mulemba / to our traditions / to
the rhythms and bonfires (…) To the marimba and the quissange / to
our carnival (…) our land, our mother” (Neto, p. 77). Neto does not
limit the collective to Angola, but he extends it to the “we/of immense
Africa”, “of Africa united in love” (Neto, p. 41 and p. 43). For Neto,
the re‑africanization as well as the collective process happen in the form
of an African collective past that is not restrained to Africa only, but
extended also to all ‘Africas’ around the world. In his poem “greeting”
he greets all Africans, “brother of the same blood”, extending his greet‑
ings to “any black lost in the bush / any black in the streets and bush
villages”, being them all his “brother[s]” (Neto, pp. 29‑30).
But although Protest literature is subversive in its depiction of colo‑
nial oppression and misery, and although it offers some resistance to as‑
similation with its re‑Africanization agenda, it does not overtly call for
change. Whereas it is in the “just‑before‑the‑battle literature” (Fanon,
p. 222) that the ailments of colonialism are exposed and condemned,
it is only in the developments of this last phase that the native intel‑
lectual calls for combat – originating the term “Combat literature”,
used by Fanon, who also calls it the fighting phase. Perkins refers to
it as Fanon’s third phase: the “Revolt” phase (Perkins, 231). Here the
native intellectual “turns himself into an awakener of the people… he
feels the need to speak to their nation” (Fanon, p. 223). Sacred Hope is
spbsX_P1.indb 107 09/12/30 18:20:23
108 Solange Luis
Neto’s call for change, it is a collection of poems that “in the darkness
of nights”, sings “the throbbing existence / of days of sunshine” (Neto,
“a sucession of shadows”, pp. 21‑23). It yearns for change; it motivates
the people for it. Already in the first poem of this collection, Neto sets
the mood for change: “tomorrow we shall sing anthems to freedom /
when we commemorate the day of the abolition of this slavery” – “we
are going in search of light” (Neto, “farewell at the hour of parting”,
pp. 1‑2).
In this phase, the native intellectual no longer speaks to the op‑
pressor but to the oppressed. According to Fanon, “the artist / poet /
intellectual can’t go forward unless he realizes his estrangement from
his people” (Fanon, p. 226). Neto is well aware of this estrangement,
which is voiced in his poem “Friend Mussunda” where he speaks of
writing poems which Mussunda cannot follow. However, the poem’s
subject and Mussunda connect in the complicity of their “inevitable
slave past” (Neto, p. 34). This poem stresses the gulf between the intel‑
lectual who has been assimilated and the subaltern, but, most impor‑
tantly, it also stresses that there are different paths to liberation – a
homogeneous “we” that although traveling different paths, is one in its
dissatisfaction with the oppressive colonial system.
This change in consciousness and attitude also calls for a poetry
that will speak of a different kind of beauty, that of fighting and dy‑
ing for freedom. The intellectual is able to find poetry where it does
not exist – as Fanon had put it, “the crystallization of the national
consciousness will both disrupt literary styles and themes, and also cre‑
ate a completely new public” (Fanon, pp. 239‑40), and thus creating
a completely new literary style to help express a rising identity. The
intellectual, Fanon argues, “must realize that the truth of a nation are
in the first place its realities” (Fanon, p. 225); and that “it is around
the people’s struggles that African Negro culture takes on substance,
and not around songs, poems or folklore” (Fanon, pp. 234‑5). In this
phase, the past will be used “with the intention of opening the future”
(Fanon, p. 232).
For Fanon, the most important aspect of Combat Literature is that
it works as political catalysis to help give those who are colonized a
viable direction to liberation – it points the way, directs the masses –
it tells people that ultimately, everything depends on them (Fanon, p.
97). “Haste” is a poem that overtly calls people to “end this tepidness
of words and gestures”, “Let us start action vigorous male intelligent
/ which answers tooth for tooth and eye for eye / man for man / come
spbsX_P1.indb 108 09/12/30 18:20:23
The makings of a national culture 109
vigorous action / of the people’s army for the liberation of men / come
whirlwinds to shatter this passiveness” (Neto, pp. 73‑74). In this same
poem, Neto calls overtly for people to take their destiny at hand and
go into battle for it:
Let us not wait for heroes
Let us be heroes
Uniting our voices and our arms
each at this duty
and defend inch by inch our land
let us drive out the enemy
and sing in a struggle vital and heroic
as from now
the true independence of our homeland.
(Neto, p. 75)
The change from Protest to Combat literature occurs when peo‑
ple begin to engage in armed resistance. Poetry didn’t capture the es‑
sence of people’s struggles until the poets became participants in it. For
Cabral, “re‑Africanization… may take place before the struggle, but it
is completed only during the course of the struggle, through daily con‑
tact with the popular masses in the communion of sacrifice required by
the struggle” (Cabral, p. 45). For the first time, the gulf between intel‑
lectuals and the subalterns is bridged; the native intellectual speaks to
the masses. Neto’s poetry offers, at its center, direction. From the first
poem of Sacred Hope onwards, he sees his role as that of a leader: “I
do not wait now / I am the one who is awaited” (Neto, p. 1).
Combat poetry offers direction. In his poem “prison nights”, Neto
speaks of “words burning with impatience” (…) “thinking of victory /
It is ours! It is ours! ´Xi ietu manu / Kolokota / Kizuna a ndotu bomba
/ kolokotenu”1 (Neto, pp. 65‑67). The poem offers direction: to resist
“[f]or theirs will be the country / and the love of their people” (Neto,
p. 67).
Sacred Hope offers, from the title onwards, a vision of a happier
future that is contrasted with the sufferings of the past. Neto uses im‑
perative verbs to declare the imminence of revolution, and the use of
repetition creates a sense of urgency and discipline: “slave / labour /
Breaking stones / carrying stones / breaking stones / carrying stones / in
the sun / in the rain / breaking stones / carrying stones” (Neto, “west‑
ern civilization”, pp. 18‑19).
Neto did not isolate himself from the masses outside the urban cen‑
ter; as a physician and as a combatant, he visited the interior sections,
spbsX_P1.indb 109 09/12/30 18:20:24
110 Solange Luis
and, like the people, slept in huts. Neto’s role is perhaps one of the
most important in the Angolan revolution for he was present as a revo‑
lutionary poet who protested and later offered direction to his people
in his poetry; as a physician, a healer, who understood the ‘nervous
condition’ of the oppressed colonized; as a combatant and, most im‑
portantly and ultimately, as a national leader – becoming Angola’s first
president.
Neto understood, as Cabral did, that “to dominate a people is to
neutralize, to paralyze, its cultural life” (Cabral, p. 39); a National
Literature can only emerge and flourish out of the struggle for indepen‑
dence – free from the clutches of colonization.
Once Neto began armed combat, his pen was replaced by a firearm.
He now made “the hour of human transformations”, “happy in the
discomfort of today / on battlefields / in prisons, in exile / building
tomorrow, for a land ours a country ours / independent” (Neto, “with
equal voice”, p. 81).
Bibliographical references
Agostinho Neto, Sacred Hope, Trans. Marga Holness, Arusha: Tanzania
Publishing House, 1974.
Agostinho Neto, Sagrada Esperança, 10th ed., Rio Tinto: União dos Escritores
Angolanos, s/d.
Amílcar Cabral, “National Liberation and Culture”, Return to the Source:
Selected Speeches by Amilcar Cabral, Ed. Africa Information Service, New York:
Monthly Review Press, 1974.
Basil Davidson, In the Eye of the Storm, London: Longman Group Ltd., 1972.
Eugene Perkins, “Literature of Combat: Poetry of Afrikan Liberation Movements”.
Journal of Black Studies, 7.2 (1976), pp. 225‑240.
Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, Trans. Constance Farrington: New
York: Grove Press, 1963.
Russel G. Hamilton, Voices From an Empire: A History of Afro‑Portuguese
Literature, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1975.
Nota
1. “The land is ours, brother / resist / the time will come when / they will bow to
us / resist” (footnote nº 3, p. 67).
spbsX_P1.indb 110 09/12/30 18:20:24
La luz y las hogueras
en la poesía de Agostinho Neto
Xosé Lois García
Escritor, director do Arquivo Histórico Municipal
de Sant Andreu de La Barca, Espanha
La poesía del primer Presidente de Angola, Dr. António Agostinho
Neto (1922‑1979), está repleta de singularidades africanas y todas ellas
visionadas y asumidas desde Angola. Realidades y deseos se conjugan
en la recuperación de los dones más sensibles de la pluralidad histórica,
ancestral, social, cultural y costumbrista, como los máximos defini‑
dores de identidad y normalización de ese amplio perfil de la Angola
actual.
En su poética, podemos observar múltiples definiciones sobre ese
perfil angolano que lo debemos verificar cuidadosamente, porque cui‑
dadosamente ha sido articulado por su autor. Por un autor que profun‑
dizó en las raíces más auténticas y exaltadoras del contexto angolano;
y de ellas ha revelado sus pormenorizados dones, anunciando fértiles
frutos.
De esos dones, quisiera darle relevancia a una serie de atribuciones,
símbolos, significados, metáforas, exaltaciones que marcan la direc‑
ción de la poética de Agostinho Neto sobre este tema del cual vamos
a tratar. En estas atribuciones encontramos no pocos versos sobre la
claridad, la luz, el fuego, las hogueras, el sol, la luna, las estrellas y, en
oposición a ello, la oscuridad.
En el primer poema de Sagrada Esperanza, titulado: “Adiós a la
hora de jornada”, encontramos unos versos muy reveladores que nos
sitúan en todo ese bagaje que de pronto vamos a contemplar, sobre la
luz, en sus resplandores y en sus carencias. En estos versos, matiza:
“Nosotros vamos en busca de luz / tus hijos Madre”.
Si los hijos de la Madre África, en mayúscula, van en busca de luz
es porque contemplan tinieblas opresoras, oscuridad colonial. Y en el
poema que sigue a este, leemos: “No hay luz / no hay estrellas en el
cielo oscuro / Todo en la tierra es sombra / No hay luz no hay norte en
el alma de mujer / Negrura / sólo negrura...”
Es verdad que estos versos nos colocan en la idea dualista de las
contraposiciones entre el bien y el mal, que aquí se configuran entre lo
spbsX_P1.indb 111 09/12/30 18:20:24
112 Xosé Lois García
luminoso y lo oscuro. Pero el poeta nos habla del triunfo de la oscuri‑
dad. Esa profunda noche de sombras que asolan la tierra. Evidentemente
estos versos tienen una configuración tan vertical que nos permiten
evaluarlos en una sola dirección: la opresión del pueblo angolano. Y a
la medida que vamos avanzando en la lectura de “Sagrada Esperanza”
vemos como esa ausencia de luz, de la cual el pueblo carece y cercado
por una deprimente ansiedad hace su inventiva de luz artificial de ace‑
tileno o de un candelero “Petromax”, donde la gente tiene esperanza
y danza en un hábitat hostil, el que el colonialismo permite. Leamos
estos versos: “Ansiedad en la kazukuta / danzando a la luz del acetileno
/ o del candelero “Petromax” / en sala pintada de azul / llena de polvo /
y oliendo a sudor de cuerpos / y de meneos de caderas / y de contactos
de sexos”.
Que hermosas pinceladas de crónica sobre los que inventaban luz
artificial para superar sus penurias. Claramente estamos ante un poe‑
ma realista, pero su metaforismo nos lleva a un contexto mas profundo
que se connota en la opresión social del individuo y de la opresión
nacional de un colectivo. En este sentido, Agostinho Neto busca la luz
natural del día, la mas clarificadora donde las cosas y las ideas no son
adulteradas. El poeta y dirigente anticolonialista no acepta artificios
que iluminen a los angolanos de otra manera que la verdadera e irre‑
nunciable luz del día. La naturalidad de los ciclos, el día y la noche,
tiene para Agostinho Neto una particular acción en que la noche no se
imponga al día. Pero sobre todo esto hay que entrar de lleno en la in‑
terpretación de la metáfora y, talvez, el resultado nos descubra el verda‑
dero sentido en que el poeta nacional de Angola nos ofrece una lectura
con matices en diversas direcciones, y cada uno de ellos se agranda a la
medida que localicemos el conflicto social entre los que representan la
claridad y los que se perpetúan en la sombra.
La antítesis de estos dos factores con los que Agostinho Neto sim‑
plifica al oprimido y al opresor, aparece el relato conciso de esa escena
perturbadora de los que sufren el asedio de lo sombrío. Y en este pa‑
rámetro de valores surge, otra vez la luz artificial que busca dar vida a
los que buscan iluminar la noche, ese aposento de los que se perpetúan
en su negrura. Y de una manera sarcástica y reveladora, el poeta in‑
cide en esta situación configurando ese juego de valores, como puede
ser la noche que cerca al individuo; el caos de lo oscuro. En el poema
“Noche”, extraemos los siguientes versos: “Yo vivo / en los barrios
oscuros del mundo / sin luz ni vida”./ (...) / Son barrios de esclavos /
mundos e miseria / barrios oscuros / (...) / Ando a trompicones / por
spbsX_P1.indb 112 09/12/30 18:20:24
La luz y las hogueras en la poesía de Agostinho Neto 113
las calles sin luz / desconocidas / cercadas de mística y terror / yendo de
brazo con fantasmas”.
Es importante detenernos en estos versos por considerarlos de ma‑
teria primordial por especificar el contexto de lucha de clases y pro‑
clamar la luz como esencia fundamental de vida. Que él interrelaciona
esos barrios de conglomeraciones humanas, como son los museques,
donde la luz y la vida están depredadas. Ese mundo aglutinado en la
esclavitud y determinado por el colonizador que fue capaz de crear esos
espacios alienantes que le favorecían: “Ando a trompicones / por las
calles sin luz / desconocidas”.
Vuelve en estos versos a insistir, de una forma metafórica, sobre
lo infrahumano, la carencia de luz y tener como guía a devastadores
fantasmas. Todas estas contraposiciones nos llevan a considerar este
dualismo, de la luz y la oscuridad; de la vida y de la muerte; del opri‑
mido y del opresor; de la dependencia y de la independencia, y en todo
un largo etc.
En la poesía de Agostinho Neto existen una serie de versos que tie‑
nen diversos alegatos en clave que tenemos que entrar en toda su me‑
tafísica de valores que nos remiten a esa ansiedad de los que no gozan
de la claridad del día. Y esa claridad que el poeta reivindica, también
la tenemos que asumir en clave existencial. Y cuando el lector de esta
poesía descubra el microcosmos angolano tendrá varias claves para en‑
tender el macrocosmos de la opresión. Y si en estas claves existenciales
se detecta ese mundo y sus subterfugios detectaremos la predisposición
en clave marxista en que se enmarca la poesía de Agostinho Neto.
Sobre las reflexiones que hace nuestro poeta, sobre luz y vida nos
posiciona en otras dimensiones más amplias de la extrema carencia
de libertad, como podemos ver en estos versos escritos en la cárcel de
la PIDE de Luanda en junio de 1960, que dicen: “Enclaustrado entre
cuatro paredes / sin luz / sin ver al menos la mejilla muerta de mi hija /
sufro la angustia de las tinieblas”.
En su otro libro poético La Renuncia Imposible, el lamento de
“Sagrada Esperanza” da paso a la certeza y a la posesión de la luz,
cuando dice: “ − Yo sensualizo la Vida / bebo el brillo de la luz / cuando
trabajo al sol / quemando los hombros desnudos”.
Estos versos, sin duda, marcan la posesión de la luz solar, tan anhe‑
lada por el pueblo angolano. El poeta se viste de ese brillo fulgurante
que quema su piel, como un buen proletario de su patria. La luz que
encarna un nuevo parámetro de libertad en el hombre que trabaja des‑
mesuradamente poseyendo la luz solar. Es aquí donde el mensaje nos
spbsX_P1.indb 113 09/12/30 18:20:24
114 Xosé Lois García
emancipa a revelar que la plenitud de ese resplandor vitaliza al ser y
la acción de la luz y el calor fornecen al hombre y le revisten de unos
atributos que le liberan frente a la oscuridad, de la noche colonial.
Encontramos, también, en la poética de Agostinho Neto varias citas
al sol. En “Sagrada Esperanza”, en el poema: “Desfile de sombras”
dice: “Nunca vi el sol / ¿Qué tengo que recordar?”
La presencia de lo oscuro, lo obsceno, no le permitió ver la luz del
sol. Del astro rey, fulgurando su luz y su calor. Subrayemos estos dos
atributos que Agostinho Neto proclama en estos dos sintéticos versos:
“Después de ponerse el sol / encenderán las luces / y yo / iría sin rumbo
/ a pensar que nuestra vida es simple al final”.
Esa poderosa luz solar, dadora del día y de la vida, en su ciclo na‑
tural, da paso a la noche, símbolo de lo oscuro, donde el pueblo en‑
ciende luces para vencer lo sombrío. Obstinadamente, Agostinho Neto
enfatiza la percepción solar como prototipo de la vida y de la luz que
el propio hombre angolano tiene que poseer para rescatar todos los
valores usurpados y violados por los colonizadores.
En La Renuncia Imposible, estos dos versos extremadamente sintéti‑
cos pero con un mensaje tan profundo que marca la connotación del sol
en la sensibilidad del hombre oprimido que desoyó la llamada de la luz
solar, los configura así: “Y en el corazón de muchos hombres / no brilló
otro sol”.
Pero en el poema: “Noche oscura”, de este mismo libro, Agostinho
Neto reconstruye sintéticamente su biografía y la entroniza en varios
atributos solares. Leeré el poema íntegramente, para saborear todas esas
conceptualidades que emergen del mismo: “Sobre la curva del río Cuanza
/ el sol sumerge / rojo / recortando en el horizonte sombras de palmeras //
¡Ay, es tan triste la noche sin estrellas! // Un día / mi sol cayó en el mar / y
me anocheció / Un día empezó una noche sin estrellas. // Pero en la noche
oscura / los corazones emergen / ¡Ah! ¡Es tan alegre la madrugada!”
Este poema no es tan sólo una caracterización del hombre que ve
desbordada su existencia por la opresión foránea y que toma concien‑
cia de su situación de explotado. Pero la economía poética, en estos
versos, tiene una serie de relaciones en su interior que cada elemento
funciona por separado y connota esa fusión de símbolos, por un lado,
y de significados por otro. Simbolizar y significar no es lo mismo.
Agostinho Neto está hablando en primera persona. Esos ver‑
sos se parecen a una tragedia apocalíptica que se nos menciona en
el “Apocalipsis” de San Juan cuando se anuncia el fin del mundo en
el capítulo 8, y el sol, la luna y las estrellas se precipitan en el mar,
spbsX_P1.indb 114 09/12/30 18:20:24
La luz y las hogueras en la poesía de Agostinho Neto 115
provocando la perpetua oscuridad. Pero en el poema de Agostinho
Neto, la tragedia no es el final de la luz. Lo oscuro, en ese poema, tiene
su tiempo y su espacio, y está sometido a la voluntad de los hombres al
destruir lo que impone el otro, el agresor. Y en este poema se verifica
la certeza y la esperanza, cuando dice: “Pero en la noche oscura / los
corazones se levantan”
En este contexto, Agostinho Neto nos lleva a reencontrarnos con
el célebre “Himno al Sol” del faraón, Ejnatón, donde se mencionan
las atribuciones de la luz frente a la oscuridad. La fuerza de la luz en
Ejnatón y la ausencia de la misma en Agostinho Neto no se descon‑
textualizan. También las alegorías del sol y de la caverna de Platón
no están lejanas a los alegatos de Ejnatón. La luz solar en la poesía de
Agostinho Neto no contradice la tradición egipcia ni la griega, ni la
gnosis, ni el sufismo, ni el esoterismo. Es aquí donde el concepto expre‑
sado sobre la luz, por el poeta angolano, tiene un valor perceptivo de
todo el contexto universalista de la luz.
Y en esta universalidad tenemos que conferirle a Agostinho Neto
otra de las atribuciones que se destacan en su poesía como es el fuego
y las hogueras. Y es, también aquí, en donde se conforman una serie
de atribuciones antiquísimas que, más allá de los conceptos animistas
y mitológicos de África, entronca con ese concepto universal de un
Empédocles, de un Heráclito y de un Ovidio. Conceptos universales que
convergen en la obra del Presidente Neto. Heráclito, el filósofo griego
que observa los movimientos del fuego y se siente atraído por esos giros
y esas figuras abstractas, como hizo más tarde Leonardo da Vinci sobre
el movimiento del agua. Heráclito sostuvo que el fuego era el origen
primordial de la materia y en el todo fluía, todo cambiaba. La potencia
cósmica era para este filósofo griego el portento de todo cambio donde
el fuego era un elemento primordial y propulsor de estructuras nuevas.
Agostinho Neto, en los poemas que evoca el fuego y las hogueras enfa‑
tiza los poderes cósmicos, telúricos, míticos y panteistas: engranaje de
una cultura milenaria africana y de concepciones de cambios sociales,
donde todo termina por el esplendor de la luz del fuego y de las hogue‑
ras y en ellos renace un mundo nuevo. Equivalencias dualistas entre la
luz del angolano libre y la derrota del opresor. La mutación cósmica,
del colapso a la “palingenesia”: ese eterno retorno defendido por los
estoicos. Agostinho Neto pensó en ese eterno retorno regenerativo del
pueblo angolano y se posicionó en la misma “ataraxia” griega, aquel
pensamiento estoico que buscaba el equilibrio emocional frente las ad‑
versidades y autocontrol de las pasiones.
spbsX_P1.indb 115 09/12/30 18:20:24
116 Xosé Lois García
El poeta latino, Ovidio, en su Metamorfosis, señala la regeneración
de las cosas a través del fuego, lo sostiene en ese intercambio de lo que se
hunde y de lo que resurge. El mito de Prometeo creador de la cultura del
fuego, tan potenciado por Ovidio. Para Agostinho Neto, el fuego y las
hogueras no están exentos de conceptos de las culturas antiguas griega
y latina, aún que predominen los conceptos de las tradiciones africanas.
Pero la ubicación regenerativa de los seres y de sus atribuciones es una
constante en la poesía de Agostinho Neto cuando evoca lo ígneo como
un factor esencial de la materia que se transforma. No olvidemos que
Agostinho Neto se crió al lado de las enormes hogueras tan específicas
en las sociedades agrarias de África, por su concepción funcional de ilu‑
minar las sanzalas y de espantar las fieras que amenazaban estas aldeas.
Pero en ellas se concentraba todo un ritual formativo de mitos, y de
abrir caminos en la espiritualidad animista. En estas hogueras es donde
la cultura oral ha transcendido de generación a generación.
En una primera propuesta ígnea de Sagrada Esperanza encontra‑
mos en el poema “Noches de cárcel”, estos versos: “En tardes cálidas
/ cuando miradas y voces llenan la carretera de la Cuca / y allá hacia
la Lixeira / o en los morros de la Maianga / de esta tierra empobrecida
de todo por el miedo / y enriquecida por la certeza / resucitan fuego y
magia / y palabras calientes de impaciencia”.
Fuego y magia resucitados en la palabra caliente de seculares impa‑
ciencias que fornecieron certeza y esperanza. Por eso, Agostinho Neto
cuantifica una serie de valores telúricos y ancestrales, formativos de su
poesía de combate como la mejor arma que esgrime contra la violencia
establecida por el opresor. Las esencias redimidas por el nacionalismo
revolucionario sirven como exponente de las cosas sesgadas y maltra‑
tadas por el colonizador. Por ello, hay que reponerlas urgentemente y
darles vigencia. Así vemos perceptible la acción del “fuego en el cés‑
ped”, quemando lo viejo para que se produzca lo nuevo.
Pero antes de adentrarnos en el significado de las hogueras que
transcienden en la poesía de Neto, quiero confirmar primero uno de
los versos de tradición oral bantú que Rogelio Martínez Furé recoge en
su libro Poesía Anónima Africana. Del poema “Canto del Fuego”, ex‑
traemos estos versos: “Fuego que contemplan los hombres en la noche,
/ en la noche profunda. / Fuego que ardes sin calentar, que brillas sin
arder. / Fuego que vuelas sin cuerpo, sin corazón, que no / conoces cho‑
za ni hogar. / Fuego transparente de palmeras, un hombre te invoca /
sin miedo. / Fuego de los hechiceros, ¿tu padre dónde está?, / ¿tu madre
dónde está?, ¿quién te ha alimentado? / Eres tu padre, eres tu madre, /
spbsX_P1.indb 116 09/12/30 18:20:24
La luz y las hogueras en la poesía de Agostinho Neto 117
pasas sin dejar rastro. / La leña seca no te engendra, no tienes por hijas
a las /cenizas, mueres y no mueres”.
El fulgor de la tradición oral africana, transpuesta en el fuego, ad‑
quiere una serie de valores que transcienden con todo ese peso de los
diversos modelos de cultura que el africano ha ido tejiendo sin perder
el hilo de la tradición. Por tanto, las hogueras están dentro de unos
esquemas perceptibles cuando el más viejo de la aldea cuenta cuentos
referenciando vivencias de ese microcosmos tan simplificado y que se
va agrandando en conceptos y en ejemplos. El tan‑tan, de misterioso
lenguaje, emite en sus sones el ávido encuentro de tantas generaciones;
las danzas hacen revivir el alma pura de la Madre África, sustentadora
de esas llamas de la hoguera que invita a un frenesí sin limitaciones,
donde los espíritus frecuentan el resplandor y hablan por la boca del
hechicero. Donde los muertos tienen su presencia, configurando así
los recuerdos de generaciones que el tiempo no los oculta en su silen‑
cio. Las hogueras que sirven, también, para celebrar la pubertad de los
seres, en su exaltación más rendida al amor, entregándose a esa otra
llama que no se improvisa cuando el arrebato de la pasión produce
nuevas dádivas.
Pero las hogueras narradas en la poesía de Agostinho Neto tienen
una connotación social revestida de ese esplendor tradicional; con esas
frecuencias telúricas y ancestrales que marcan el ritmo de la palabra
poética. De toda esa sensibilidad operante que el espacio de las hogue‑
ras impone, Agostinho Neto, constata: “los corazones laten ritmos / en
noches de hogueras”.
En el poema, “Camino de las estrellas” hay un enorme cántico a
la exaltación de la libertad donde los ritmos se evocan y la luz de las
hogueras iluminan montañas y planicies. Merece la pena leer este frag‑
mento del poema: “La libertad en los ojos / el son en los oídos / de las
manos ávidas sobre la piel del tambor / en un acelerado y claro ritmo
/ de Zaires y Calaáris montañas luz / roja de las hogueras infinitas en
las campiñas / violentadas / armonía espiritual de voces tan‑tan / en un
ritmo claro de África”.
También nos habla del nuevo ritmo de las hogueras en noches co‑
loniales. El proceso simbólico de las hogueras, incluso epifánico, es
muy revelador en la poesía de Neto. Cuando escudriñamos esos retazos
discursivos sobre las hogueras el imaginario nos lleva a la singularidad
de lo que representa ese fuego en medio de las aldeas africanas, donde
todo un conjunto de valores se conjugan e se asocian. Y ahí está tam‑
bién la propuesta de Agostinho Neto adherida a la tradición. Es decir,
spbsX_P1.indb 117 09/12/30 18:20:25
118 Xosé Lois García
que la libertad de Angola se le ubica en esa fuerza telúrica que emana
de las hogueras. Así lo contempla en el poema, “Bamako”, cuando
dice: “¡Bamako! / Allí nace la vida / y crece / y desenvuelve en nosotros
hogueras impacientes / de bondad”.
Las hogueras, en la poesía de Agostinho Neto, las tenemos que con‑
textualizar en un apelo a la conciencia y al intelecto en lo que se explica
el símbolo de la purificación regeneradora de esa bondad que se le atri‑
buye al fuego. Es aquí donde Neto se posiciona en las reminiscencias
míticas que Ovidio manifestó en su Metamorfosis. Pero aquí la evo‑
cación es meramente africana, cuando dice: “¡Si! / A las solicitaciones
místicas a la musculatura de los / miembros / al calor de las hogueras
endiosadas / en la leña de las sanzalas”.
La sacralización de esa leña que arde en las hogueras reconstruye la
mítica animista de los árboles sagrados. Lo sagrado de África tiene en
Agostinho Neto otra connotación específica a lo meramente sagrado.
La libertad sagrada es un concepto recurrente a la inviolabilidad del
hombre que no acepta la sumisión y la castración, tanto como indivi‑
duo como colectivo.
En el poema “Lloro de África” leemos: “en los batuques lloro de
África / en las sonrisas lloro de África / en las hogueras lloro de África
/ en los sarcasmos en el trabajo de África”.
Batuque, lloro, sonrisa, sarcasmo y trabajo son acciones y expresio‑
nes de un profundo sentimiento que fulgura alrededor de las hogueras
que iluminan las noches de África. Todo ese poder telúrico de las lla‑
mas que están cercadas por el coro de manos dadas y brazos alzados,
donde el ritmo de las piernas y de las caderas proclaman en esas danzas
toda una concreción iniciática que abre insondables caminos para re‑
encontrarse gracias con la tradición de los antepasados.
Cuando Agostinho Neto señala esos caminos, dice: “caminos largos
hacia los horizontes cerrados / más caminos / caminos abiertos por la
cima / de la imposibilidad de los brazos. / Hogueras / danza / tan‑tan /
ritmo / Ritmo en la luz / ritmo en el color / ritmo en el son / ritmo en el
movimiento / ritmo en las grietas sangrientas de los pies / descalzos”.
Que hermosa armonía la de esos caminos iniciáticos cuando el po‑
eta señala los dones y atribuciones, colocando a las hogueras como
telón de fondo. De esas manifestaciones tipificadas en los ritos agrarios
de África, Agostinho Neto nos lleva a otra dimensión metafísica de la
libertad de la acción para terminar con la opresión de Angola.
Pero la Angola de las antiguas y exuberantes hogueras que exhi‑
bía como proclama de libertad siempre sorprendió a los colonizadores.
spbsX_P1.indb 118 09/12/30 18:20:25
La luz y las hogueras en la poesía de Agostinho Neto 119
Las hogueras narradas por António de Oliveira de Cadornega, en su
História Geral das Guerras Angolanas (1680), encontramos percepti‑
bles crónicas donde las hogueras conformaban un ambiente de reafir‑
mación de la identidad angolana.
Estamos hablando del siglo XVII, el período en que la reina Zinga
luchaba contra los portugueses y también el período de la invasión
de Angola por los holandeses. Estos quedaron impresionados por esas
noches iluminadas por las hogueras, por los mensajes que emitían los
tambores, por la danza y por el más viejo que recreaba con cuentos de
antaño a toda la comunidad de la sanzala. Ciertamente los holandeses
divulgaron en su propio país lo que los angolanos hacían alrededor de
una hoguera. Esa trasmisión llegó a los oídos del editor y grabador,
Cornelis Danckerts. Dado los informes de los holandeses que regre‑
saban de Angola, compuso un grabado, titulado “Ignis”, alegórico a
una de esas enormes hogueras que dimensiona sus llamas encima de
un pedestal y en lo alto de ellas las contempla Eros y a su lado está
Cupido, el dios del amor. En otro pedestal están dos músicos, uno con
un clarín y el otro con un tambor, mientras un coro de infantiles ánge‑
les alados, con las manos dadas, circundan la hoguera, pero dentro del
coro a la derecha del pedestal observamos un anciano que no es más
que el cuenta cuentos. Dos de esos angelotes son negros. Todo un perfil
de personajes tipificados en las hogueras angolanas, con muy pequeñas
excepciones y variantes. Lógico que Danckerts realizo su grabado esti‑
mulado por aquellas impresiones de los que fielmente le informaron.
Digamos que la universalidad de las hogueras africanas no tiene
limitaciones. Más allá de lo mágico y de sus portentos, Agostinho Neto
supo colocar a ese fuego de hogueras en el centro de ese coro humano,
protegido con su luz y su calor de las largas noches oscuras y frías,
donde el peligro era constante. Todo un símbolo que él poeta ordena
en su poesía con una serie de claves y de códigos referenciados en la
luz, el fuego y las hogueras que eran elementos indispensables a los que
el pueblo angolano aspiraba para vencer la oscuridad colonial y verse
constantemente iluminado. Eso es lo que pretendió Agostinho Neto
al insistir con todas esas atribuciones que da a la luz, al fuego y a las
hogueras.
Nota
Conferencia leída el 30 de mayo de 2007 en el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Cuba, ante la promoción de nuevos embajadores cubanos.
spbsX_P1.indb 119 09/12/30 18:20:25
spbsX_P1.indb 120 09/12/30 18:20:25
O diferente gostar de João Vêncio
António Manuel Ferreira
Universidade de Aveiro, Portugal
João Vêncio: os seus amores, de Luandino Vieira, é um livro insólito.
Paratextualmente, apresenta‑se como “romance”. É, no entanto, duvi‑
doso que a anunciada sintaxe romanesca seja inteiramente cumprida
pelo texto. Constituindo uma longa fala do protagonista, como afirma
Fernando J. B. Martinho (2004: 9), a excelente obra de Luandino é,
essencialmente, um longo poema em prosa, cuja natureza genologica‑
mente compósita e ambígua conglomera, num mesmo fôlego criativo, a
liberdade metafórica do lirismo e a economia diegética do conto. João
Vêncio, como narrador e personagem principal, poderia, sem grande
dificuldade, protagonizar um universo romanesco. Mas para isso, seria
necessário dar voz narrativa às figuras que sobrevoam o texto, mas
que, na verdade, raramente pousam como personagens inteiramente
discerníveis. Desenham‑se, é certo, vários núcleos hipodiegéticos de‑
vidamente protagonizados, cujas histórias contribuem para a preten‑
dida aparência geral de romance. Mas trata‑se, no fundo, de meros
episódios que entram na corrente de recordação do protagonista como
factores coadjuvantes da reconstrução do mundo da infância1.
A única personagem com espessura psicossomática que ultrapassa o
esboço contístico é João Vêncio. E, na verdade, ele é também não só o
narrador, mas igualmente, num plano teoricamente pouco rigoroso, o
verdadeiro autor. Parece ser ele que controla todo o processo narrativo,
apesar das perguntas e reacções do interlocutor2; e a narração só a ele
verdadeiramente interessa, tanto no domínio estético, como na função
existencialmente terapêutica da literatura. A figura do autor‑ouvinte é
apenas o escriba, o secretário que vai colocando as missangas verbais
no fio que lhe é fornecido pela personagem. Sabemos, evidentemente,
tratar‑se de um artifício retórico legitimador da ficção, mas nem por
isso devemos atribuir‑lhe menos importância, porque é precisamente
dessa estratégia discursiva que resulta o maior rendimento estético do
texto. Tratando‑se de uma obra em que se entrecruzam linhas intertex‑
tuais de proveniência erudita e europeia, a preponderância do protago‑
nista e da sua narração inteiramente oral e carcerária assegura, de certo
modo, o desejado carácter nacional e africano, sem negar, no entanto,
spbsX_P1.indb 121 09/12/30 18:20:25
122 António Manuel Ferreira
a influência cultural do colonizador. O propósito paratextual de “am‑
baquismo literário” é, desta forma, inteiramente conseguido, tanto no
plano linguístico, como nos estratos semânticos.
Pretendendo ser um romance, o texto pode, pois, ser lido como o
grande poema confessional de João Vêncio. Repare‑se que as palavras
iniciais apresentam as desventuras e felicidades do sujeito confitente num
tom que nos surge estranhamente camoniano. A primeira afirmação fun‑
ciona como uma espécie de “Proposição” que anuncia não um conteúdo
épico, mas lírico. Tendo passado pelo Seminário, João Vêncio parece ter
aprendido as bases de uma formação humanista, não só linguística, mas
também literária, a que, provavelmente, não faltou a poesia de Camões,
pois ela é algumas vezes aludida no texto, de forma não ostensiva, mas
sempre elegantemente justificada3. Como, parece‑me, acontece no inci‑
pit. Um dos mais célebres sonetos de Camões inscreve, em tom de de‑
safogo eticamente responsabilizador, a seguinte confissão: “Erros meus,
má fortuna, amor ardente/em minha perdição se conjuraram;/os erros e
a fortuna sobejaram,/que para mim bastava o amor somente” (Camões,
1994: 170). João Vêncio, na sua linguagem colorida e ritmada, apre‑
senta um catálogo de desgraças, num tom não muito distante do poema
camoniano. À semelhança do Poeta, a personagem de Luandino acusa
a mão pesada do destino inelutável, mas reconhece igualmente a impor‑
tância da responsabilidade pessoal: “‑ Este muadié tem cada pergunta!...
Porquê eu ando na quionga?...Meus amores, meus azares, miondona…
Minhas vadiices, rambóias de quilapanga” (João Vêncio: 31).
A correspondência entre os versos camonianos e o discurso de João
Vêncio pode ainda ser completada por dois pormenores interessantes.
Por um lado, o “muadié” escritor, que ouve a confissão da persona‑
gem, assemelha‑se ao “tão certo secretário dos queixumes” da décima
canção de Camões4. Por outro lado, as “várias flamas” em que o Poeta
variamente “ardia”, como diz no soneto “No tempo que de Amor viver
soía” (Camões, 1994: 166), são equiparáveis à estrela de três pontas
e um centro – estrela de “fatum” amoroso inexorável – que ditou o
destino pessoal de João Vêncio. E há ainda um outro dado relevante: a
ligação estreita entre a ética e a estética, como coordenada estruturante
da visão do mundo. Mesmo enquanto narrador épico, Camões é mag‑
maticamente poeta, mais virgiliano do que homérico; e a fundamenta‑
ção ética de Os Lusíadas é, em grande medida, defluente do primado
da estética. É a desvalorização da arte por parte dos Portugueses que
justifica o desalento muito pouco épico de Camões5. De igual modo,
João Vêncio, como “poesista” – não se reconhece com direito ao título
spbsX_P1.indb 122 09/12/30 18:20:25
O diferente gostar de João Vêncio 123
de poeta – (João Vêncio: 40), entende o mundo a partir de postulados
eminentemente estéticos. Ele não é capaz de entender alguns comporta‑
mentos humanos que lhe surgem no caminho da vida, porque eles não
respeitam os essenciais princípios de beleza. No plano da moral sexual,
o que o incomoda não é o adultério e outros hipotéticos desvios, mas
a falta de gosto. Atente‑se na expressividade da seguinte afirmação: “E
ela aceitou um peçonha, fazer o doce numa panela tão suja, tão feia (…)
Eu gramo muito as donzelas, mulher comigo é eva antes do pecado…”
(João Vêncio, 34).
A filosofia existencial de João Vêncio é baseada na íntima desarmonia
do oximoro (Martinho, 2004: 24). O seu gostar é diferente6; afasta‑se,
ao mesmo tempo, da domesticidade gregária e da radicalidade margi‑
nal7. O lugar que ocupa encontra‑se no espaço vital da contradição. Ele
mesmo o afirma de várias maneiras, quando fala das suas origens, do
nome, dos gostos e dos afectos. No que diz respeito aos amores – tema
central e propulsor da confissão –, define‑se como “amigo de mulher
e amor de homem” (João Vêncio, 32). Mas, na verdade, ele não ama
um homem; ama Mimi, o menino diferente, no corpo e na alma, com
quem compartilha momentos encantados da infância. E assim como nas
relações com as mulheres existe uma aprendizagem dos gestos sexuais,
também com Mimi se processa uma nítida evolução erótica. De cor‑
po impenetrável8, propiciador de um desejo libidinoso que é transferido
para as mulheres9, Mimi vai aprendendo com João a total sintonia eró‑
tico‑afectiva: “eu queria ser todo, todo dele, do meu amigo. Abracei‑lhe,
segurei‑lhe, encostei no peito dele, deitámos no chãozinho, meio do ca‑
pim, beira d’água azul com música de rãs‑relas e ele sorriu‑se todo, era
o sol. Fizemos. Eu e ele. Ele e eu. Sem vergonha, nossas amorizades (…)
e nos abraçámos pelos ombros, andámos pelos caminhos da berrida do
paraíso – o anjo da espada não nos viu passar” (João Vêncio: 74‑75).
É, no entanto, importante salientar a questão da infância, porque
ela é relevante em vários planos do texto. Com efeito, a fala de João
Vêncio é, fundamentalmente, uma perdurável recordação da infância.
“Recordar” significa “fazer voltar ao coração”; ora, é precisamente isso
que faz o herói de Luandino: revê a sua infância numa perspectiva filtra‑
da pelo coração. E é também por esse meio que o lirismo condiciona o
material diegético. A recordação não afecta apenas a forma de expres‑
são, mas igualmente o elenco das experiências relatadas ao escritor‑ou‑
vinte. O narrador não conta o que quer e de forma legível – ou audível –,
mas apenas conta o que lhe dita o coração, de modo nem sempre clara‑
mente perceptível. Há mesmo momentos em que a pungência do vivido
spbsX_P1.indb 123 09/12/30 18:20:25
124 António Manuel Ferreira
lhe corta o discurso, como se regressasse ao momento da experiência, e
ainda não houvesse distância suficiente para elaborar discursivamente
uma matéria existencial que ainda não é narrável10. Isto é, a presença
obsidiante da infância é um elemento estruturante da natureza intrinse‑
camente lírica do texto. E é nesse território ético‑estético que é inscrita
– mais do que refigurada – a aprendizagem infantil do amor com Mimi.
Apesar de Vêncio dizer que o centro da estrela é Florinha; na verdade,
o ponto axial é Mimi, tanto no plano ético, como nos particularíssimos
matizes estéticos. O eixo erótico‑afectivo da infância é a “amorizade”,
uma relação que, no início, surge incompleta, mas que rapidamente pa‑
rece superar todas as dificuldades de interpenetração corporal. E é im‑
portante salientar esta dimensão corpórea da “amorizade”, porque é
só ela que confere pertinência ao neologismo. O afecto que existe entre
João e Mimi é somaticamente consumado, tem uma clara e inequívoca
expressão sexual. Não se trata, portanto, de neoplatonismos deslocados
nem de frustrações adiadas. Estamos, pelo contrário, perante uma visão
da sexualidade juvenil que assenta em pressupostos morais muito dife‑
rentes dos europeus mais canonizados. Mesmo nas literaturas inglesa
e alemã, em que são relativamente comuns os casos de amizade apai‑
xonada entre rapazes, não é fácil encontrar exemplos de representação
literária tão eticamente jubilosa.
Evito, deliberadamente, terminologia teórica referente aos estudos
culturais e às questões de género. Mesmo a palavra “homoerotismo”
não tem grande pertinência neste contexto psicológico e cultural. Para
João e Mimi, a vivência da sexualidade não obedece a fronteiras ter‑
minológicas. A acusação de “panasquice” (“a professora carrasca nos
chamou de panasca”, João Vêncio: 75) e ofensas semelhantes provêm
apenas das instâncias de normalização, cujo poder é, de algum modo,
exógeno: a escola, o tribunal e a prisão11. Mas não há, nas persona‑
gens, a interiorização morbosa ou violenta do labéu acusatório. Não
há, no João Vêncio adulto, qualquer tentativa de palinódia erótica – ao
contrário do que aparece acontecer em Camões −, nem outras formas
de ludibriado reforço psicológico. Pelo contrário, a recordação erotiza‑
da da infância constitui, apesar de tudo, a pervivência de um conheci‑
mento edénico, anterior à noção de pecado.
Não há, na narrativa de Luandino, elementos que nos permitam
configurar o futuro de João Vêncio no domínio complexo da sua sexu‑
alidade. Ou melhor, como recorda Fernando J. B. Martinho (2004: 12),
na idade adulta ele é um “chulo”, que explora, sem filtros eufemísticos,
as suas “baronas”. Mas isso não afecta muito o núcleo da história que
spbsX_P1.indb 124 09/12/30 18:20:25
O diferente gostar de João Vêncio 125
ele narra, porque o que realmente interessa é o que acontece no tempo
da infância. Só aí as experiências têm sentido. A idade adulta apenas
tem pertinência, neste contexto, como lugar da castração estética e do
consequente empobrecimento ético. Mas, mais uma vez, todo o pro‑
cesso de redução humana é exterior à personagem. Fica na esfera do
tribunal, cujos juízos falaciosos são recusados pelo réu12.
Como tem sido salientado pela crítica, João Vêncio: os seus amores
enquadra‑se no âmbito de uma literatura de afirmação da cultura an‑
golana e, por consequência, os seus pressupostos ideológicos mais evi‑
dentes emanam de uma vontade autoral interessada em circunscrever
um universo sociopolítico e estético de raiz autónoma, em confronto,
portanto, com os mecanismos de constrição colonial. São naturalmente
visíveis e actuantes os realemas de denúncia empenhada – a miséria, a
violência irracional, a degradação do ser humano. Não me parece, no
entanto, que resida nesse domínio a energia resistente do texto. Por um
lado, os factores de denúncia – mormente o poder repressivo da escola
e a opressão selectiva da lei, que não se confundem com a justiça −,
tanto definem o espaço social de João Vêncio como qualquer outro de
similar natureza. A particular representação da escola e dos tribunais
pode, por exemplo, ser facilmente transposta para Portugal. Por outro
lado, as grandes questões que motivam a reflexão poético‑filosófica da
personagem fazem parte das inquietações essenciais, partilhadas pela
consciência humana, independentemente das circunstâncias espacio‑
temporais. Creio, portanto, que mesmo num plano de afirmação da li‑
teratura angolana, a abertura semântica da obra luandiniana constitui
um elemento muito importante de afirmação estético‑literária. Ou seja,
sem perder os contornos específicos de texto nacional, alcança, pela
qualidade artística, o patamar universal. Penso ser isso que interessa a
todas as grandes obras e a todos os verdadeiros escritores. João Vêncio,
com o seu “diferente gostar”, e Luandino Vieira, com o seu “diferente
escrever”, redefinem o espaço complexo da alma humana.
Referências bibliográficas
Fernando J. B. Martinho, “Prefácio”, in Luandino Vieira, João Vêncio: os seus
amores, Lisboa: Caminho, 2004, 9‑26.
Luandino Vieira, João Vêncio: os seus amores, Lisboa: Caminho, 2004.
Luís de Camões, Rimas, Edição de A. J. Costa Pimpão, Coimbra: Almedina, 1994.
Salvato Trigo, Ensaios de Literatura Comparada Afro‑luso‑brasileira, Lisboa:
Vega, s/d.
spbsX_P1.indb 125 09/12/30 18:20:26
126 António Manuel Ferreira
Notas
1. Comentando a questão, Fernando J. B. Martinho afirma o seguinte: “Um
conjunto de estórias que, embora não indo além do traço rápido e largo do
esboço, de modo incisivo contribui para caracterizar o mundo em que se
situam as desventuras amorosas de João Vêncio – o musseque”. Mais adiante,
o ensaísta resume as quatro estórias fundamentais: a estória de Diodato, a
figura de padre Kamujinha, o capítulo de nhô Pidrim e a estória de Ninito”
(Martinho, 2004: 19‑20).
2. Apenas alguns exemplos: “Não aceita, amizade e amor desinvangélico? O
muadié é do baixo astral”; “Poeta? Não insulte, muadié. Sou um poesista”;
“Muadié sorri‑se?”; “Religião? Todas!”; “Se morte existe? O muadié tem
cada pergunta!...” (João Vêncio: 32, 40, 52, 53, 84).
3. Como, por exemplo, a seguinte afirmação: “Nunca que fui menos forro senão
com esta bárbara‑escrava” (João Vêncio: 69).
4. Evidentemente, o “tão certo secretário” camoniano é o papel em que o poeta
escreve. Mas para João Vêncio, o “muadié” funciona como o seu papel de
escrita.
5. Pense‑se, como exemplo, na célebre estrofe noventa e sete do canto quinto de
Os Lusíadas, que termina da seguinte forma: “Porque quem não sabe arte,
não na estima” (Os Lusíadas, V, 97, 8).
6. “O meu gostar é diferente. Nasci pessoa de educação, não sou ciumoso,
aprendi que o amor cansa, a amizade descansa” (João Vêncio: 32‑33).
7. Segundo Salvato Trigo, “o interesse do autor não é contar a vida marginal
de João Vêncio, um anti‑herói picaresco, mas servir‑se dela para castigar o
sistema colonial pela violação profunda da língua, símbolo por excelência do
poder colonial português” (Trigo, s/d: 158).
8. “Fizemos frente‑a‑frente – raivosos de não ser como marido e sua mulher,
nossos pitossexos rebitados chocando‑se, querendo esconder‑se em cada um,
cada qual” (João Vêncio: 63).
9. “Mas o amor dele, não era como o meu: o dele quindele de pureza. E eu
queria saldar no corpo dela, nos seios gordos, as lágrimas da amizade com o
Mimi, a feieza da Màristrêla. Eu tinha já oito anos” (João Vêncio: 40).
10. Atente‑se nos seguintes exemplos: “Mas eu não os tenho para contar para
o siôro, deixamos ainda dormir os casos – a missanga é pesada, o fio está
esticando”; “Desculp’ ‘inda! Ia rebentando o fio – a missanga espalhava,
prejuizão” (João Vêncio: 68, 82).
11. Segundo Salvato Trigo, “A escola e a prisão são, do ponto de vista dos
angolanos, duas estruturas coloniais complementares: a primeira pratica a
“tortura” espiritual; a segunda tortura fisicamente” (Trigo, s/d: 153).
12. Por exemplo: “Que sou lombrosiano, o juiz já falou. Puto dela que eu ainda
não engoli”; “O sádico, o herejes, sou eu? Malembe‑malembe, muadié: os
casos só, não falavam a verdade; é preciso as ideias” (João Vêncio: 35, 43).
spbsX_P1.indb 126 09/12/30 18:20:26
Espaços insulares na literatura angolana:
Rioseco, de Manuel Rui
Ana Lúcia Sá
Universidade da Beira Interior, Portugal
Manuel Rui é um escritor angolano nascido no interior de Angola, na
cidade do Huambo, e é o autor de Rioseco, um romance feito, todo ele,
ilha, espaço mediador entre os mundos da terra continental e do mar.
Os seus protagonistas, Noíto e Zacaria, demandam a paz numa
vida de começos constantes. Este casal (em que Noíto é umbundu e
Zacaria cokwe) andou pelo seu país até chegar à costa, onde se situa a
capital, para, daí, navegar até uma ilha, a sua última paragem de um
percurso de fuga à guerra civil que se vivia então em Angola.
Recupere‑se que, no momento da independência, Angola viu a guer‑
ra perpetuar‑se, após o confronto armado de luta pela libertação ini‑
ciado em 1961, contra o governo colonial português. Depois de 1975,
o país conheceu dois momentos de uma guerra que opôs, de 1975 a
1992, o partido no poder, Movimento Popular de Libertação de Angola
(MPLA), a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) e a União
Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), com os res‑
pectivos aliados, e, de 1992 a 2002, ano da morte de Jonas Savimbi e
da assinatura de um acordo de paz vigente até hoje, uma guerra que
opôs o MPLA e a UNITA, respectivamente, o partido vencedor e o
derrotado das primeiras eleições em Angola.
Antes da paz – é este contexto a que o romance de Manuel Rui
em apreço se indexa –, a catástrofe humanitária em Angola era muito
grave. A agricultura era impraticável devido aos confrontos bélicos e à
minagem dos terrenos, a fome grassava pelo país, povoado por milhões
de deslocados que acorreram às cidades em busca de promessas de um
futuro melhor ou, tão só, em busca da sobrevivência.
Neste quadro de guerra e de fome, a migração para as cidades, em
particular para Luanda, era, naturalmente, uma das hipóteses que as
pessoas se davam para viver. Zacaria, a primeira personagem a surgir
em Rioseco, olha para o mar e prepara‑se para deixar a terra em direc‑
ção a um novo mundo, a uma mudança de destino, na sua procura de,
“nem que seja só por desespero, um lugar” (Rui, 1997: 9). Por estas
palavras, nós acabamos por condensar o romance, feito lugar.
spbsX_P1.indb 127 09/12/30 18:20:26
128 Ana Lúcia Sá
Os dez anos anteriores de Zacaria e de Noíto caracterizaram‑se
sempre pela errância, pela fuga, com os bens (a casa, os pertences)
deixados para trás, como no passado ficaram também as notícias que
não chegam dos mais próximos. A ilha era a única experiência que lhes
faltava (Rui, 1997: 14), uma experiência que já não é feita apenas de
terra, mas também de mar.
“A trouxa, os sobrados de uma aventura dolorosa” (Rui, 1997: 30)
são o símbolo físico de um trajecto que teve como tópico dominante
e omnipresente a guerra, provocadora de mortos, de feridos e, como
enfatiza Noíto, de fome (Rui, 1997: 35), cujos mortos não se encon‑
travam nas contas das balas. Desta forma o presente surge como a
inauguração não só de um tempo novo, mas igualmente de um novo
espaço, ambos opostos aos anteriores.
O espaço comporta a paz e a vida e, naturalmente, a sua inaugu‑
ração como novidade não anula que o anterior continue a fazer‑se
presente. A recordação da terra natal, quando se observa o mar, por
exemplo, estabelece a distância física e temporal que se faz pela evoca‑
ção de elementos naturais. À distância, relembram‑se os animais, como
salamé1, ou as frutas, como os maboques (Rui, 1997: 37).
A natureza é instrumentalizada como pretexto de evocação, consti‑
tutiva de uma memória espacial, de comparação e de construção de um
novo espaço. É com base nestas variáveis que a fauna e a flora da ilha,
bem como a fauna e a flora da terra, são descritas com pormenor pelo
narrador, que concretiza, assim, a função da descrição não como um
elemento decorativo do romance, mas, nas palavras de Salvato Trigo
sobre o chamado “texto africano moderno”, como uma tradução da
“fala hieroglífica da oratura”, que prolonga a escrita além do concreto
para a fazer entrar nos “espaços cosmogónicos”, africanizando o dis‑
curso (Trigo, 1981: 196‑197. Itálico no original).
O espaço enlaça‑se com a simbologia e a natureza torna‑se, assim,
significação. Nas descrições pessoais de evocação memorialística – de
forma mais insistente a cargo de Noíto –, assinala‑se uma relação de
correspondência com a natureza, já que se referem condições físicas e
climáticas, cores, sensações e sentimentos positivos que a beleza dos
espaços convoca2. Do passado, é a natureza que se quer presentificar
e preservar como reservatório de um cosmos benéfico. São, buscando
palavras ao já citado Ruy Duarte de Carvalho, enquanto escritor‑via‑
jante no rio São Francisco, Brasil, “Espaço matricial, paisagens literá‑
rias” (Carvalho, 2006: 100). Ou, desdobrando, espaços matriciais que
o autor elabora em paisagens literárias.
spbsX_P1.indb 128 09/12/30 18:20:26
Espaços insulares na literatura angolana 129
De uma outra forma se faz a apropriação do espaço em Rioseco, e
novamente com Noíto no centro: a necessidade constante que sente de
fazer uma lavra, para a qual é necessário que se escave até se encontrar
água salobra, que permite a concretização do sonho pela possibilidade
que a cacimba assim aberta oferece de praticar uma agricultura de re‑
gadio. Como se verifica, prolonga‑se a vida passada na presente, ainda
que as condições – como as geomorfológicas mais básicas de a casa de
Noíto ser rodeada de areia e não de terras aráveis – não sejam as mais
indicadas para tal, mas que acabam por ser superadas na geração do
novo cosmos.
Em suma, ao longo da estadia de Noíto e de Zacaria na ilha, eles
transformam o espaço em lugar, ou seja, num espaço que se define,
nas palavras de Marc Augé, como “identitário, relacional e histórico”
(1994: 83), que já o era para a população habitante.
A ilha é um lugar identitário porque permite a identificação entre
o humano e o domínio espacial. O cenário é participante nas activida‑
des que enformam a identidade do povo da ilha, nas suas actividades
económicas pesqueiras e nas actividades transmissoras da sua mundi‑
vidência. A ilha como lugar relacional sintetiza‑se na interacção entre
as personagens, pautada pela solidariedade e pela vivência familiar. A
ilha é, por fim, um lugar histórico porque lá se constrói a vida em paz,
porque lá se congregam os percursos que a metaforizam em cadinho
mais tranquilo de um país em contexto de guerra.
Através de signos espaciais, e no que respeita ao tópico relacional,
a percepção e a representação do outro percebe‑se numa expressão
que surge amiúde em Rioseco para caracterizar as pessoas que, como
Noíto, se encontram naquela região: “no mato”, implicação de se ser
“do mato”, um território longínquo, espacial e simbolicamente oposto
à cidade e aos seus costumes que poderão considerar‑se como mais evo‑
luídos, porque dependentes de factores tidos como mais atrasados, sem
o contacto com as inovações que a cidade mais facilmente possibilita.
Para conhecer as referências da recém‑chegada, Zinha pergunta a
Noíto como se fermenta a “kissangua”3 “no mato”. Esta expressão
desagrada a Noíto, sentindo‑a como um menosprezo, pelo que, na res‑
posta, opta por valorizar a circunstância de ser originária de um local
longe da grande cidade, o que lhe facilitou as várias passagens pelos
percursos em direcção ao litoral:
Eu nasci no Huambo. Uma terra muito rica (…). Eu tive bois. Mas
conheci outras terras no Moxico, Lunda, Kuando‑Kubango, Huíla,
spbsX_P1.indb 129 09/12/30 18:20:26
130 Ana Lúcia Sá
Kunene (…). A kissangua, na minha terra, fermenta com raiz, o nome
é mbundi (Rui, 1997: 73‑74).
Deste modo, e para que a expressão “no mato” não se lhe aplique
com as conotações de desprestígio, Noíto acaba por condensar um país
pelos locais por onde passou e onde momentaneamente se fixou. Revela
o conhecimento que tem através de uma experiência feita viagem.
O tema da viagem e a migração constantes permitem, no romance,
um jogo entre a continentalidade e a insularidade. Este jogo com o eixo
da continentalidade representa‑se mediante dois âmbitos espaciais: o
mato, que ficou no passado e que se reactualiza pelas práticas e pelas
palavras das restantes personagens, como se verificou, e a cidade, o
outro lado da ilha, presente através do mercado frequentado por Noíto
e pelas personagens que interrompem o quotidiano insular e que vivem
na cidade.
Estes veraneantes e funcionários do Estado que interrompem o quo‑
tidiano ilhéu caracterizam‑se, avaliando‑se as suas atitudes e as refe‑
rências aos habitantes da ilha, por aquilo que José Carlos Venâncio
denomina como “síndroma do centralismo luandense”, que se define
como a arrogância que alguns habitantes da capital sentem sobre o res‑
tante território (Venâncio, 2005: 128. Itálico no original). Esta atitude
implica que se construam discursos localistas em relação aos outros
espaços angolanos, como se passa no romance em apreço.
Estes intrusos não perturbam o facto de Noíto e de Zacaria encon‑
trarem uma comunidade estabelecida e de nela se inserirem, aprenden‑
do a vida existente e para eles desconhecida. É desta forma que, a partir
da construção da vida num novo espaço, se faz a aprendizagem de uma
nova vivência, pela atenção ao gesto e pela concretização máxima dada
à palavra, em três vertentes.
A primeira coloca a palavra no centro do simples acto prazentei‑
ro de conversar durante a realização de tarefas quotidianas. Ao longo
da obra, os temas escolhidos para os ritos conviviais descritos relacio‑
nam‑se com as personagens que povoam a ilha e o que de novo trazem.
Outro conteúdo a assinalar no que a este tópico diz respeito é a divisão
baseada no género e na idade. O cultivo dos momentos em que os
jogos da oralidade são primaciais em Rioseco, ainda que transcritos
para a escrita romanesca, que os tenta pormenorizar, não deixam de
contemplar as características gerais da oralidade assinaladas por Jacint
Creus: “centrada en palabras, pero más que palabras / opuesta a escrito
/ opuesta a no verbal” (Creus, 2005: 6).
spbsX_P1.indb 130 09/12/30 18:20:26
Espaços insulares na literatura angolana 131
Em segundo lugar, para além da categoria apresentada dos jogos
sociais centrados na palavra, o universo da oralidade surge igualmente
no contexto de produção e de recepção de mensagens de tradução e de
aprendizagem de mundos por Noíto e por Kwanza, personagem meni‑
no que partilha o seu nome com o do maior rio de Angola. É Kwanza
quem revela a Noíto os “segredos daquela ilha” (Rui, 1997: 57). É
ele quem lhe ensina uma tarefa masculina, a arte de ximbicar ou fazer
navegar um barco (Rui, 1997: 186‑187).
Por fim, e em terceiro lugar, há que atender à persistência da me‑
mória linguística que surge em Noíto como a condensação de um país.
Desta personagem sabemos desde cedo que é analfabeta, umbundu e
que fala muitas línguas de Angola, aprendidas nas suas viagens: “mu‑
muíla, kuanhama, umbundu, kikongo… só português e kimbundu é
que quase nada e compreende muito pouco” (Rui, 1997: 14), ou seja,
não saberá as línguas do centro aglutinador, acreditamos nós num pri‑
meiro momento, o que depois se revela ser falso. Afinal, esta é uma
atitude pouco coerente com muitos dos valores de sinceridade propug‑
nados por Noíto nas suas palavras, personagem que se vai construindo
de forma complexa e revelando os paradoxos da condição humana que
relevam em contexto no qual a desconfiança é uma arma de defesa.
O Estado, também em Rioseco, é frágil e não abrange todos. E,
quando tenta chegar a um núcleo populacional como o do romance,
surge de modo a destacar o fosso existente entre o mundo urbano e
o rural, entre a administração pública e a população, entre uma eli‑
te política e os reais vivenciadores de dificuldades, representados nas
personagens que nos acompanham ao longo do romance. Um exemplo
de periferização do espaço da ilha em relação ao da capital, ali tão
perto, surge a respeito dos trâmites por que haveria de seguir o funeral
de Sofia, filha de Mateus, assinalando as falhas de comunicação e de
institucionalização entre a ilha e o outro lado, a cidade. O Cabo do
Mar lembra que é necessário tratar da certidão de óbito com a cédula
de Sofia ao outro lado, um processo bastante complicado que pode
implicar transportar‑se o cadáver de barco e depois de candongueiro,
facto a que as pessoas se opuseram (Rui, 1997: 266).
Se a ilha é periferia, ela é também sentida nas suas divisões internas.
Na sua condensação do espaço, a ilha oferece duas conotações para
Noíto: “Esta terra, aqui, na nossa casa, afinal são duas. Na sanzala
de Mateus é muito diferente” (Rui, 1997: 97). Desta forma, ela está
numa situação de fronteira, pela localização da sua casa, percebendo
os dois mundos, o dos veraneantes de fim‑de‑semana e o da sanzala.
spbsX_P1.indb 131 09/12/30 18:20:26
132 Ana Lúcia Sá
Este espaço poroso é habitado por uma personagem também ela poro‑
sa que, tal como a fronteira, transgride, percorre, atravessa e articula.
Essa posição espacial e cultural de Noíto faculta‑lhe a capacidade de
separação entre os dois mundos, dos quais ela escolhe o primeiro como
forma de sobrevivência económica e o segundo como a base da sua
aculturação aos costumes da ilha.
Mar e terra: os discursos de pertença e de localidade de Noíto vão
variando, de acordo com o que sente da parte das pessoas da ilha, do
que sente em relação à sua própria sorte naquele local e junto delas.
Como esta dicotomia, outras há que vertebralizam a obra: o azar e a
sorte, a vida e a morte, a guerra e a paz, o homem e a mulher, o lembrar
e o esquecer. Esta é a essencialidade do romance: as dicotomias de que
se faz uma vida, um percurso de uma personagem, de um território.
Romance construído com base em fazer e desfazer, em várias repe‑
tições de atitudes e de pensamentos, muitas vezes contraditórios, com
o fulcro em Noíto, também a imagem de feitura da ilha se desvanece
no seu epílogo: o Mussulo base para esta ilha romanceada é um es‑
paço com uma dupla identidade, é ilha no Cacimbo e península na
Estação das Chuvas. Ao aperceber‑se de que afinal não vivia numa
ilha, enquanto tal, e de que o isolamento não poderia ser interrompido
pelo barco, Zacaria, homem do rio, desabafa com um pescador desco‑
nhecido e construído como se de uma espécie de Caronte se tratasse:
“Enganei‑me na minha vida com o mar e com a ilha. (…) Deixa‑me
chorar” (Rui, 1997: 515‑516).
Na dolorosa criação de um lugar que se imaginava diverso, na cons‑
trução de uma nação pelas margens, tema tão caro aos estudos pós‑co‑
loniais e tão verificado nas personagens deste romance, a história é, em
Rioseco, a condensação dos vectores insularidade e oralidade, o espaço
diferente do continente receptor de paz e da carga ancestral de quem
o escolheu.
Referências bibliográficas
Bibliografia activa
Manuel Rui, Rioseco, Lisboa: Cotovia, 1997.
spbsX_P1.indb 132 09/12/30 18:20:26
Espaços insulares na literatura angolana 133
Bibliografia passiva
Jacint Creus, Curso de Literatura Oral Africana. Lecturas Comentadas de Literatura
Oral de Guinea y del África Negra, Vic: Ceiba Ediciones, Laboratorio de
Recursos Orales, 2005.
José Carlos Venâncio, A Dominação Colonial. Protagonismos e Heranças, Lisboa:
Editorial Estampa, 2005.
Marc Augé, Não‑Lugares. Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade,
Vendas Novas: Bertrand Editora, 1994.
Ruy Duarte de Carvalho, Desmedida. Luanda – São Paulo – São Francisco e Volta.
Crónicas do Brasil, Lisboa: Cotovia, 2006.
Salvato Trigo, Luandino Vieira, o Logoteta, Porto: Brasília Editora, 1981.
Ute Luig e Achim Von Oppen, “Landscape in Africa: process and vision. An
introductory essay”, Paideuma, 1997, pp. 43: 7‑45.
Notas
1. Salamé é uma formiga branca ou térmita.
2. Sobre o estabelecimento de uma relação de correspondência entre o ser
humano e a natureza, consulte‑se Luig e Von Oppen, 1997: 18.
3. “Kissangua” é cerveja de milho.
spbsX_P1.indb 133 09/12/30 18:20:26
spbsX_P1.indb 134 09/12/30 18:20:27
The Detective Novel Reversed.
Crimes, accusations and investigations;
the other Pepetela
Francisco Salinas Portugal
University of Coruña, Spain
Introduction
By the publication of Jaime Bunda, Secret Agent, in 2001, Pepetela
was already a canonical figure within lusofone literature, with a cor‑
pus of more than ten narrative works, some multi award‑winners, and
nearly all translated into various languages. An important intellectual
presence within Angolan society, he received recognition as such with
the awarding of the Camões prize in 1997. The publication of Jaime
Bunda would alter, “a priori”, the horizon of expectation of a reader‑
ship accustomed to a characteristically serious, formal and transcen‑
dent literary production – historical fiction, national construction, so‑
cial criticism having been the constant vectors of the Pepetelian oeuvre.
Just as his reputation seemed assured, Pepetela moved to the detective
novel, something new to Angolan literature and considered a less seri‑
ous genre.
That novel inaugurated a new genre in the author’s work, and 2003’s
Jaime Bunda e a Morte do Americano (Jaime Bunda and the Death of
the American) continued the series starring the eponymous detective.
Also, in 2007, Pepetela releases O Terrorista de Berkeley, California
(The Terrorist of Berkeley, California) a short novel which, although
being different in conception from the previous works, could be con‑
sidered a detective or mystery novel.
Because it is the novel which inaugurates the detective novel as part
of Pepetela’s ouevre, and for reasons of space, this paper will concentrate
on the first of the two novels cited: Jaime Bunda, Agente Secreto.
The status of the novel
With the detective novel, Pepetela positions himself at a certain
literary marginality, in one of the genres which Mouralis terms as
spbsX_P1.indb 135 09/12/30 18:20:27
136 Francisco Salinas Portugal
counterliterature. The french critic explains: “substituting preceding
modes, the detective novel, science fiction, comic and graphic novel
play a role which before was that of folk poetry, melodrama or popular
fiction. Therefore they constitute, from the beginning of the century, a
particularly important aspect of written counterliterature” (Mouralis,
1982, p. 55).
The novel’s title immediately reveals an important characteristic of
the work: its humorous and sarcastic tone, which Pepetela uses from
start to finish in order to denounce the various ills of Angolan society.
It’s notable that the name chosen for the investigator, the main char‑
acter in any detective novel, is Bunda (“Arse”), a name that describes
a physical characteristic and causes hilarity for the reader, thereby re‑
vealing the sarcastic, parodic tone and the at times cruel humour of the
novel.
The author includes two elements which are essential to all crime
novels: a crime and an investigation (I. M. Cerezo, 2006, p. 39). In this
way, mystery and investigation are the basic premises of the story. As
Bella Josef has indicated, the writer invents a mystery for the investiga‑
tion and an investigation for the mystery. Developing side by side, the
investigation brings to mystery a rare and marvellous efficiency, where‑
as the mystery confronts the investigation with a singularly frightening
opacity (Josef, p. 236).
However, being a detective novel, Jaime Bunda, Agente Secreto par‑
ticipates in other discourses through which connections can be made
with the author’s previous work.
Jaime Bunda is a detective novel (there is a crime, an investigator,
an investigation and a solution to the conflict derived from this pro‑
cess), but there is also a harsh political and social criticism comparable
to that in O Cão e os Caluandas (The Dog and the Luandians) or A
Parábola do Cágado Velho (The Parable and the Old Tortoise). The
novel, therefore, occupies a central space between detective novel and
social critique, with this second aspect of the work ultimately occupy‑
ing the interest of the reader, whose attention is drawn more to the
critique of Luandan society than to the plot. The investigation appears
not to have as its aim the discovery of a criminal, but the bringing to
light of a social violence in which the rape and death of Catarina is but
a minor element. We will now speak briefly of the discursive strategies
the author uses to carry out his aims.
spbsX_P1.indb 136 09/12/30 18:20:27
The Detective Novel Reversed 137
1. The narrators.
The first characteristic which surprises the reader is the multiplicity
of narrators. Not having a single narrator through which the reader
can construct the plot, Pepetela situates different narrators in the inte‑
rior of the text. In fact, the author, assuming the role of principal narra‑
tor, or first level narrator, reminds us at every moment that he is the one
who organises the tale: “And is it true that I, the author, should leave
this perhaps imprudent narrator place this phrase from boss Chiquinho
Vieira here? Shouldn’t it remain hidden until near the end? Doubts and
more doubts, life is ruled by them” (p. 18).
Graphically marked by a typographical change (italics) the author/
first level narrator, opens and closes the novel in the “Prologue” and
“Epilogue” and takes advantage of the opportunity to theorise about
meta‑literary aspects of the work, and to show the reader that it is the
author‑narrator who is the true demiurge and constructor of the dis‑
course which is presented us:
First of all I’d like to thank this kindly narrator for the work she has
done, but I have to let her go […] and for this reason I call on another
narrator.
And because all of us should have a second chance in life […] I give
again the word to the narrator who began this tale, with the hope that
he has learnt from his errors and from my criticisms. We’ll see if this
indulgence is rewarded… (p. 167).
In creating a first‑level narrator alongside various second‑level nar‑
rators, a “mise en abyme” is produced in which the text is placed at
a distance from the reader‑spectator, thereby reducing his/her level of
implication and empathy with the content of the narrative.
2. The representation of social violence.
This is a theme which cuts through the entire story and is symbol‑
ised by corruption, an identifying factor of Angolan society.
In fact, corruption is, unhappily, a constitutional element of almost
all new African countries, and a sign of the social exclusion in which
the dominant groups charged with maintaining the “purity” of the
foundational projects of independence participate. When this corrup‑
tion affects those permitted the exercise of institutional violence, the
spbsX_P1.indb 137 09/12/30 18:20:27
138 Francisco Salinas Portugal
police, this violence is, if possible, even greater, as is demonstrated by
the interrogation directed by D.O. in the presence of Armandinho and
Jaime Bunda:
The intern continued to observe the spectacle, forcing himself not to
show any emotion […] Bunda wasn’t exactly against violence and the
scene involving Antonino das Corridas proved it. But he was against
physical force. Just thinking about all that kicking and punching tired
him. He was already injured, almost broken; imagine if he had to use
his hands and legs to force the stubborn suspect to talk (p. 255).
If violence is an intrinsic characteristic of the crime novel, in this
case it goes beyond the concrete case of the death of a child and be‑
comes a central theme of the novel. Gratuitous violence and violence
as a mechanism of survival are so prevalent as to overshadow the more
usual discourse of criminality of the detective novel – a more or less
mysterious crime.
3. The negation of literary genre.
Even though a part of this paper deals specifically with the negation
and parody of the detective fiction genre, we would like to highlight
the ideologically conservative aspects of a genre in which truth always
triumphs. Criticising the genre allows us to criticise the ideological im‑
plications inherent to it.
The parody of genre
Developing with industrialisation, the detective novel as tragic
chronicle of desperate and tumultuous lives in the metropolis (Jozef,
p. 223) gradually escapes its status as sub‑literature (as defined by
Edmond Wilson) to which it is even now condemned, and begins to
occupy a prime position as so‑called serious literature, becoming a new
standard for genre production.
There are various ways to define the genre, but we will rely on two
characteristics identified by Bloch (quoted. in Josef, p. 234): suspense
as fruit of an intellectual competition between the detective and the
reader, and a revelation or unmasking which accentuates the impor‑
tance of detail.
spbsX_P1.indb 138 09/12/30 18:20:27
The Detective Novel Reversed 139
The detective novel begins with an apparently inexplicable mys‑
tery which the investigation‑reconstruction of the detective will solve
through the “scientific” elimination of all the (im)possibilities. A dou‑
ble or superimposed story is thus created: “because it contains both
the story of the crime as well as the story of the investigation which led
to the discovery of its perpetrators and the clarification of the circum‑
stances in which it was committed” (Perkowska‑Álvarez, p. 222).
Pepetela demotes the crime and emphasises the importance of the
investigation. Catarina, the fourteen year old girl, is lured into a black
car to be raped and killed. Powerful figures (as represented by Bunker)
seem to have a deep interest in the investigation but responsibility for
carrying out the task is conferred on the intern Jaime Bunda, who does
not seem to be the most professional or expert detective. The novel
follows the various clues of the investigation and, in a surprising and
showy ending, reveals the criminal − even though Bunda is not the one
who discovers the assassin. The killer is, in fact, a son of a deputy of
the ruling party, as Kinanga explains to Jaime Bunda at the end of the
story: “Involuntary homicide, therefore […] Rape doesn’t come with
such a long jail term, and what’s more, it’s a girl from an unimportant
family; with a good lawyer the kid should come out relatively ok” (p.
305).
Chance leads to the criminal but also impedes punishment, against
what is to be expected in the poetics of this genre. The assassin will not
be punished because of the political pressures which will be exerted
to save him (accident and chance, once again corruption as social vio‑
lence). To get to this unexpected situation (given the normal logic of the
detective story) we need to refer to the way in which the investigation
is carried out.
Jaime Bunda takes authors of detective novels as models for his
investigations:
His childish imagination was fed on books that no longer exist, books
with arresting titles and covers […] which Uncle Esperteza do Povo, an
old guerrilla fighter in the struggle against colonialism and now poli‑
ceman, read and reread with the hope of learning this new trade, the
methods of which escaped him. It was certainly those books which led
him to accept the proposal of his cousin D.O. and which led him to the
SIG […]. There is never a perfect crime, justice always triumphs, evil
will always be defeated – he had learnt these absolute truths in these
books. He was going to show that his idols – Spillane, Chandler and
Stanley Gardner – were absolutely right, and that there were no perfect
crimes, only imperfect detectives (pp. 26‑27).
spbsX_P1.indb 139 09/12/30 18:20:27
140 Francisco Salinas Portugal
In this reflection, taken from the start of the novel, Jaime Bunda
already declares his method of investigation, which is to say that this
methodology is declared for him − yet another distancing device. Those
that decide his methodology are not real people but literary characters;
the real is replaced by its mirage.
All throughout the text the narrator occasionally reminds us that
the detective novels are a guide to his investigation: “but Jaime Bunda
remembered that, in order to fill out their report‑sheets, the detectives
in the novels always ensnared the people they interrogated” (p. 38).
Bunda finds a twin soul in Kananga, with whom he not only a shares
an investigative role but also literary tastes:
…have you read Conan Doyle?
Ah, from Sherlock Holmes? Of course.
Jaime Bunda was thrilled, finally he had found a civilised policeman, a
twin soul (p. 47).
Books serve, therefore, as investigatory tools, but they also serve to cre‑
ate new situations: “and the D.O. wants me to invent a crime to pin on
the …, but how do I find time? He needed to calm down, leaf through
some books of his collection and steal an idea from some master of
crime fiction…” (p. 204).
This procedure is reminiscent of that great literary figure, Don
Quixote, who also substituted for reality the appearance of reality
which his books presented him. In this way Pepetela criticises the con‑
ventions of the detective novel in the same way that Cervantes criti‑
cised the conventions of the adventure novel.
The hero
In crime fiction the detective is a key figure, because without him
the investigation would not take place and the mystery would remain
unsolved. Without entering into the theoretical status of the hero, we
should remember that this is a category which is reserved for a central
figure whose importance in respect to the various constitutive elements
of the narrative, and to other characters, is emphasised in his/her privi‑
leged relationship to these (Reis e Lopes, pp. 187‑188). If the hero is an
individualised agent, as Luckács reminds us, in the detective novel his/
her dominion is total.
In reality, the detective is the central character because, among other
things, he is the one about which the reader has more information:
spbsX_P1.indb 140 09/12/30 18:20:27
The Detective Novel Reversed 141
physical characteristics, psychological makeup, behaviour, education,
etc. This is reflected in the title of the novel, which is taken from the
investigator’s name, Jaime Bunda, “who is the true star and main char‑
acter of this story” (p. 44).
That which first strikes the reader about Jaime is his physique, which
coincides neatly with his surname: “It was in one of these [chairs] that
Jaime placed his portly behind, exaggerated in relation to his body, a
physical characteristic which had given him his name. […] in fact his
buttocks were exaggerated. In truth, he tended towards roundness”
(p.13).
Apart from this distinctive feature, which is referred to repeatedly,
other physical attributes are added: the fondness for food and drink
being the last in this list, even though it is also used as a mark of social
distinction.
Besides these physical traits, the detective’s shrewdness becomes ap‑
parent, as does his capacity for observation. Unfortunately however,
this clear‑sightedness does not, as would be expected, lead to a reso‑
lution of the mystery, but instead leads to the detective’s meandering
blindly down paths which lead nowhere.
In fact, as Martín Cerezo indicates, the detective recomposes the
disorder unleashed by crime; his objective is the return to a previous
order: truth achieving an ordered consciousness and justice achieving
social order (Cerezo, p. 58).
Jaime Bunda, through a warped deduction which is the result of an
absolutely misguided investigation process, repairs a certain disorder,
but not that provoked by the crime. The disorder Bunda resolves is that
provoked by the social crimes of corruption and state fraud (represent‑
ed by the counterfeit bills swindle), something which leads us back to
the reference already made to the parody of genre. The detective story
almost disappears or is placed on a second level.
The face of the power
Power is represented by that Kafkaesque institution, Bunker, whose
face is unknown but whose flinty presence is felt by the reader and all
the characters.
In fact, it is Bunker who orders the investigation and it is he who
casts an Orwellian eye over all the characters; it is Bunker who ev‑
eryone fears and it is he who can distribute largesse to underlings
spbsX_P1.indb 141 09/12/30 18:20:27
142 Francisco Salinas Portugal
through the mediation of an always invisible “Chief”, who materia‑
lises as “smoked catfish”, or the dark Mr. T who “is not a member of
a Central Committee or a Bishop or even a deputy, but whose presence
inspires fear. The only thing we know is that he is Bunker’s counselor”
(p. 63).
The episode involving Mr. T which stands out is that which re‑
lates his visit to a medicine man acquaintance who sodomises him in
order to protect him from the “evil eye”. We also accompany him on
his counterfeit money deals with Said. Also memorable is his taste for
married women… an exemplar of the depravations which make mani‑
fest the most sinister and perverse face of power. This is a situation in
which theft and the perverse use of popular superstition not only go
without punishment, but are converted into elements of honour and
prestige.
Overall, Jaime Bunda, Agente Secreto is a truthful and cruel reflec‑
tion on power, its arbitrariness and the impossibility of freeing oneself
from its workings. The reader could possibly see here a negative end‑
ing of this novel (not only because of the lack of punishment for the
assassination of Catarina Kiela, but also and above‑all because of the
presence of this arbitrary and injust power) but this is refuted by the
ultimate reflection of the author, voiced by Gegé, Jaime’s brother, in
the epilogue: “I just came to warn you, I’m going now to tell everyone
in the neighbourhood that there’s a journalist who’s going to tell the
world everything that this always marginalised people feel and want”
(p. 312).
Bibliographical references
Bella Jozef, A Máscara e o Enigma, Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves
Editora, 2006.
Bernard Mouralis, As Contraliteraturas, Coimbra: Livraria Almedina, 1982.
Carlos Reis e Ana Cristina Lopes, Dicionário de Narratologia, Coimbra: Livraria
Almedina, 1987.
Iván Martín Cerezo, Poética del relatopolicíaco (de Esdgar Allan Poe a Raymond
Chandler), Murcia: Universidad de Murcia, 2006.
Magdalena Perkowska‑Álvarez, “El ‘entre‑lugar’ genérico: El cruce de la novela
histórica y el relato detectivesco”, Patrick Collard e Rita de Maeseneer (eds.):
Murales, figuras, fronteras. Narrativa e historia en el caribe y Centroamérica,
Madrid / Frankfurt: Ibereoamericana / Vervuet, 2003, pp. 219‑245.
Pepetela, Jaime Bunda, Agente Secreto, Lisboa: Edições Dom Quixote, 2001.
spbsX_P1.indb 142 09/12/30 18:20:27
Lueji ou o simbolismo
da máscara “mukishi” em Pepetela
Manuel Muanza
Universidade Agostinho Neto, Angola
1. Uma das características da produção romanesca africana reside no
aproveitamento das tradições ancestrais para, no espaço ficcional, pro‑
blematizar as práticas políticas que obstaculizam o desenvolvimento
humano.
Em Lueji (O Nascimento dum Império)1, o escritor angolano Artur
Pestana Lopes (Pepetela) recorre à função da máscara nas sociedades
tradicionais e propõe‑nos uma relação entre as tradições ancestrais e al‑
gumas opções políticas assumidas por certas lideranças do c ontinente.
Tal como procedeu Laranjeira2, ao comparar A Revolta da Casa dos
Ídolos3 (cuja acção se situa no séc. XVII) com os acontecimentos de 27
de Maio de 1977, procuramos aqui actualizar a leitura do romance já
referido. A eleição desta perspectiva de estudo justifica‑se pela orien‑
tação teórica (encabeçada, entre outros, por Edward Said4) que visa
abordar os fenómenos artísticos em função do contexto cultural.
2. O romance de Pepetela, uma recriação do mito que circula no
espaço cultural lunda‑cokwe, remete‑nos para a temática do poder
em África. A estratégia adoptada pelo autor, a de imprimir no mesmo
enunciado duas histórias separadas pelo tempo (passado e futuro), num
intervalo de quatro séculos, “imita” a estrutura da máscara Mukishi
(ou Likishi), objecto material e espiritual lunda‑cokwe de duas faces:
uma olha para o passado, a outra visualiza o futuro5.
3. O emprego do sintagma lunda‑cokwe neste trabalho pode con‑
duzir a equívocos por alimentar polémica sobre a razão da inclusão do
povo cokwe num grupo cultural sob tal designação. Convém, por isso,
aclararmos a questão.
A confrontação das recolhas da tradição oral e os estudos da
Arqueologia e Linguística têm geralmente sustentado a tese de que
os cokwe são povos descendentes dos lunda. O próprio designativo
“Cokwe” provém da frase dita pela rainha Lweji6 ao dirigir‑se àque‑
les que tencionavam seguir os passos do seu irmão Cinguri, quando
este abandonou a Lunda: “ayoko a kwa Cinguri”, quer dizer “vão‑se
também para o Cinguri”7. Cautelosa quanto a esta discussão, Bastin
spbsX_P1.indb 143 09/12/30 18:20:28
144 Manuel Muanza
afirma não ter sido ainda possível averiguar de onde vieram os cokwe,
realçando a estudiosa o facto de a tradição oral apontar para a presen‑
ça desse povo no centro de Angola desde o século XVI e de o mito fun‑
dador da Lunda coincidir, no conteúdo, com a história dos cokwe8.
A teoria da origem lunda dos cokwe pode aproximar‑nos da com‑
preensão da razão por que estes assumiram como pertencente ao seu
património cultural o mito fundador do Império Lunda9 (aprox. séc.
XV‑XIX). Além disso, a descendência lunda dos cokwe tem sido tam‑
bém deduzida a partir de apropriações mútuas de outros símbolos
culturais. Por exemplo, não tendo a corte da Lunda produzido arte,
estudos demonstram que várias peças artísticas reais da Lunda tinham
sido esculpidas por artesãos cokwe10. Por sua vez, entre os cokwe
há instrumentos de rito de origem lunda. A conquista do Império de
Mwatyanvwa, em 1885, pelos cokwe, terá sido uma das vias da pre‑
sença da arte cokwe na Lunda, tal como o banco real lunda oferecido
por um soberano lunda, no início do século XX, a um oficial norue‑
guês, de que fala Heusch como tendo sido obra de arte cokwe11.
Falaremos, por isso, do pensamento simbólico lunda‑cokwe para
recobrir, neste trabalho, as manifestações culturais que se produzem
em toda a extensão da zona cultural. O espaço dos povos lunda‑cokwe
situa‑se na zona linguística e cultural bantu, onde também se localizam
os povos aparentados, entre os quais os luba. Os lunda ocupam, concre‑
tamente, hoje, a região que compreende Kapanga e Sandoa (Katanga,
a Sudeste da República Democrática do Congo), Kahemba (Bandundu,
a Sul da R.D. Congo) e a extensão da zona fronteiriça do Nordeste de
Angola12. Os Cokwe situam‑se entre os rios Kwilu e Kasayi (paralelos
6º a 130 º S, com um rasgo até ao paralelo 15º) na região do Alto
Kwangu e Kunene.
4. A palavra “mukishi”, pretexto para o presente estudo, é utiliza‑
da, no espaço cultural lunda‑cokwe, para aludir a um espírito ancestral
ou da natureza que é incarnado por uma máscara. Esse espírito desem‑
penha um papel benévolo na sociedade. Segundo Bastin, “acredita‑se
que o mukishi é uma pessoa regressada da morte que se ergue da terra
numa área do mato (...). Os Tshokwe preservam a crença de que aquele
que veste a máscara perde as suas qualidades humanas e transforma‑se
na incarnação do espírito”13. Embora em algumas línguas do Sul de
Angola tal vocábulo esteja ligado à ideia de “monstro”14, o uso do
radical “Kishi”, muito generalizado nas línguas dos povos da bacia do
Congo, significa “espírito, força” ou ainda “antepassados”. Tal acep‑
ção justifica a formulação de Senghor, para quem, o homem africano
spbsX_P1.indb 144 09/12/30 18:20:28
Lueji ou o simbolismo da máscara “mukishi” em Pepetela 145
dialoga com o passado, isto é, com os seus ancestrais, por intermédio
da máscara15. O valor simbólico da máscara ultrapassa, por isso, o do
mero objecto material destinado a produzir uma aparência16.
A partir da estrutura da máscara, Pepetela elabora, no romance
Lueji, duas histórias cujas tramas se desenvolvem em paralelo. A pri‑
meira é o mito fundador do Império Lunda reinventado pelo autor e
centrado na personagem mitológica lunda‑cokwe, a “rainha” Lweji.
A bailarina Lu assume o protagonismo na segunda. Nesta, a acção
desenrola‑se no espaço urbano “quatro século depois”17 da existência
da Lweji. Os quatrocentos anos que separam Lweji da Lu constituem a
fronteira entre o passado e o futuro projectados pela máscara bifacial.
5. A configuração do “Mukishi” reproduz a personalidade da Lweji,
a qual projecta duas faces da “mesma ideologia”.
A primeira face está associada à instituição por Lweji de uma nova
ordem no Império Lunda graças à aliança que estabelece com o caçador
Ibinda Ilunga, vindo da Luba, uma terra vizinha. O guerreiro luba (que
contrai matrimónio com Lweji) terá ensinado os lunda a arte de caçar e
de fundir o ferro (com o fim de fabricar flechas para o exército lunda).
O investimento de Ilunga permitiu que Lweji se mantivesse no poder
disputado por dois irmãos desta, Cinguri e Cinyama. Luc de Heusch
qualifica o casamento da Lweji com Ilunga e a intervenção do caçador
nos assuntos do Estado Lunda (incluindo a ascensão ao trono de um
filho adoptivo) de uma etapa de ruptura em relação aos paradigmas
em que se fundava a Lunda. Assim, Lweji afirma‑se, simultaneamente,
como representante do poder dos antepassados (a ordem ancestral) e
garante da materialização das operações inovadoras de Ilunga (a nova
ordem)18, impondo um modelo de realeza sagrada19 (de que também
nos fala Frobenius20).
Na narrativa em análise, o episódio em que se narra a expulsão da
dupla Cinguri‑Cinyama e a integração de Ilunga na corte da Lunda
simboliza, por analogia, a instalação de novas autoridades nos estados
africanos, os quais reivindicam, após longo processo de luta contra o
sistema colonial, a concepção de uma nova ordem política, social e
económica. O auxílio prestado pelo guerreiro luba metaforiza a inter‑
venção das forças estrangeiras nos conflitos internos nos países afri‑
canos. A região dos Grandes Lagos, onde se situa o grupo luba, serve
de exemplo actual e típico de proliferação de contingentes de tropas
estrangeiras e de milícias locais que se batem pelo poder.
A segunda face da ideologia delega a Lweji a missão de representar
os antepassados, os quais detêm o poder sobre os lunda. Na prosa
spbsX_P1.indb 145 09/12/30 18:20:28
146 Manuel Muanza
de Pepetela, os antepassados revelam‑se, no dizer de Greimas21, numa
manifestação sincrética, como Destinadores, Mandatários e Objecto
ao mesmo tempo. Nesta condição, a “rainha” “permanece para sem‑
pre ligada ao passado (...)”22. A alusão ao passado corresponde, na
concepção de Lévi‑Strauss, a uma função importante da máscara na
sociedade: a de mediar entre a sociedade (humana) e o mundo envol‑
vente (a natureza), entre a sociedade e o sobrenatural (os espíritos dos
antepassados)23. O apego ao passado tematiza a ancoragem das lide‑
ranças africanas nos velhos hábitos de governação num mundo conde‑
nado a adequar as práticas políticas ao contexto de globalização.
Por se situarem no passado longínquo (“quatro séculos atrás”24),
os episódios protagonizados por Lweji geram uma contradição se con‑
frontados com o subtítulo do romance, o qual insinua o advento de
um Estado de novo tipo (“Nascimento dum Império”) e sugere uma
ruptura com o passado. As sucessivas acções da “rainha” vão, porém,
limitar‑se a mitigadas alterações nas tácticas de comando, sem ruptu‑
ras visíveis no modo de governar. Mesmo quando, em alguns momen‑
tos, a postura da Lweji entra em contradição com a moral, colidindo
com o paradigma estabelecido pela sociedade e interiorizado pelos seus
conselheiros (os tubungu), o gesto da “rainha” não se traduz numa
inovação do estilo de gestão do poder que, aliás, é pertença dos ante‑
passados. A crítica social pepeteliana ultrapassa, aqui, o espaço textu‑
alizado (Angola) por ficcionar certas mentalidades e práticas políticas
de determinados líderes africanos; procura, com subtileza, estabelecer
uma relação de similitude entre a norma estabelecida nas sociedades
tradicionais africanas, a que circunscreve aos membros da linhagem o
acesso à chefia, e a tendência para a construção de dinastias na África
contemporânea por via da usurpação do poder à revelia dos processos
democráticos ou da manipulação dos pleitos eleitorais. Desde o limiar
do século XXI, uma forte tendência para a ascenção de filhos de pre‑
sidentes à chefia dos Estados (Togo, Congo‑Democrático) ou para a
criação de condições para que isto aconteça (Líbia, Guiné Equatorial,
Benin) está a enraizar‑se em África. Ora, se o modelo de governação
ancestral é legitimada pela tradição e aceite comummente pelos mem‑
bros do grupo, a tendência actual de manutenção do poder por diver‑
sos estratagemas, porque não instituída à luz das leis convencionais,
afirma‑se refractária quer à vontade dos cidadãos, quer às regras da
democracia.
6. Ao efabular a propósito dos arranjos que engendraram a adop‑
ção por Lweji do menino Yanvu, filho gerado por uma serviçal da corte
spbsX_P1.indb 146 09/12/30 18:20:28
Lueji ou o simbolismo da máscara “mukishi” em Pepetela 147
(a Kamonga) e que viria a ser “príncipe” herdeiro lunda, num concili‑
ábulo caucionado por alguns tubungu, Pepetela ficciona a construção
de alianças entre poderes estabelecidos e elites em África, as quais têm
por finalidade garantir a perpetuidade dos regimes. Isto configura uma
adaptação subversiva do recurso às alianças, uma prática decalcada
das sociedades tradicionais africanas que a utilizam para evitar a desa‑
gregação dos grupos. Ilife25 menciona um exemplo típico dessa prática
ancestral na sociedade pré‑colonial a Sul do Sahara, apontando duas
vias de conservação do poder similares às adoptadas na Lunda e à que
os líderes contemporâneos procuram edificar: “a sucessão dos cargos e
o parentesco perpétuo”. Ambas permitiam a perenização do trono nas
mãos duma só linhagem: “cada novo detentor de um cargo herdava a
personalidade social do seu antecessor, incluindo todas as suas relações
de parentesco, para que, se o filho de um rei fundasse um reino, este
mantivesse sempre, daí em diante, uma relação filial com os parentes,
por muito distante que fosse a relação de sangue existente entre os de‑
tentores dos dois cargos”26.
A estratégia de alianças mantém‑se na África contemporânea sob
uma nova roupagem. Os seus actores, detentores do poder político e
económico, gizam uma teia de relações com o mais representativo escol
da oposição e dos grupos de pressão (sociedade civil), com vista a afas‑
tar as crises, apagar a contestação e garantir o controlo do Estado.
O conceito de alianças usado aqui refere‑se ao modo como o con‑
textualiza José Carlos Venâncio27 no inventário ao estado das rela‑
ções de poder em Angola, na era pós‑colonial. O autor demonstra a
astúcia dos detentores do poder nesse país lusófono: mantiveram‑se
no trono desde a independência a esta data por terem sabido conce‑
ber estratégias de transacção, atraindo as elites adversárias para o seu
campo. Assim resultou a incorporação na rede do poder do MPLA
(Movimento Popular de Libertação de Angola, partido do Governo)
de figuras‑chave da oposição, vindas nomeadamente da FNLA (Frente
Nacional de Libertação de Angola) e da UNITA (União Nacional para
a Independência Total de Angola). As alianças surgiram por intermé‑
dio de processos proclamados como sendo de clemência (no caso da
FNLA), de “reconciliação nacional” (no caso da UNITA) ou de outros
processos subtis, aos quais se associaram também personalidades de
pequenas formações políticas como a FDA (Forum Democrático de
Angola) e de organizações cívicas. Recentemente assistimos à integra‑
ção de figuras de um dos movimentos político‑militares da província
de Cabinda.
spbsX_P1.indb 147 09/12/30 18:20:28
148 Manuel Muanza
A estratégia de alianças, porque privilegia interesses imediatistas,
eterniza a ascensão por nepotismo a altos cargos públicos em prejuízo
da competência e da boa governação. As tendências para mudança des‑
se proceder, às quais assistimos em diferentes países, resumem‑se apenas
em acções de “reciclagem” das elites, no dizer de Cedric Mayrargue28,
o que bloqueia a renovação das mentalidades e o desenvolvimento.
Se seguirmos a ordem sequencial diegética, podemos ajuizar me‑
lhor do aproveitamento por Pepetela da temática do poder tradicional
na elaboração da crítica à prática política da reciclagem. No começo
do seu reinado, movida pela sublevação de Cinguri, Lweji procurará
opor‑se ao Conselho, reduzir a influência dos conselheiros nas suas
decisões. Vai, assim, controlar melhor as rédeas do poder, nomeará
Majinga ao cargo de conselheiro principal e arquitecto das tácticas de
governação, em substituição ao ancião Kandala (outrora braço direito
do defunto Kondi, o falecido pai da Lweji). Com esta manobra, Lweji
dará aparência de renovação, mas, na prática, manter‑se‑á ligada ao
mesmo jogo de “reciclagem” das elites, pois Majinga já pertencia ao
rol dos “mwata”29 mais considerados dos tubungu. Embora se veja
Majinga engajado a forçar a rainha a libertar‑se do principal símbolo
do poder, “Lukano”30, em benefício de Yanvu, toda a manobra tende
a conservar o poder nas mãos da mesma linhagem, o que constrói em
Majinga uma autêntica estigmatização daquelas personalidades que,
em África, engrossam a clientela dos líderes. Tais personalidades visam
assegurar a eternidade dos poderes, conforme descreve Mayrargue31.
O académico beninense Cédric Mayrargue usou o conceito de re‑
ciclagem num estudo de sociologia política para caracterizar o facto
de o topo do poder político do Benim estar constituído sempre pelas
mesmas figuras, munidas das mesmas ideias e práticas, sem as adapta‑
rem à evolução num momento em que o país tende a viver tempos de
renovação democrática.
Ao conviverem no mesmo enunciado, o mito da Lueji e a história
ficcional, além de esclarecerem a ligação dialéctica que a tradição man‑
tém com a modernidade, imitando a bifacialidade da máscara Lukishi,
simbolizam a manutenção de procedimentos resultantes de ideologias
do passado. Transposta para a realidade política africana, o facto ro‑
manesco de a protagonista da história, Lu (e sua adjuvante Marina),
reconhecer a sua origem comum e a sua relação consanguínea com
a Lweji, isto é, redescobrir a sua descendência comum (a Lunda do
Mwatyanvwa), tematiza o fosso entre o discurso anunciador da re‑
novação e uma série de práticas contrárias ao discurso, o que faz do
spbsX_P1.indb 148 09/12/30 18:20:28
Lueji ou o simbolismo da máscara “mukishi” em Pepetela 149
continente africano refém do passado e, por consequência, vedando o
acesso ao futuro que a máscara propõe.
Referências bibliográficas
A Julien Greimas, Sémantique Structurale, Paris: Larousse, 1966.
Claude Lévis‑Strauss, “Le Masque”, in Des Symboles et leurs doubles, Paris: Plon,
1989.
Cédric Mayrargue, “Les élites politiques béninoises au temps du Renouveau
démocratique –Entre continuité et transformation”, in Jean‑Pascal Daloz
(dir.), Le (non‑) renouvellement des élites en Afrique subsaharienne, Paris:
Centre d´Étude d´Afrique Noire, 1999, pp. 33‑56
Henriques A. Dias de Carvalho, Ethnografia e História Tradicional dos povos da
Lunda, Lisboa: Imprensa Nacional, 1890.
John Iliffe, Os Africanos – História dum Continente, Lisboa: Terramar, 1999.
José Carlos Venâncio, Jaime Bunda versus Sem Medo – Nacionalismo e Estado
Pós‑Colonial em Angola no Registo de um dos seus escritores, (Working
Paper), Covilhã: Centro de Estudos Sociais – UBI, 2004.
José Redinha, Etnossociologia do Nordeste de Angola, Lisboa: Agência Geral do
Ultramar, 1958.
Léo Frobenius, La Civilisation Africaine, Paris : Le Rocher, 1987.
Léopold Sédar Senghor, Poèmes, Paris: Éd. du Seuil. 1964.
Luc de Heusch, “Pour Marie‑Louise Bastin”, in A. C. Gonçalves e A. Ferreira
da Silva, A Antropologia dos Tshokwe e Povos Aparentados, Porto: FLUP,
2003.
Luc de Heusch, Le Roi Ivre ou l´Origine de l´État, Paris: Gallimard, 1972.
Manuela Palmeirim, “As Duas Faces de Ruwej: Da Ambiguidade no Pensamento
Simbólico dos Aruwund (Lunda) “, in A. Custódio Gonçalves e A Ferreira da
Silva (org). A Antropologia dos Tshokwe e Povos Aparentados, Porto: FLUP,
2003, pp. 99‑106.
Marie‑Louise Bastin, Escultura Tshokwe – Tshokwe Sculpture, Porto: FLUP‑CEA,
1999.
Mesquitela Lima, Os Akixi – mascarados – do Nordeste de Angola, Lisboa: Museu
do Dundo. Serviços Culturais‑Diamang (Angola), 1967.
Pepetela, A revolta da Casa dos Ídolos, Lisboa: Ed. 70, 1980.
Pepetela, Lueji (O Nascimento dum Império), Luanda‑Porto: UEA‑ASA, 1989.
Pires Laranjeira, “Literatura, Cânone e Poder Político” (Comunicação ao 1º
Encontro Internacional sobre Literatura Angolana [10‑13 Dez]), Luanda:
UEA, 1997.
spbsX_P1.indb 149 09/12/30 18:20:28
150 Manuel Muanza
Notas
1. Pepetela, 1989.
2. Laranjeira, 1997, p. 2.
3. Pepetela, 1980.
4. Vejam‑se, fundamentalmente, Orientalism (1978) e Culture and Imperialism
(Nova York: Alfred A Knopf, 1994).
5. Palmeirim, 2003, p. 105. Similar valor simbólico é discutido também no
estudo consagrado à Mukishi por Lima, 1967, p. 27.
6. Utilizaremos a grafia “Lweji”, de acordo com o alfabeto adoptado pelo
Centro Internacional de Civilizações Bantu (CICIBA), para aludir à
personagem principal do romance e “Lueji” para indicar o título da obra em
estudo, conforme a grafia empregue pelo autor. Quanto aos antropónimos,
grafá‑los‑emos como “Cinguri” e “Cinyama”.
7. Redinha, 1958, p. 21; Carvalho, 1890, p. 90 (A correcção linguística dos
vocábulos empregues por Carvalho e Redinha na produção desta expressão
atribuída a Lweji é posta em causa por Lima no estudo por este dedicado à
cultura Lunda‑Cokwe [cf. Lima, 1967, p. 68 e segs.]).
8. Bastin, 1999, p. 16.
9. Heusch, 2003, p. 13.
10. Heusch, 2003, p. 13.
11. Heusch, 2003, p. 13.
12. Palmeirim, 2003, p. 99.
13. Bastin, 1999, p. 95‑108.
14. Lima, 1967.
15. Veja‑se “Masque Nègre” e ainda “Prière aux Masques”, in Senghor, 1964,
pp. 15‑16 e 25.
16. Esta perspectiva de discussão têmo‑la no estudo consagrado à Likishi por
Lima, 1967, p. 27.
17. Pepetela, op. cit., p. 26.
18. Palmeirim, 2003, p. 101.
19. Heusch, 1972, pp. 190‑192.
20. Frobenius, 1987.
21. Na comparação que faz das propostas de Soriau e Propp, Greimas detecta
no esquema de Propp uma manifestação sincrética dos actantes que se traduz
numa dupla articulação de certas categorias actanciais: o Destinador pode
confundir‑se com o próprio Objecto; o Sujeito/Herói, com o Destinador
(Greimas, 1966, p. 78).
22. Palmeirim, 2003, p. 105.
spbsX_P1.indb 150 09/12/30 18:20:28
Lueji ou o simbolismo da máscara “mukishi” em Pepetela 151
23. Lévis‑Strauss, 1989, pp. 177‑184.
24. Pepetela, p. 9.
25. Iliffe, 1999, pp. 136‑138.
26. Iliffe, 1999, p. 138.
27. Venâncio, 2004, p.7.
28. Mayrargue, 1999.
29. Membro da corte real.
30. Pulseira feita de tendões humanos.
31. Mayrargue, 1999, pp. 33‑56.
spbsX_P1.indb 151 09/12/30 18:20:28
spbsX_P1.indb 152 09/12/30 18:20:28
O olhar de Pepetela sobre Angola
Wanilda Lima Vidal de Lacerda
Universidade Federal da Paraíba, Brasil
Em entrevista ao Diário de Notícias, de Lisboa, em sua edição de 07
de novembro de 2005, indagado sobre Vladimir Balduíno Caposso,
personagem de Predadores, seu autor, Pepetela respondeu: “Ele é o
pretexto para contar a história do país”. Isto nos fez refletir se todas
as obras literárias são pretextos para falar de uma realidade e levar o
leitor a questionar a situação ali recomposta e nos conduziu ao tema de
que tratamos: “O olhar de Pepetela sobre Angola” 1.
Partimos do pressuposto de que literatura e sociedade se refletem,
e que a forma social subjetiva e histórica é o princípio gerador das
construções estéticas e literárias, conforme Roberto Schwartz (1989,
p. 14):
A junção de romance e de sociedade se faz através da forma. Esta é
entendida como um princípio mediador que organiza em profundidade
os dados da ficção e do real, sendo parte dos dois planos. Sem descartar
o aspecto inventivo, que existe. Há aqui uma presença da realidade
em sentido forte, muito mais estreito do que as teorias literárias costu‑
mam sugerir. Em outras palavras, antes de intuída ou objetivada pelo
romancista, a forma que o crítico estuda foi produzida pelo processo
social, mesmo que ninguém saiba dela. Trata‑se de uma teoria enfática
do realismo literário e da realidade social enquanto formada. Nesta
concepção, a forma dominante do romance comporta entre outros ele‑
mentos, a incorporação de uma fonte de vida real, que será acionada
no campo da imaginação.
Assim compreendida, a forma social subjetiva e histórica é o prin‑
cípio gerador das construções estéticas. Cabe, a nós leitores, enten‑
dermos o processo social que o romancista percebeu e transfigurou
artisticamente, sem nos esquecermos de ir além de uma simples análise
conteudística, e apreendermos melhor a relação entre romance e so‑
ciedade, através da articulação de sua estrutura. Para compreender a
conexão lógica de determinados momentos da narrativa pepeteliana
com a sociedade angolana, o lugar da realidade dentro da ficção, e o
lugar da ficção dentro da realidade, recorremos a alguns estudiosos
dessa relação, pela ótica do historiador.
spbsX_P1.indb 153 09/12/30 18:20:29
154 Wanilda Lima Vidal de Lacerda
Em O novo romance histórico e brasileiro, Esteves (1998, p. 123)
aponta duas possibilidades para atingirmos o cerne desse problema:
uma seria a de tratarmos o discurso da história como ficção e, portan‑
to, considerá‑lo uma invenção; outra seria a de chegarmos à verdade
histórica através da ficção, o que não se trata de substituir a história
pela ficção, mas de possibilitar uma aproximação poética em que to‑
dos os pontos de vista, contraditórios, mas convergentes, estejam pre‑
sentes, referindo‑se ao que o professor Maarten Steenmeijer (1991, p.
25) chama de “representação totalizadora”; esta última parece ser a
melhor alternativa.
Estudiosos como White (1992, p. 22) chegam a afirmar que “a di‑
ferença entre ‘história’ e ‘ficção’ reside no fato de que o historiador
‘acha’ as suas estórias, ao passo que o ficcionista ‘inventa’ as suas.”
Nos nossos dias, a ficção dialoga criticamente com a história não mais
como verdade, mas como cultura e tradição, na busca de recuperar o
imaginário e as tradições populares de uma comunidade, para depois,
no trabalho de elaboração estética, dar vida e forma diferente a esses
valores, afastando‑se, assim, da história oficial, dando voz aos que fo‑
ram por ela silenciados ou marginalizados e aproximando‑se dos mitos
primordiais degradados (cf. Esteves, 1998, pp. 127‑128). Nesse proces‑
so de construção, os liames entre ficção e história estão cada vez mais
tênues e é comum o narrador tecer comentário ao próprio processo de
criação.
A historiadora Sandra Jatahy Pesavento, no ensaio História & li‑
teratura: uma velha‑nova história (2006), faz destacar a importância
do imaginário através do qual se recuperam novas formas de ver, sen‑
tir e expressar o real dos tempos passados quer de modo racional e
conceitual, extrapolando as percepções sensíveis da realidade concreta
(conhecimento científico), quer sistematizando, dando coerência e legi‑
timidade ao não‑vivido, ao não‑experimentado e tornando‑o mais real,
mais concreto (conhecimento sensível). Entretanto, em qualquer das
duas visões, o imaginário é um sistema de representações do mundo
que tem a realidade como referente. Para essa estudiosa, é assim que a
literatura dialoga com a história. Ambas são narrativas e ambas exis‑
tem através do discurso, mas são formas diferentes de dizer o real: a
literatura diz respeito ao discurso do imaginado e a história ao discurso
baseado no real. As personagens e fatos da história não são criados.
Na literatura, fatos e personagens existem porque o narrador os criou
independente de terem vivido ou não de fato, e não há, por parte do
narrador a preocupação de dizer a verdade. O que a literatura narra
spbsX_P1.indb 154 09/12/30 18:20:29
O olhar de Pepetela sobre Angola 155
tem de ser verossímil, dar a impressão de verdade, enquanto a história
busca atingir a verdade. O efeito do real causado pela literatura é uma
outra forma de dizer a mesma coisa, o discurso faz a diferença de dizer
o real.
É assim que na reflexão sobre o passado, fatos e personagens da
história, atividades artístico‑culturais e literárias de Angola se fazem
presentes na obra pepeteliana ou estão subjacentes no trabalho de
transfiguração que o ficcional realiza. São facilmente identificáveis e
reveladores do compromisso do autor com a representação e a imagem
do social ou, mais que isso, com um projeto de construção de uma
identidade nacional. Vão configurar a cultura e reagrupar situações
que destacam os conflitos entre as diversas classes, bem como as lutas
políticas que englobam séculos, desde o início de sua formação até os
tempos presentes; e o seu olhar voltado para o passado projeta um
futuro.
Foram escolhidas como corpus deste trabalho, Lueji – O nasci‑
mento de um império; A gloriosa família – o tempo dos flamengos; A
geração da utopia e Predadores. As duas primeiras são consideradas
narrativas de fundação: a primeira rainha e o primeiro Van Dum. No
caso de Lueji – O nascimento de um império, privilegiando o mito, o
autor reinventou‑o sob a influência do pensamento de Maquiavel em
O Príncipe, favorecido pelo contexto sócio‑político da Lunda, onde
saber e poder se entrecruzavam e devia manter‑se no poder quem sabe,
para construir uma nação forte e poderosa. Daí todo o aprendizado
sugerido a Lueji para bem reger o seu império, para bem compreender
o seu tempo, olhando o passado‑presente, mas ligando‑o a um futuro:
conhecer a história do seu povo, conhecer a tradição, mas com a cons‑
ciência de que ela “se torce quando é preciso”, ser dissimulada, usar
da força, ser justa, corajosa, ter paciência, saber ouvir, pensar antes de
agir, saber conduzir um exército, desconfiar de antigos aliados e dos
bajuladores, parecendo, assim, que as ideias de Maquiavel transmitidas
ao Príncipe saíam do campo teórico para a prática, o que ele não fez.
Os olhares dos vários narradores configuram a personagem transgres‑
sora, sem romper com a tradição; estão voltados para o passado mítico
da Lunda que no presente da nação é força refletora.
Refundida, quatro séculos depois, na personagem Lu, esta, não
uma rainha de direito, mas de fato nos palcos, na dança, em meio a
bailarinos vindos de diversas partes do país e de níveis socioculturais
diversos, recriando com o bailado o mito Lueji, buscou nas raízes cul‑
turais a identidade do seu país, meio perdida após a revolução pela
spbsX_P1.indb 155 09/12/30 18:20:29
156 Wanilda Lima Vidal de Lacerda
independência, e a sua própria identidade, através de seus ancestrais,
parentes de Lueji. Invocou o passado não só para conhecê‑lo, mas para
interpretar o presente, no desejo de ver o que do passado nele conti‑
nua, mesmo sob outras formas e com um sentido diferente, aliando a
tradição lunda à modernidade cultural angolana − uma modernidade
construída da síntese entre o saber moderno e a memória do saber
tradicional.
Podemos aproximar a visão política de Lu das ideias marxistas, que
nortearam os planos e enfrentamentos com o colonizador em favor da
independência, embora já se note um certo desencanto. O seu com‑
promisso político no presente é com a arte, sua opção de vida, embora
na ponta da flecha ficasse uma gota de sangue, parodiando a fala da
própria personagem.
Nessas formas de representatividade literária estão presentes as eta‑
pas particulares do desenvolvimento político‑social para se construir
um país, os meios utilizados na transição de um regime tribal para a
unificação em um império forte, bem constituído. Após períodos de
guerras, crises de valores, as transformações operadas de modo irrever‑
sível e a evolução vão resultar na unificação de povos em uma nação
que reencontra em si mesma a força regeneradora no seu referencial
histórico‑cultural, na manutenção de sua memória.
Já em A gloriosa família − o tempo dos flamengos, o autor recor‑
reu à história oficial e, desconstruindo‑a, aproveitando‑se do discurso
sobre a escravidão negra, as transações econômicas em que o escravo
era a mercadoria vendável e lucrativa, em meio à movimentação das
personagens e dos conflitos entre Angola durante os sete anos da do‑
minação holandesa representada pelos dirigentes da Companhia das
Índias Ocidentais. O processo articulador da história com a ficção já
se faz anunciar nos paratextos: capa com pormenor de uma pintura
de Barlaeus; prólogo com um excerto da História Geral das Guerras
Angolanas (1688), de Antonio de Oliveira Cadornega, e, em todos os
capítulos, à exceção do primeiro e décimo, a epígrafe retirada de obra
ou documento histórico faz contraponto com a voz do narrador, a voz
da história e a voz da estória se entrelaçam num canto da verossimi‑
lhança e dá veracidade necessária à criação de um romance histórico.
Centralizado em dois núcleos: o primeiro, das personagens da história,
dominadores e dominados, tratados ficcionalmente e o segundo, a fa‑
mília Van Dum e seu entorno, que integram a história como possibili‑
dade de o autor fazer, através do narrador, a sua leitura irônica e crítica
daqueles tempos.
spbsX_P1.indb 156 09/12/30 18:20:29
O olhar de Pepetela sobre Angola 157
Cada capítulo tem uma personagem nuclear que ajuda a manter o
dinamismo das cenas, mas o eixo familiar de Baltazar Van Dum (ho‑
landês de nascimento) é o articulador do enredo, numa situação de
conflitos em que podemos acompanhá‑lo na dificuldade de viver entre
os holandeses tendo vivido até então ao lado dos portugueses, bene‑
ficiando‑se dos lucros que a escravidão proporcionava. Daí ensinava
aos filhos: “[...] temos de fazer como o macaco, não vi nada, não ouvi
nada, não falei nada. Vocês a partir deste momento até nem sabem
falar uma palavra em flamengo, entenderam?” (AGF, p. 21)
O narrador é o elemento fundamental pela visão de mundo que
apresenta; ele próprio, mudo, inserido na sociedade da qual tudo ob‑
serva e analisa como personagem que seguiu de perto o desenrolar dos
acontecimentos e que, na condição escrava, vê a si e aos demais da mes‑
ma situação. O seu trabalho é realmente organizar, a partir da experi‑
ência do “vivido” o mundo colonial de Angola e conduzir o leitor para,
juntos, preencherem com a imaginação o vazio dos múltiplos espaços
mencionados, identificarem‑se com as lutas, traições, reconciliações,
mortes, incidentes e guerras. Mesmo sem entender muitas coisas do
mundo do branco, ele fornece ao leitor a dimensão ética da memória,
para que fatos dessa natureza não sejam esquecidos, para que possa‑
mos refletir sobre o papel do ser humano na história.
Também em A Gloriosa Família, Pepetela apresenta uma preferên‑
cia por personagens femininas fortes. Mulheres como a rainha Jinga,
que se rebelou contra a dominação que quiseram impor a seu povo,
enfrentando com força e coragem em batalhas os inimigos. Mulheres
como Matilde e Angélica Rica Olhos e Dolores, cada uma a seu modo
defendendo o direito de amar livremente, ser dona de seu corpo, mu‑
lher e mãe.
Pela importância da Igreja, do cristianismo vigente, o escritor lan‑
çou olhos críticos ao seu procedimento, frente à situação de dominação
existente e deixa à mostra sua conivência ou omissão.
Na apresentação do espaço em que se desenrolaram os aconteci‑
mentos, estão marcadas as diferenças de classes sociais e as posições
políticas e sociais. Tudo isto pode ser visto como forma de mostrar que
é possível aproximar a verdade histórica da ficção e se ter uma “repre‑
sentação totalizadora”, retomando as palavras de Steenmeijer, citado
por Esteves a que nos referimos anteriormente.
Pepetela apontou para a face cruel da história da humanidade, a
escravidão humana, e para a maneira como se deu a exploração que
os colonizadores exerceram em Angola, nem sempre de fácil aceitação,
spbsX_P1.indb 157 09/12/30 18:20:29
158 Wanilda Lima Vidal de Lacerda
contando, às vezes, com ajuda dos próprios africanos, mas tendo de
enfrentar a força e a coragem de alguns, como a da rainha Jinga.
Por parte do narrador personagem há o desejo de superação do
discurso dominante que exclui o sujeito do seu próprio território.
Assumindo a voz dos excluídos da História, deseja assumir os signifi‑
cantes da sociedade, num processo contínuo da busca de captar o que
dizem e juntar os diversos traços dispersos, dar‑lhes um sentido crítico,
relativizando a história.
Ficou o exemplo de que há diversas formas de escravização e que
devemos estar atentos. A história não se repete da mesma forma, mas
pode ser travestida e, portanto, enganosa, igualmente perigosa. No
cuidado do autor com a representação do espaço em que se passaram
os acontecimentos, fica enfatizada sua preocupação em aproximar a
ficção da realidade e em oferecer, ao mesmo tempo, uma alternativa à
história contada pelo colonizador.
Em A geração da utopia, a voz do narrador, como memorialista
político‑social, resgata a memória fragmentária, reunindo‑a e redimen‑
sionando‑a para projetar ou confrontar com o presente da história o
passado mitificado, cristalizado, do conflito de uma “geração” que em
uma mesma época partilhou espaços e ideias comuns. A ênfase do olhar
de Pepetela sobre as personagens acompanha suas ações, a consciência
individual e o caminho percorrido: do nascer do ideal de independên‑
cia de Angola à utopia gestada na Casa dos Estudantes do Império
em Lisboa, tomando como referência o ano de 1961 e as questões do
contexto histórico luso‑angolano. Guarda íntima relação com projetos
e decisões ali tomadas. Lembramos que o próprio autor certamente
vivenciou algumas das experiências relatadas uma vez que estudou em
Lisboa e fez parte desse ambiente.
Diante das regras opressoras, discriminadoras e injustas da socie‑
dade lisboeta o narrador contrapõe as marcas da história e da cultura
africana que lhe são inerentes. O espaço angolano, particularmente in‑
teriorizado, é lembrado à distância. O reconhecimento das condições
da terra natal face à dominação portuguesa faz crescer nos jovens estu‑
dantes e intelectuais africanos os sonhos de uma sociedade em que to‑
dos tivessem os mesmos direitos e traçar estratégias e planos; deu‑lhes
ânimo para o enfrentamento com os colonizadores.
Em tempos e espaços abrangentes, acompanhamos as personagens
que partiram para a ação diretamente no campo da luta e de outras
lutas que foram travadas nos bastidores do conflito e no pós‑guerra.
Mais do que uma descrição de fatos históricos, essa obra é um repensar
spbsX_P1.indb 158 09/12/30 18:20:29
O olhar de Pepetela sobre Angola 159
da atitude individual, das consequências das lutas travadas pela inde‑
pendência e do reconhecimento das falhas do sistema que se seguiu.
Num tempo distópico, constatamos que o projeto político de uma nova
nação não se cumpriu. Muito foi assimilado da dominação colonial,
tanto no que diz respeito às relações sociais quanto à política e à reli‑
gião. Nesse balanço da situação, o narrador nos mostra que restou a
“superioridade” da elite urbana sobre a população do campo, com os
mesmos processos de exclusão, a omissão dos intelectuais e a ausência
de partido que viessem unir as duas Angolas. Em meio a um olhar
desencantado, reponta a esperança repassada por intermédio de uma
personagem mais jovem: “O passado nunca justifica a passividade.[...]
Se todos dissermos que nada vale a pena então é melhor morrermos
ou deixarmo‑nos morrer, sempre é mais coerente do que vegetarmos”
(AGU, p. 308).
O autor indica o caminho para mudanças: o de uma nação supra‑
partidária em que as diferenças sócio‑culturais e etnológicas sejam
aceitas. Uma outra utopia está sendo gestada. O devir como parte da
história da humanidade está em aberto para todos, cúmplices da espe‑
rança e atores na construção de um mundo melhor.
Predadores é narrado em um tempo mais recente, em que se entrela‑
çam fatos atuais da história, questões éticas e políticas, mas não deixa
de ser o reflexo dos fatos que culminaram com a independência do
país, do pós‑guerras e com o surgimento da nova nação. Enfocando a
trajetória da personagem Caposso, o autor faz uma crítica contundente
aos que apenas usufruem das benesses que o poder oferece e da corrup‑
ção em que se deixa arrastar. A política do “salve‑se quem puder” é a
prática mais confortável dos que não têm compromisso com a nação. A
riqueza e o poder do Estado aparecem como o mal, pois eles mostram
a face da exclusão, da dominação, da violência e o velho quadro de
injustiça está longe de chegar ao fim, pois ressurgiu com a força do so‑
nho sufocado, não realizado. Faz‑nos lembrar Maquiavel: “É o perigo
que ocorre a uma nação que se corrompeu inteiramente; pois o veneno
alcançou todas as partes do corpo social, a liberdade não pode sequer
nascer [...]” (2000, p. 69).
Também, do ponto de vista cultural, fica evidenciado que uma par‑
cela privilegiada que conseguiu ascender socialmente vai perdendo ra‑
pidamente o seu ethos tradicional e não há nada que ocupe o seu lugar,
os apelos da sociedade de consumo seduzem facilmente.
A cultura alienou‑se. Atingiu um ponto tal que impôs a necessidade
de julgar e, nesta obra, o autor o fez. Além da dura crítica à corrupção,
spbsX_P1.indb 159 09/12/30 18:20:29
160 Wanilda Lima Vidal de Lacerda
criticou: a falta de apoio e de reconhecimento do estado a muitos dos
ex‑combatentes; o caso de crianças abandonadas no meio das ruas e
as atividades a que se prestam; as condições em que se realizam certas
práticas culturais antigas; as novas formas de exploração capitalista
das riquezas do país pelos estrangeiros; a falta de moradia, de saúde,
de alimentação, dos meios de educação para todos; a falta de respeito
à mulher. Mas na reflexão é possível o leitor vislumbrar um fio de
esperança, na atitude daqueles poucos que agem corretamente, não se
deixaram corromper, ainda acreditam nos ideais de uma nação que
consiga distribuir de modo equilibrado suas riquezas e num governo
democrático.
Através do narrador, o autor aponta para a necessidade e a urgência
de mudança para a permanência da paz e sobrevivência para toda a
Nação. Num misto de revolta e de esperança, o autor persegue o seu
ideal, o de uma nação igualitária e em paz, em meio à realidade do co‑
tidiano dilacerada por injustiças sociais. Nessa circunstância, o grande
desafio político de todos parece ser a tentativa de diminuir a distância
que separa pobres e ricos e reconhecer que só com um Estado em que
a justiça é sua prática social isto é possível.
Dessa maneira, o olhar de Pepetela que nas outras obras analisadas
se detivera no passado (mito, história e utopia) focalizou ali a socie‑
dade angolana “vivendo” um momento de crise de valores que parece
exigir mudanças de natureza ética e política.
Como se viu, ao longo deste trabalho, realismo e simbolismo li‑
terários criaram um amplo universo que pôde suscitar muitos ques‑
tionamentos de natureza diversa, que aqui não se esgotam. Buscamos
compreender a visão de Pepetela sobre alguns aspectos da vida social
e política de Angola, mimetizada, sobretudo, na Lunda e em Luanda,
quatrocentos anos antes e mais de quatrocentos anos depois, matéria
essencial e fundamental para a constituição do seu trabalho literário:
pretexto para ele (e nós) falar(mos) de Angola.
Referências bibliográficas
Antônio R. Esteves, O novo romance histórico brasileiro, in L. Z. Antunes (Org.)
Estudos de literatura e linguística, Assis: Arte e Ciência, 1998, pp. 123‑158.
Hayden White, Meta‑História: a imaginação histórica do século XIX, Tradução de
José Laurênio de Melo, São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1992.
Nicolau Maquiavel, O Príncipe, Tradução de Maria Júlia Goldwasser, São Paulo:
Martins Fontes, 1999.
spbsX_P1.indb 160 09/12/30 18:20:29
O olhar de Pepetela sobre Angola 161
Nicolau Maquiavel, Comentários sobre a primeira década de Tito Livio, Tradução
de Sérgio Bath, UNB, 2000.
Pepetela, A geração da utopia, Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2005.
Pepetela, A gloriosa família − O tempo dos flamengos, Lisboa: Publicações Dom
Quixote, 2005.
Pepetela, Lueji – O nascimento de um império, Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1997.
Pepetela, Predadores, Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2006.
Pepetela, “Apeteceu‑me champanhe na escrita deste livro.” Entrevista concedida
a Isabel Lucas, Diário de Notícias, 07 de novembro de 2005. <http:dn.sapo.
pt/2005/11/07/artes/apeteceu‑me_champanhe_escrita_de_l html> Acesso em
09 de novembro de 2005.
Roberto Schwartz, Que horas são?, São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
Sandra Jatahy Pesavento, História & literatura; uma velha‑nova história, in Nuevo
Mundo Mundos Nuevos, nº 6. Disponível em < http//nuevomundo.revuesorg/
docuemntl560.html> Acesso em 24 de setembro de 2007.
Notas
1. O trabalho aqui apresentado é parte das conclusões de minha dissertação de
doutorado em Letras com área de concentração em Literatura e Cultura, com
título homônimo. Defendida na Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
em dezembro de 2007, sob a orientação da Profª. Dra. Elisalva de Fátima
Madruga Dantas.
spbsX_P1.indb 161 09/12/30 18:20:30
spbsX_P1.indb 162 09/12/30 18:20:30
Mar Caribe no Atlântico.
Poéticas da crioulização em Cabo Verde
Rui Guilherme Gabriel
Universidade de Coimbra (doutorando), Portugal
Os intelectuais envolvidos na configuração da crioulidade cabo‑ver‑
diana foram adoptando, desde o início dos anos 30, o exemplo cien‑
tífico da antropologia culturalista; assim, os nomes de Artur Ramos e
Gilberto Freyre tornam‑se hóspedes habituais dos discursos que pro‑
curam explicar a formação da língua, da sociedade e da cultura ca‑
bo‑verdianas. A tese que Gilberto Freyre apresenta em Casa Grande &
Senzala (1933) é importada para o Arquipélago e desdobra‑se quer no
João Lopes que explica as diferenças culturais entre o badiu e o crioulo
do Barlavento quer no Manuel Lopes ou no Gabriel Mariano que in‑
terpretam a plasticidade do mestiço. Baltasar Lopes da Silva, por sua
vez, sugere que em Cabo Verde a África se diluiu por acção da criou‑
lização cultural. O recurso ao princípio etnolinguístico na explicação
da identidade colectiva viu‑se reforçado em Cabo Verde pela frequente
confluência epistemológica dos estudos ou discursos crioulísticos, so‑
ciológicos e identitários, como demonstra exemplarmente a percepção,
por parte de David Hopffer Almada, da língua crioula enquanto ideal
type da mestiçagem.
O campo da teoria e da crítica poéticas foi também afectado por al‑
guns axiomas da reflexão identitária em torno da crioulização. Assim,
Jaime de Figueiredo começa por aprovar a presença da inspiração fol‑
clórica na poesia modernista do Arquipélago e procura distingui‑la do
compromisso incaracterístico da poesia mestiça. A referência ao can‑
cioneiro repete‑se em Gabriel Mariano, que acrescenta à poética da
crioulização cabo‑verdiana o padrão relacional de uma personalidade
insular freyrianamente dividida entre a rotina quotidiana e a aventura
evasionista. A derrogação do triunfo do mestiço surge na elocução vi‑
rulenta de Onésimo Silveira, que promove, contra um Baltasar Lopes
da Silva, a nobilitação da cultura cabo‑verdiana de sentido áfrico e
recusa, no mesmo gesto, qualquer clientelismo no contexto colonial.
No período da Independência, o antropólogo Mesquitela Lima reserva
para a linguagem poética a virtude da criatividade que foge à tradição,
ancorando a cultura nacional numa metáfora tribalista de resistência
spbsX_P1.indb 163 09/12/30 18:20:30
164 Rui Guilherme Gabriel
à transculturação diaspórica. Esta fixação cultural convive depois em
Manuel Veiga com a pluralidade sempre actuante que, paradoxalmen‑
te, parece estabilizar‑se na ideia de cabo‑verdianidade. Entretanto, a de‑
fesa do uso literário do crioulo, que Lima já sugerira, há‑de reiterar‑se
em José Luís Hopffer Almada, que aliás esboroa o fetiche bilingue ao
acrescentar o espanhol, o inglês e, sobretudo, o francês às línguas po‑
éticas do Arquipélago. J. L. Hopffer Almada dissolve finalmente a na‑
tureza miscigenada da cabo‑verdianidade na defesa do pluralismo, do
fragmentarismo ou do universalismo poéticos.
No contexto da apropriação do luso‑tropicalismo pela ideologia
colonial portuguesa, no dealbar da década de 60, surge no sistema li‑
terário angolano uma perspectiva teórica de feição crioulista. O seu
criador, Mário António Fernandes de Oliveira, começa por apreciar a
hibridação linguística e os quadros populares de Viriato da Cruz, mas
reorienta depois o seu interesse para a exemplar integração portugue‑
sa nos trópicos de Tomás Vieira da Cruz. José Carlos Venâncio, um
dos sequazes actuais de Mário António de Oliveira, ainda que cinda
o seu país entre os padrões africano e europeu e atribua à crioulidade
angolana uma natureza utópica, procura no mesmo Viriato da Cruz
certa variante diatópica do português e algum telurismo luandense
que supõe serem manifestações de crioulização poética. Corroborando
esta (con)fusão entre o hibridismo pós‑colonial e a crioulização his‑
tórica, Francisco Soares demanda na poética singular de M. António
um exemplo de crioulidade válida para toda a literatura do seu país.
Todavia, se o sincretismo genológico, a intertextualidade, a analogia
ou o transporte a que recorre M. António são comuns a diversíssimas
poéticas, natural se torna que Francisco Soares acabe por considerar
que todos os países são crioulos.
A mais profícua teorização sobre as poéticas da crioulização vem
sendo produzida nas Antilhas de língua francesa. O seu primeiro cul‑
tor, Édouard Glissant, procura na génese e natureza das línguas criou‑
las certo modelo cosmopolita de formação identitária e afirma, com o
antropólogo Ulf Hannerz, que o mundo se criouliza. Quanto às litera‑
turas nacionais surgidas em espaços crioulos, Glissant entende que elas
manifestam aquele desejo de audiência e história de que fala Timóteo
Tio Tiofe e que contribuem para o enriquecimento do Diverso. Tanto a
passagem da ortodoxia escrita para a heterodoxia oral como a simulta‑
neidade do cumprimento das suas funções sacralizante e dessacralizan‑
te são modos a que estas literaturas recorrem para ressarcir a ausência
de um arrière‑pays culturel nos espaços crioulos em que emergiram. A
spbsX_P1.indb 164 09/12/30 18:20:30
Poéticas da crioulização em Cabo Verde 165
síntese da teorização de Glissant surge ainda em Éloge de la Créolité,
o polémico manifesto de Bernabé, Chamoiseau e Confiant. Nele, os
créolistes defendem o cumprimento das cinco exigências transitórias de
Glissant: o enraizamento na oralidade, a revelação da memória histó‑
rica, a temática da existência, a irrupção na modernidade e a adopção
de um discurso próprio. Cumpridas estas exigências, recriada a poética
da língua crioula e satisfeito o apetite por todas as línguas do mundo,
então a literatura da Créolité deixará de balbuciar e poderá apresen‑
tar‑se ao chaos‑monde. Entretanto, contrariando certa obsessão dos
signatários do Éloge de la Créolité pelo princípio da visão interior,
Maryse Condé critica a constituição de uma norma crioula definida
como autêntica e exige a aceitação do cosmopolitismo decorrente da
emigração antilhana. Por outro lado, Ama Mazama pretende detectar
nas Antilhas indícios de categorizações étnicas e de práticas religiosas
que exigem uma crítica africanista da crioulidade.
A poesia moderna cabo‑verdiana cumpre, de forma mais ou menos
ostensiva, todas as exigências provisórias que Bernabé, Chamoiseau e
Confiant encontram na teorização exemplar de Édouard Glissant. As
duas últimas têm sido relevadas pela generalidade dos seus comenta‑
dores. O enraizamento na oralidade envolve a inclusão de dados vero‑
símeis na fantasia das estórias poéticas, a incrustação de fragmentos
narrativos no corpo lírico dos poemas ou a transposição semântica
do intertexto tradicional para as poéticas individuais ou a história do
Arquipélago. Faz ainda uso da riqueza de processos metafóricos do
crioulo, exibe o osso da sua estrutura morfológica no corpo da língua
portuguesa e chama todos os parentes pelo sangue dos nomes. A reve‑
lação da memória histórica quebra o mito do Império, reescreve uma
etnogénese esclavagista (actualizada no rumo de São Tomé), exige o
direito à palavra para denegar os cânones da história e da literatura
do colonizador e recorda a fundação e afirmação das cidades absolu‑
tamente imprevisíveis. A temática da existência serve‑se de realismos
picturais e simbólicos para debelar a atopia arsinária endógena e exibir
(sem palavras de plástico nem adjectivos arroz‑doce) um quotidiano
crioulo inédito. Ou recorre, finalmente, ao panfleto poético capaz de
marcar com ferro em brasa o culpado do desvairamento de Augusto de
nha Jeny, do Caleijão. A análise identitária da poética cabo‑verdiana
passa, enfim, pela representação do Brasil enquanto auto‑retrato do
Arquipélago num espelho convexo, pela reprodução da África exó‑
tica ou companheira na luta de libertação nacional e pela figuração
de uma Europa devastadora mas, ao mesmo tempo, doadora da arma
spbsX_P1.indb 165 09/12/30 18:20:30
166 Rui Guilherme Gabriel
miraculosa que acrescenta vestígios de todos os mundos aos poemas da
estética crioulizante.
São estes fluxos e refluxos que encontramos epilogados no “Canto
VIII” de Nascimento de um Mundo, poema que Mário Lúcio Sousa
dedica a essa arquipelágica São Vicente que pode falar todas as línguas
mortas e vivas, que abre o peito e as pernas para receber todos os bar‑
cos do mar. Seja este, portanto, um elogio da poética em que o mundo
converge cosmopolitamente para se dizer Mar Caribe no Atlântico.
Referências bibliográficas
Artigos e obras teóricos cabo‑verdianos
David Hopffer Almada, Caboverdianidade e Tropicalismo, Recife: Editora
Massangana, 1992.
José Luís Hopffer C. Almada, “Apresentação”, Mirabilis. De veias ao sol, 2ª. ed.,
Praia: IPC, 1998, pp. 25‑34.
José Luís Hopffer C. Almada, “A poética cabo‑verdiana pós‑Claridade – Alguns
traços essenciais da sua arquitectura”, in Cabo Verde. Insularidade e
Literatura, Paris: Karthala, 1998, pp. 137‑65.
José Luís Hopffer C. Almada, “Estes poetas são meus. De todo o orgulho.
Problemáticas actuais da lusografia e da universalização na literatura
cabo‑verdiana”, Lusografias, 1 (2005), pp. 113‑21.
Jaime de Figueiredo, “Um poeta do quotidiano crioulo”, Poemas de Longe, por
António Nunes, 2ª ed., Praia: ICL, 1988, pp. 13‑23.
Jaime de Figueiredo, Introdução, Modernos Poetas Cabo‑Verdianos. Antologia,
Lisboa: Edições Henriquinas, 1961.
Mesquitela Lima, “Pão & Fonema ou a Odisseia de um Povo”, Pão & Fonema,
por Corsino Fortes, 2.ª ed., Lisboa: Sá da Costa, 1980, pp. 63‑97.
João Lopes, “Apontamento”, Claridade, 1 (1936), p. 9.
João Lopes, “Apontamento”, Claridade, 3 (1937), p. 6.
Manuel Lopes, “Tomada de vista”, Claridade, 1 (1936), pp. 5‑6.
Manuel Lopes, “Tomadas de vista”, Claridade, 3 (1937), pp. 9‑10.
Gabriel Mariano, Cultura Caboverdeana. Ensaios, Lisboa: Vega, 1991.
Baltasar Lopes da Silva, “Notas para o estudo da linguagem das ilhas”, Claridade,
2 (1936), pp. 5 e 10.
Baltasar Lopes da Silva, “Uma experiência românica nos trópicos I”, Claridade, 4
(1947), pp. 15‑22.
Baltasar Lopes da Silva, “Uma experiência românica nos trópicos II”, Claridade,
5 (1947), pp. 1‑10.
spbsX_P1.indb 166 09/12/30 18:20:30
Poéticas da crioulização em Cabo Verde 167
Baltasar Lopes da Silva, Cabo Verde visto por Gilberto Freyre, Praia: Imprensa
Nacional, 1956.
Baltasar Lopes da Silva, O Dialecto Crioulo de Cabo Verde, 2ª ed., Lisboa: IN‑CM,
1984.
Onésimo Silveira, Consciencialização na Literatura Cabo‑Verdiana, Lisboa: CEI,
1963.
Manuel Veiga, A Sementeira, Linda‑a‑Velha: ALAC, 1994.
Artigos e obras teóricos angolanos e antilhanos
Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau e Raphaël Confiant, Éloge de la Créolité, 2.ª
ed., Paris: Gallimard, 2002.
Maryse Condé e Madeleine Cottenet‑Hage, Penser la Créolité, Paris: Karthala,
1995.
Édouard Glissant, Introduction à une Poétique du Divers, Paris: Gallimard, 1996.
Édouard Glissant, Le Discours Antillais, Paris: Gallimard, 1997.
Mário António Fernandes de Oliveira, Luanda, “Ilha” Crioula, Lisboa: AGU, 1968.
Mário António Fernandes de Oliveira, Reler África, Coimbra: Instituto de
Antropologia da Universidade de Coimbra, 1990.
Mário António Fernandes de Oliveira, Formação da Literatura Angolana
(1851‑1950), Lisboa: IN‑CM, 1997.
Francisco Soares, A Autobiografia Lírica de M. António: uma Estética e uma Ética
da Crioulidade Angolana, Évora: Pendor, 1996.
Francisco Soares, Notícia da Literatura Angolana, Lisboa: IN/CM, 2001.
José Carlos Venâncio, Literatura versus Sociedade, Lisboa: Vega, 1992.
José Carlos Venâncio, Uma Perspectiva Etnológica da Literatura Angolana, Lisboa:
Ulmeiro, 1993.
José Carlos Venâncio, Colonialismo, Antropologia e Lusofonias, Lisboa: Vega, 1996.
Obras poéticas
Osvaldo Alcântara, Cântico da Manhã Futura, Praia: Banco de Cabo Verde, 1986.
Jorge Barbosa, Obra Poética, Lisboa: IN‑CM, 2002.
Corsino Fortes, A Cabeça Calva de Deus, Lisboa: Publicações Dom Quixote,
2001.
Gabriel Mariano, Ladeira Grande, Lisboa: Vega, 1993.
Timóteo Tio Tiofe, O Primeiro e o Segundo Livros de Notcha, Mindelo: Edições
Pequena Tiragem, 2001.
spbsX_P1.indb 167 09/12/30 18:20:30
spbsX_P1.indb 168 09/12/30 18:20:30
Noites nada mornas de Dina Salústio:
a oportunidade do diálogo
Maria Teresa Salgado
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
A voz de Dina Salústio destaca‑se como uma das mais provocadoras
da ficção cabo‑verdiana do pós‑independência, mas não só. A escritora
navega pela poesia e pelo ensaio com maestria. Sua produção vem des‑
pertando a crítica, que afirma que Salústio “inaugura uma nova manei‑
ra de dizer o mundo a partir de Cabo Verde” (Gomes, 2000, p. 115).
Há mais de 10 anos, Simone Caputo Gomes, uma entusiasmada
apresentadora dessa escritora, dedica artigos ao estudo de sua obra, sa‑
lientando sua importância para uma reflexão sobre o papel da mulher
na contemporaneidade. O entusiasmo da pesquisadora tem aumentado
o número de admiradores da obra de Salústio no Brasil, gerando estu‑
dos como os de Sonia Maria Santos, que, orientada por Simone, em
dissertação de mestrado, enfatizou a releitura inovadora que Salústio
propõe das tradições culturais cabo‑verdianas.
Abordo, aqui, apenas alguns dos contos ou crônicas de Mornas
eram as noites, procurando salientar o comprometimento da narra‑
tiva na representação de novas subjetividades no espaço da literatura
cabo‑verdiana e africana.
Diferente de Pepetela, Mia Couto, Luandino, para citar apenas al‑
guns dos escritores africanos que refletem sobre o seu processo ficcio‑
nal e as técnicas aí envolvidas, Salústio parece não dar muito relevo ao
papel de escritora, afirmando que não o considera como uma atividade
separada da sua vida, como declara em entrevista concedida a Gomes
em 1994: “Sou uma mulher que escreve umas coisas” ou ainda: “Não
são ficção, é cá um encontro que é verdade, um momento só” (Gomes,
2000, p.114).
Embora aqueles que conhecem sua obra não tenham a menor dúvida
em relação ao valor literário de seus textos e a sua verdadeira dimensão
como ficção e poesia, é difícil deixar de refletir sobre a concepção da cria‑
ção literária que perpassa suas declarações, bem como de algumas escri‑
toras africanas. Escritoras que não se assumem escritoras; escritoras que
parecem se “desvincular” do fazer literário para se apresentarem como
porta‑vozes de experiências e de sentimentos de homens e mulheres.
spbsX_P1.indb 169 09/12/30 18:20:30
170 Maria Teresa Salgado
Tal posição não é nova na literatura e menos ainda no espaço afri‑
cano. Já vimos sentimento semelhante, no depoimento de uma das pri‑
meiras vozes poéticas da literatura moçambicana. Noémia de Sousa
(Chabal, 1994, p.119) ao ser entrevistada por Patrick Chabal, a pro‑
pósito do papel pioneiro de sua obra poética, Sangue negro, tentou di‑
minuir a sua importância como escritora. Décadas depois de Noémia,
Paulina Chiziane, ficcionista moçambicana, cujas narrativas já se pro‑
jetaram além do espaço africano, sendo traduzidas em vários idiomas,
também se negou como escritora, em diversas entrevistas, e insistiu no
seu papel de “contadora de histórias”. Tal declaração pode ser conferi‑
da em inúmeros depoimentos, como lemos, por exemplo, na contraca‑
pa de um de seus romances (Chiziane, 2003).
Sabemos que essa atitude de se negar como escritor pode fazer parte
das várias estratégias que o autor emprega, seja para chamar a aten‑
ção da crítica, seja para constituir o seu pacto com o leitor, seja por
qualquer outro motivo. Se não nos cabe levar suas declarações ao pé
da letra, podemos, no entanto, especular sobre possíveis relações entre
seus depoimentos e suas obras. Com certeza, as produções literárias de
Noémia de Sousa, Paulina Chiziane e Dina Salústio são diferentes em
muitos aspectos, assim como diferem as motivações do seu negar‑se
como poetas ou ficcionistas. Por outro lado, a vinculação entre a ex‑
periência e a escrita, entre a vida e a obra, é um dado que parece unir
essas três mulheres e talvez mereça ser mais detidamente avaliado.
Não pretendo aqui sugerir uma associação simplista entre vida e obra.
Parece‑me, contudo, interessante, destacar o modo como essa valoriza‑
ção da experiência ou valorização da emoção se manifesta na obra de
três escritoras de grande significação, sobretudo numa época em que se
cultua tanto a figura do escritor.
Tal sentimento comum às três escritoras levou‑me a refletir sobre
as palavras de Todorov na introdução de Nós e os outros. A partir de
um contato mais íntimo com as ciências sociais, na França, país em
que escolheu para viver, o teórico búlgaro, cuja maior parte da obra
foi produzida no exílio, sentiu a necessidade de nutrir cada vez mais
as suas pesquisas a partir de suas experiências pessoais, de suas con‑
vicções e simpatias, buscando uma ligação mais estreita entre viver e
dizer. Isso não significou, em nenhum momento, menos precisão ou
renúncia ao princípio da razão na abordagem das ciências humanas;
significou, antes, que se recusava a eliminar o que para ele constitui a
especificidade de tais ciências, a comunhão entre sujeito e objeto, entre
fatos e valores. Um pensamento que não se nutrisse da experiência ou
spbsX_P1.indb 170 09/12/30 18:20:31
A oportunidade do diálogo 171
da emoção do pensador só traria satisfação às instituições burocráti‑
cas. Em resumo, diz o pesquisador na citada obra: como se ocupar do
humano sem tomar partido?
O modo como Salústio nutre sua escrita a partir de suas experiências
pessoais é exemplar, pois cada um dos gêneros pelos quais navega ga‑
nha força justamente graças a esse envolvimento com o mundo que sua
escrita parece preconizar. Como ensaísta, por exemplo, salta aos olhos
o seu sólido conhecimento da história da literatura cabo‑verdiana e do
sofisticado processo de criação de seus escritores. No texto “A insula‑
ridade na literatura cabo‑verdiana”, por exemplo, ela faz uma sensível
reflexão sobre a literatura do arquipélago e suas relações com o espaço
ilhéu, levando‑nos a refletir, também, sobre a integração entre vida e
obra, patenteada na sua própria produção de modo tão impositivo. Eis
um trecho: “... apesar de a escrita não ser um modo de ganhar a vida, o
ilhéu exercia‑a como modo de viver a vida, com extremo engajamento,
não se dedicando exclusivamente a ela geralmente por impossibilidade
de escolha” (Salústio, 1998, p 33). A escrita torna‑se, a partir dessa
ótica, inevitavelmente, uma atividade de alto comprometimento.
Para Salústio, a insularidade revela‑se como uma força avassalado‑
ra no universo cabo‑verdiano que envolve a condição do escritor‑ilhéu,
sempre dominado por seu espaço, num cenário marcado pelo senti‑
mento de isolamento, de injustiça, de solidão e de angústia, mas tam‑
bém, em contrapartida, um espaço que alimenta vôos de amplitude, de
desejo de liberdade e de solidariedade. Trata‑se de marcas tão caras à
literatura cabo‑verdiana, que, segundo a escritora, tornam‑se um lega‑
do à literatura universal, uma vez que os sentimentos de fragilidade,
solidão e angústia configuram conflitos, antes de tudo, humanos.
Em Mornas eram as noites, livro de crônicas ou mini‑contos, escrito
em 1994, percebemos em que medida esse espaço funciona como um
elemento que exacerba os conflitos humanos e, por isso mesmo, pode
ser visto como matéria prima passível de ser transformada para novos
vôos literários ou novas representações da subjetividade na narrativa
de Salústio.
A palavra morna, como aponta Simone Caputo Gomes, abre‑se
para muitos significados: permite‑nos a associação entre prosa e poesia,
uma vez que é “modalidade musical típica de Cabo Verde que veicula a
poesia oral” (Gomes, 2000, p. 115). Além de ser, tradicionalmente, um
canto de mulheres, muito cultuado em Cabo Verde, as mornas são ver‑
dadeiras crônicas vivas e expressivas da vida do cabo‑verdiano, poden‑
do exprimir a dor, a alegria, a nostalgia, os problemas existenciais, a
spbsX_P1.indb 171 09/12/30 18:20:31
172 Maria Teresa Salgado
esperança. Enfim, trata‑se de um gênero musical de enorme plasticida‑
de, que se diversifica em cada uma das ilhas do arquipélago. A morna é
música da nacionalidade e da identidade cabo‑verdiana (Gomes, 2000,
p. 115). A esses aspectos, podemos acrescentar, acredito também, um
sentimento de ambigüidade, uma vez que a idéia de mornidão tanto
pode sugerir um estado de tepidez confortável quanto uma sensação de
passividade nada agradável, diante da qual é preciso reagir, diante da
qual é preciso posicionar‑se, tomar partido, como sugerem quase todas
as narrativas do livro.
A maior parte das curtas histórias constrói‑se como instantâneos de
cenas contundentes, muitas vezes angustiantes, algumas vezes bem‑hu‑
moradas e outras vezes até plenas de sonho e esperança. Cenas que
envolvem quase sempre mulheres, cercadas por circunstâncias sociais
como a pobreza, a doença, a violência, os preconceitos, mas também
flagrantes que enfocam os espaços domésticos e as sutis relações entre
familiares, amigos e conhecidos. São histórias que se voltam para as
mais variadas classes e tipos sociais, abraçando personagens e cenários
da sociedade cabo‑verdiana, revelando‑nos antes de tudo um narrador
comprometido ao extremo com o mundo circundante, atento e sensível
aos dramas que percebe a sua volta.
Na primeira história, “Liberdade adiada”, uma mulher miserável
pensa em se atirar do barranco, enquanto passam por sua cabeça os
mil motivos para terminar de vez com uma vida na qual não há nada a
perder. Sentimentos ambíguos de ódio e amor mesclam a paisagem ao
seu corpo, tornando‑os um só elemento:
Como seria o coração? Teria mesmo aquela forma bonita dos postais
coloridos? Seriam todos os corações do mesmo formato? Será que as
dores deformam os corações? Pensou em atirar a lata de água ao chão,
esparramar‑se no líquido, encharcar‑se, fazer‑se lama, confundir‑se
com aqueles caminhos que durante anos e mais anos lhe comiam a sola
dos pés, lhe queimavam as veias, lhe roubavam as forças” (Salústio,
1994, p. 5).
Após desistir do suicídio, a personagem corre em direção à praia
onde encontrará o personagem‑narrador. O texto nos conta que foi
graças a esse encontro que a estória se transmitiu ao personagem‑nar‑
rador que, por sua vez, pôde recontá‑la a nós leitores, cooptados, dessa
forma, a fazer parte da experiência que nos é narrada. E o conto termi‑
na: “Quando a encontrei na praia, ela esperando a pesca, eu atrás de
outros desejos, contou‑me aquele pedaço de sua vida, em resposta ao
spbsX_P1.indb 172 09/12/30 18:20:31
A oportunidade do diálogo 173
meu comentário de como seria bom montar numa onda e partir rumo
a outros destinos, a outros desertos, a outros natais” (Salústio, 1994,
p. 6).
O discurso indireto livre favorece o clima de completa adesão do
narrador em terceira pessoa a essa personagem emblemática. A mulher
da história não tem nome, pois representa, na verdade, não apenas
todas as mulheres que tiveram sua liberdade adiada, mas também as
crianças, os jovens, os velhos e os homens cerceados em seus mais pro‑
fundos sonhos.
Mais uma vez, a imagem do mar, tão recorrente na literatura ca‑
bo‑verdiana, vem corroborar a sua força no imaginário do arquipé‑
lago. O mar, como sempre, responde à já conhecida e antiga ambiva‑
lência do ilhéu: o eterno drama entre “partir ou ficar”. Mas agora o
mar responde, também, a novos desejos e expectativas; volta‑se, como
lemos no final do primeiro conto, “rumo a outros destinos, outros de‑
sertos, outros natais”. É preciso, portanto, como sugere a narrativa,
fazer emergir outras vozes, que apontem caminhos e situações não ex‑
ploradas no imaginário cabo‑verdiano.
Não é à toa que esse primeiro conto se intitula “Liberdade adiada”.
Ao denunciar, logo de saída, a impossibilidade de realização do desejo,
da liberdade sonhada, essa primeira narrativa termina afirmando, pa‑
radoxalmente, a sua realização. É chegado o momento de representar
vozes que até então não foram enunciadas. Vozes, em primeiro lugar,
de mulheres que falam das suas dores, de suas dúvidas, de suas vi‑
das. Mas também quaisquer outras vozes que buscam conforto e o
encontram na figura do narrador, que emergirá, quase sempre, como
narrador‑personagem, dialogando com os que até então não encon‑
traram interlocutor, chamando e provocando o leitor a conhecer as
personagens retratadas ou a nelas se reconhecer.
Em “A oportunidade do grito” (Salústio, 1994, pp. 7‑8), a persona‑
gem‑narradora faz parte de um grupo de mulheres que conversa sobre
a necessidade de enfrentar os obstáculos da vida. No conto em questão,
seu comentário final é a propósito do prazer de descobrir a coragem
de uma das amigas, que incita a outra a desafiar até mesmo Deus. A
recusa de se entregar a fatalismos, determinismos ou quaisquer outras
ideologias que imponham uma camisa de força é uma tônica, por sinal,
de todos os contos.
Em “Campeão de qualquer coisa”, o tema é o do ser e parecer,
o da ridícula necessidade de nos apresentarmos sempre como figuras
de sucesso. Trata‑se, também, como observa Simone Gomes, de uma
spbsX_P1.indb 173 09/12/30 18:20:31
174 Maria Teresa Salgado
reflexão sobre os comportamentos competitivos e mesmo agressivos es‑
perados no tipo de sociedade na qual vivemos (Gomes, 2000, p. 117).
O conto retrata uma interessante conversa entre um homem que chega
numa festa e uma mulher que o recebe, sugerindo que ele escolha um
dos grupos de campeões que se distribuem pela sala. Juntos, os dois
terminam analisando as máscaras que criamos para cada um de nossos
personagens sociais.
Todas as micro‑narrativas do livro tratam de temas já bastante ex‑
plorados pela literatura: a solidão, o medo, a violência social, a miséria,
a frustração dos desejos e expectativas. No entanto, por mais dolorosas
que sejam as cenas aí retratadas, o saldo final é o do mergulho do nar‑
rador no texto, nutrindo‑o a partir de suas experiências pessoais, não
como alguém mais sábio, mas como alguém capaz de captar admiravel‑
mente experiências e emoções, compartilhando‑as com o leitor.
Com certeza, como diz W. Benjamin, (Benjamin, 1985, p. 200) não
vivemos mais em sociedades que permitam a figura do narrador como
um sábio, como aquele que é capaz de dar um conselho. Mas parece
ser ainda possível encontrarmos narradores que acreditam que sua ta‑
refa é trabalhar a matéria prima da experiência – a sua e a dos outros
–, como faz Dina Salústio, trazendo‑nos cenas curtas, porém contun‑
dentes, embora talvez saiba que esse produto não é mais tão sólido e
único e que as cenas talvez se destinem a durar apenas um breve, mas
intenso, instante. A escritora‑narradora representa uma voz que resiste
ao meio e busca retirar da sua própria experiência o que conta − o que
narra e o que importa −, apresentando formas de incorporar o narrado
à experiência de seus ouvintes‑leitores.
Vale observar que a possibilidade de diálogo, que os micro‑contos
da autora instauram, não significa nunca uma resposta para as angús‑
tias do leitor, mas antes uma sugestão para a continuação de uma histó‑
ria que está sendo narrada e vivida, como nos explica ainda Benjamin
(1986, p. 200). Estamos, com Salústio, diante da opção por se ocupar
do humano tomando partido. Talvez daí decorra uma de suas dificul‑
dades em se assumir como ficcionista. Afinal de contas, o ficcionista
contemporâneo, o chamado ficcionista pós‑moderno, nada teria a ver
com a ficcionista de Mornas eram as noites. Pelo menos se o conside‑
rarmos, conforme sugere Silviano Santiago, como “aquele que quer
extrair a si da ação narrada, em atitude semelhante à de um repórter ou
de um espectador. Ele narra a ação enquanto espetáculo a que assiste
(literalmente ou não) da platéia (...)” (Santiago, 1989). O narrador de
Mornas eram as noites compromete‑se com seus personagens, quer dar
spbsX_P1.indb 174 09/12/30 18:20:31
A oportunidade do diálogo 175
voz às suas dores, confortá‑los e até provocá‑los, e não extrair‑se da
ação narrada.
As histórias de Dina Salústio não dramatizam mais a condição da
insularidade, o eterno drama do ilhéu dividido entre o partir e o fi‑
car, que marcou toda a formação da literatura cabo‑verdiana, ou o
anti‑evasionismo defendido pelos escritores pós‑claridosos. Contudo,
seus textos, atestando a maturidade da literatura cabo‑verdiana, pro‑
movem uma releitura da história literária do arquipélago, ao mesmo
tempo em que inovam a ficção cabo‑verdiana, redimensionando o pa‑
pel do narrador comprometido com o diálogo e com o intercâmbio das
experiências.
Referências bibliográficas
Dina Salústio, Mornas eram as noites, Praia: Instituto caboverdiano do livro e do
disco, 1994.
Dina Salústio, “Insularidade na literatura cabo‑verdiana”, in Cabo Verde:
insularidade e literatura, org. Manuel Veiga, Paris: Karthala, 1998, p 33.
Patrick Chabal, Vozes moçambicanas: literatura e nacionalidade, Lisboa: Vega,
1994.
Paulina Chiziane, Balada de amor ao vento, Lisboa: Caminho, 2003.
Silviano Santiago, “O narrador pós‑moderno”, in Nas malhas das letras, São
Paulo: Companhia das Letras, 1989.
Simone Caputo Gomes, “Mulher com paisagem ao fundo”, in África e Brasil:
Letras em Laços, org. Maria do Carmo Sepúlveda e Maria Teresa Salgado,
São Paulo: Atlântica, 2000.
Sonia Maria Santos, A Oportunidade do Grito em Mornas eram as Noites, de Dina
Salústio, Dissertação (Mestrado em Letras), Rio de Janeiro: Universidade
Federal Fluminense, 1997.
Tzvetan Todorov, Nous et les autres. La reflexion française sur la diversité humaine,
Paris: Editions du Seuil, 1989.
Walter Benjamin, “O narrador”, in Obras escolhidas. Magia e Técnica, Arte e
Política, vol. 1, 2a. ed., São Paulo: Brasiliense, 1986.
spbsX_P1.indb 175 09/12/30 18:20:31
spbsX_P1.indb 176 09/12/30 18:20:31
José Luís Tavares: um percurso fecundo
e luminoso na novíssima poesia caboverdiana
José Luis Hopffer C. Almada
Escritor, ensaísta, Cabo Verde
I.
De há uns tempos a esta parte, a crítica e os estudos sobre a litera‑
tura caboverdiana vêm‑se debruçando sobre os sinais de mudança nos
paradigmas estético‑formais, temáticos, ideológico‑culturais na poesia
caboverdiana contemporânea, sobretudo naquela produzida no período
subsequente à independência das ilhas, ocorrida a 5 de Julho de 1975.
Na nossa opinião, essa mudança de paradigmas ocorre de forma
insofismável nas obras Paraíso Apagado por um Trovão e Agreste
Matéria Mundo, de José Luís Tavares.
Neste poeta, como em poucos poetas caboverdianos contemporâ‑
neos de língua portuguesa, é flagrante a irrupção de novos paradigmas
mediante o primacial recurso à reinvenção da linguagem.
O já relativamente longo percurso literário de José Luís Tavares
(quarenta e um anos feitos a 10 de Junho de 2008) tem o seu ponto de
partida no Liceu Domingos Ramos da cidade Praia, onde co‑fundou
e dirigiu a folha juvenil Aurora (de iniciação às lides literárias), no já
longínquo ano de 1987.
Então “aprendiz de poeta e de ficcionista”, embebido de insaciável
curiosidade intelectual e em pleno processo de maturação criativa, José
Luís Tavares foi frequentador regular das tertúlias literárias que, por
essa altura, pululavam entre os jovens revelados dos anos oitenta na
cidade da Praia.
Foi nestes tempos praienses que também iniciou a sua colaboração
na revista Fragmentos, do Movimento Pró‑Cultura, publicação funda‑
da em 1987 e na qual pela primeira vez deu um conto (“Quotidiano
Cinzento”) à estampa, para além de vários poemas indiciadores da sua
progressiva maturação estético‑literária.
Nessa mesma cidade, foi visitante assíduo dos Centros Culturais
Português e Brasileiro, os quais lhe propiciaram fecundos contactos
com as obras de grandes nomes da poesia mundial, como Ezra Pound,
António Ramos Rosa, Eugénio de Andrade ou Haroldo de Campos.
spbsX_P1.indb 177 09/12/30 18:20:31
178 José Luis Hopffer C. Almada
A sorte consubstanciada na estrada para a lonjura que se adivinha‑
va viria abruptamente irromper no destino do então jovem professor
do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário, então diplomado com os
Cursos dos Liceus. Os prementes problemas editoriais que se viviam na
altura, particularmente na capital do país, bem como a morosidade na
escrita do prefácio, a cargo do autor das presentes linhas, impediram
que, em 1988, José Luís Tavares publicasse Entre as Mãos e o Silêncio,
seu virtual livro de estreia, cuja relativa qualidade, no entanto, poderia
tê‑lo colocado entre os melhores primeiros livros editados nos princí‑
pios dos anos noventa por elementos da geração literária revelada na
segunda metade dos anos oitenta do século passado.
Do projecto de livro de José Luís Tavares ficaram os poemas publi‑
cados na revista Fragmentos e/ou integrados na colectânea Mirabilis
− de Veias ao Sol (IPC, Praia, 1998), de intenção panorâmica do con‑
junto dos poetas revelados no período situado entre o imediato pós‑25
de Abril de 1974 e Setembro de 1987.
A propósito desses poemas, alguns deles notoriamente juvenis, in‑
tegrados na colectânea Mirabilis – de Veias ao Sol, ironizou José Luís
Tavares por ocasião do seu recente regresso a Cabo Verde para o lan‑
çamento dos seus dois primeiros livros, dizendo que os mesmos “lhe
deveriam valer no mínimo um par de chibatadas”, por esse modo ates‑
tando, além de boa disposição, uma louvável capacidade de autocríti‑
ca, distanciamento e auto‑superação.
Corria, finalmente, o ano de 1988, José Luís Tavares teria a opor‑
tunidade de percorrer a sua Estrada de Damasco, quando, navegadas
as “nuvens nuas” (do título da fotografia da capa do livro Paraíso
Apagado por um Trovão da autoria do artista plástico caboverdiano
e companheiro de geração Mito) dos céus da Pasárgada para o sacia‑
mento da sede de instrução superior, então somente possível em lon‑
ges terras, ancorou em Lisboa, onde, a par da frequência do Curso de
Línguas e Literaturas Modernas e do Curso de Filosofia da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, protagonizou
intenso e profícuo convívio com os escaparates, os auditórios, as tertú‑
lias e outros lugares do saber e do lazer.
Foi nessa oportunidade, também de reencontro com os pais e de‑
mais familiares de há muito radicados na periferia da ex‑capital do
Império colonial, que o estudante universitário pôde contactar e conhe‑
cer a cintura suburbana da Pedreira dos Húngaros e do Alto de Santa
Catarina. Aí pôde divisar e dissecar todo o resplendor de dignidade que
fazia por sobreviver “ao logro no coração metropolitano do império”
spbsX_P1.indb 178 09/12/30 18:20:31
José Luís Tavares: um percurso fecundo e luminoso 179
(como escreveu o poeta Arménio Vieira) e se acendia, inexaurível, no
ser humano encurralado pela segregação social, racial e residencial,
sem todavia deixar de se extasiar com o esplendor lato e líquido do
Tejo, ele que vem de uma terra despojada de rios, mas bafejado pelo
mar e, periodicamente, invadido pelas águas barrentas das cheias dos
eventuais meses de “as‑águas”.
Esta cidade de Lisboa é também crioula por tributo de vivência,
de impregnação cívica, de amada descendência, bem como dos dias
costurados em suor e esforço das mentes perscrutantes dos estudantes
e dos intelectuais e das mãos laboriosas das mulheres e dos “operários
em construção”, todos originários das ilhas sahelianas. Nela José Luís
Tavares colabora no “DN – Jovem” (suplemento literário do jornal
lisboeta Diário de Notícias), assim participando, com um outro cabo‑
verdiano (António da Névada), na emergência de uma nova geração de
literatos de pena lusógrafa e de rosto português (por vezes, inevitável
e sub‑repticiamente apodado de pretoguês) e no também lisboeta JL
(Jornal de Artes e Letras), iniciais por que é também conhecido entre
os amigos e admiradores mais indefectíveis.
Apaixonado (diria até fanático) cultor de poesia, insaciável na bus‑
ca do novo na linguagem e na perscrutação do insondável para além do
real quotidiano, municiado com os conhecimentos da técnica do verso,
da tradição poética e da poesia contemporânea lusógrafas, da teoria
da literatura e da filosofia que a formação universitária e um trabalho
quotidiano, persistente, as leituras, múltiplas e transpirantes, os dias
insones e as noites de noctívago lhe propiciaram, José Luís Tavares
propôs‑se ser um partícipe activo e fecundo na invenção de um dizer
novo, não só na poesia caboverdiana, como também em toda a poesia
de língua portuguesa.
Dizer novo e fundado num cânone de raiz ocidental e matriz lusó‑
grafa, mesmo se marcado por uma cosmologia pessoal, indissociável,
ainda que por modo remoto, de um sopro badio e de uma sensibilidade
assumidamente caboverdiana.
É o próprio José Luís Tavares que se desvela a Maria João Cantinho
em entrevista publicada na revista electrónica Storm‑Magazine: “Sou
poeta e sou cabo‑verdiano. O ser cabo‑verdiano está subsumido na
condição de poeta. Clandestino na ditadura do mundo, como o definiu
Herberto Hélder, o poeta nunca é de um só lugar, de uma só língua, de
uma só tradição. Híbrida e viajante é a sua condição, e, no meu caso
pessoal, ainda mais, em decorrência do “ethos”, das peculiaridades his‑
tóricas e do longo afastamento do solo pátrio”.
spbsX_P1.indb 179 09/12/30 18:20:32
180 José Luis Hopffer C. Almada
Na prossecução do desiderato de inovação e renovação a que se
propôs, José Luís Tavares tornou‑se um festejado artífice da universali‑
zação da poesia caboverdiana e, nessa empreitada, cúmplice do labor e
da herança ainda viva de poetas, companheiros da língua comum, mas
também das ilhas nossas, grandes como João Vário, Gabriel Mariano,
T. T. Tiofe, Corsino Fortes, Oswaldo Osório, Mário Fonseca e, deste
modo, atípico testamenteiro da consigna de Arménio Vieira: “é pela
metaforização do discurso que se salva o pensamento”.
Os livros de José Luís Tavares estão aí para, “de forma absolu‑
tamente autoritária”, comprovar a mudança de paradigma na poesia
caboverdiana contemporânea, por um lado, e, por outro lado, contri‑
buir para tornar ainda mais visível a reinvenção da arte de escrever na
poesia lusógrafa dos nossos tempos.
II.
É o que, aliás, constatou em estado de choque estético, o jornalis‑
ta, poeta e crítico literário português António Cabrita (“Corsário das
ilhas”, in suplemento “Actual” do jornal Expresso, de 6 de Março de
2004) para quem o livro inaugural Paraíso Apagado por um Trovão é
a mais “autoritária” primeira obra que leu nos últimos tempos”, sendo
ademais comprovativo de “um dos mais flagrantes domínios da língua
portuguesa” que lhe foi dado testemunhar.
Na verdade, Paraíso Apagado por um Trovão choca, desde logo,
pelo seu apuro de linguagem, vazada num português raro (quiçá rebus‑
cado) na sua erudição.
Característico dessa linguagem é o seu quase despojamento do
coloquialismo identitário da poética e do concreto léxico da cabo‑
verdianidade, por vezes marcada pelo chamado “português literário
caboverdiano”, de invenção claridosa, o qual se singulariza por ser
frequentemente chão, mesmo se irrecusavelmente autêntico na sua per‑
tinência cultural e assaz elaborado na sua inventividade literária. De
todo o modo é o apuro da linguagem, na sua raridade e erudição, que
tornam patente e incontornável o efeito universalizante de ruptura com
o telurismo atávico, quer o de raiz claridosa, quer o de feição novalar‑
gadista e vanguardista.
O despojamento e o efeito de ruptura acima assinalados denotam‑se
como tanto mais insólitos, quando a convocação dos lugares onde o
poeta enterrou o seu umbigo e passeou a sua sombra, os lugares “onde
spbsX_P1.indb 180 09/12/30 18:20:32
José Luís Tavares: um percurso fecundo e luminoso 181
habita o trovão” (título do primeiro caderno) e das pessoas, redimi‑
das da amnésia nos “retratos cativos” (título do segundo caderno), se
adensa de referências telúricas ou conexas com o real caboverdiano.
Referencialidade des‑ocultada na medida em que, em regra, os mo‑
tivos são inequivocamente caboverdianos e se trata da evocação da
infância e dos seus trilhos memorizados como paradisíacos na sua de‑
vastada nudez, bem como (sentimo‑lo, adivinhámo‑lo!) da encenação
da memória junto ao mar do Tarrafal de Santiago de Cabo Verde − o
da circunscrição do medo no ex‑campo de morte lenta do chão bom − e
à agreste paisagem onde cristos de negra pele se crucificam na azáfama
da corta de frutos raros e cada dia na labuta dos pescadores é uma
atribulação sagrada e rente à escassez do paraíso.
Referencialidade velada e surpreendente, no entanto, devido ao
cunho universalizante logrado por efeito da meditação retrospectiva,
orquestrada pelo “rigor e pela cadência” da palavra tornada cúmpli‑
ce, como se parte indispensável da utensilisagem doméstica, percutin‑
do inventariante (para utilizar o título do terceiro caderno “Matéria
de Inventário”) sobre as vivências experienciadas (“Erlebnis und
Erfahrung”, diríamos em alemão), observadas ou, melhor, imaginadas
e recriadas do e para o interior rural de Santiago e da vizinhança rude
e numerosa, e por mor da elevação, até a um certo preciosismo, da
linguagem.
Dizemos preciosismo, ressalve‑se, não no sentido de fátuo e barro‑
co exibicionismo verbal e lexicográfico, mas da adequação da palavra
exacta e memorável à prolífera santidade dos lugares, à recusa do ol‑
vido e ao politeísmo dos olhares da revisitação sobre a chã variedade
dos objectos de culto.
É essa linguagem elevada que, por vezes, é inesperada e insolita‑
mente contaminada quer por expressões que remontam a Camões e à
poesia medieval de D. Dinis da “frol do verde pino” e ainda sobrevi‑
vem no idioma caboverdiano, quer por termos oriundos do “crioulo
fundo” (basilectal) de Santiago (por exemplo: “txabeta”, “lacacan”,
“tabanca”).
Se para um leitor não caboverdiano (ou não conhecedor da varian‑
te‑matriz da língua caboverdiana) presumimos que o uso de termos
do crioulo fundo de Santiago pode provocar um efeito de estranheza
− enquanto misto de espanto, surpresa, assombro e curiosidade em
face da intimidade com o raro, quais pedras preciosas incrustadas
num antiquíssimo e valioso tecido, já, de per se, de altíssima qualida‑
de −, para um leitor caboverdiano os mesmos termos poderão, muito
spbsX_P1.indb 181 09/12/30 18:20:32
182 José Luis Hopffer C. Almada
provavelmente, provocar um efeito de inesperada e inusitada autentici‑
dade telúrica, cosmogónica, humana e identitária.
É esse efeito que vem somar‑se ao assombro porventura sentido em
face do insólito adveniente da linguagem utilizada e na qual ressumam
tradição e modernidade, em toda a sua plenitude e soberania estéticas.
Linguagem reverenciadora do cânone da mais alta estirpe mas tam‑
bém portadora de constantes, inusitadas, provocatórias rupturas que
o autor prefere denominar “sabotagens linguísticas” (vide entrevista a
Maria João Cantinho).
É o mesmo efeito de autenticidade acima assinalado que vem jun‑
tar‑se à magoada resplandecência do chão da infância, das suas vere‑
das, dos seus trilhos e das suas genealogias, do seu indizível espanto,
agora exumados por mor da encenação da memória pela linguagem – a
mais alta, a mais trovejante − da poesia.
Opinando que Paraíso Apagado por um Trovão se oferece como
“formidável trabalho arqueológico da língua portuguesa”, em recen‑
são publicada na revista Artiletra (“Paraíso Apagado por um Trovão,
poesia de José Luís Tavares”) situa Fátima Monteiro o labor de José
Luís Tavares no limiar de uma certa erudição dicionarista.
Explica a académica:
Encontramos nele muitas palavras que quase só têm lugar nos dicio‑
nários do português, enquanto se afirmam, ao mesmo tempo, como
substrato e latência do medievo e do Renascimento na fala rural do ca‑
bo‑verdiano de hoje. No universo vocabular, Gil Vicente e Camões não
se sentiriam certamente em terra estrangeira. A presença de Camões
não se denota, aliás, somente no vocábulo. Ela surge na prosódia, isto
é, na forma de compor os versos, quando não na paródia directa do
verso camoniano, seja o épico, seja o lírico.
Em Paraíso Apagado por um Trovão, a linguagem é, assim, arden‑
temente sincronizada, deliberadamente sintonizada com a poesia con‑
temporânea e a tradição poética (o “veio da tradição”, como refere o
poeta na entrevista supra‑mencionada), com a lusografia poética da
mais alta nobreza, incluindo a de teor iconoclasta e pecaminosa (quer
essa poesia – contemporânea ou oriunda da tradição erudita ociden‑
tal − tenham sido originalmente escritas em língua portuguesa quer
tenham sido nela vertidas por via da tradução).
É também sobre a linguagem vazada em Paraíso Apagado por um
Trovão que discorre o universitário Pires Laranjeira (“Um paraíso cin‑
tilante”, in JL, nº de 26 de Maio/ 8 de Junho de 2004):
spbsX_P1.indb 182 09/12/30 18:20:32
José Luís Tavares: um percurso fecundo e luminoso 183
Escreve com uma pontuação e um estilo perceptíveis, que ajudam à per‑
cepção, sem “modernices” (que, por vezes, escondem falibilidades em
principiantes), receptor evidente da lição medieval, camoniana, bíblica,
ática, ovidiana, dominando a língua portuguesa no seu esplendor ora‑
cular, dramático, digressivo, narrático. Em que a espessura discursiva
não impede o gosto da leitura (…). Enfim o domínio certeiro do voca‑
bulário requintado num fraseado longo, complexo e paradoxalmente
cristalino, dizendo as doces lembranças, os amargos traumas sócio‑po‑
líticos (escolares também) e a saga popular.
É esse mesmo universitário que tece as seguintes considerações con‑
clusivas sobre o livro em pauta:
É uma das maiores surpresas, desde há muitos anos, da poesia africana
e mesmo de toda a poesia de língua portuguesa, porque alcança uma
maturidade inabitual em estreias, consegue a desenvoltura prosódica, a
harmonia melódica e legibilidade de sentidos com sustentação simulta‑
neamente de recorte clássico e moderno.
O universo rural de Santiago, lugar nunca nomeado mas tornado
reconhecível e quase mí(s)tico devido aos rastos do suor e do cieiro
que perlam essa poesia, adentra‑se todo no que poderia ser considera‑
do como uma longa e ininterrupta meditação sobre a infância e a sua
maturação, ao sabor das estações das vidas que crescem e fenecem no
decurso dessa única estação rústica, assombrada pela chuva (“lágri‑
mas desses antigos / rios sucumbidos à voragem dos estios”) que era
o tempo desse “país verde sem estações” (do poema nº 5 do caderno
“matéria de inventário”, pág. 81).
Por vezes de indescritível heroicidade: “Vejo‑o erecto na paisagem /
Como um índio emboscando a tarde. /Tem junta de bois e alqueire de
sequeiro. Tem filho na estranja e um nó no coração” (do poema nº 9
do caderno “retratos cativos”, pág. 39).
Ou: ”Feliz o que abraçou o árduo destino / da gleba − embora sobre
ele se abata / amiúde a inclemência, não lhe faltará / o magro condão
de haver tocado / a cósmica densidão da terra” (do poema nº 12 do
caderno “retratos cativos”, pág. 81).
Densidão da terra por onde circulam os ciclos todos da vida e da
morte, as marés completas do choro e do mar, as tentações repletas de
alegria, de pecado e do sermão, então solenemente em latim, e junto
ao qual, aparentemente inócuo, debita‑se o tempo também concentra‑
cionário: “Aqui, circunscrição do medo. / Aqui, as letárgicas armas vi‑
giam. / Aqui, tributos pagos em arrobas / de queixume. Aqui, chamiços
de ossos pela húmida tarde de Dezembro (…). Aqui a pedra berço da
spbsX_P1.indb 183 09/12/30 18:20:32
184 José Luis Hopffer C. Almada
incubação. /Aqui, cárcere de sediciosos sob o assédio / dos mosquitos
(…)” ( do poema nº 6 do caderno “onde habita o trovão”, pág. 18).
Não é, pois, a ausência de referencialidade (explícita ou adivinha‑
da) “a coisas nossas” o que empresta a marca distintiva de Paraíso
Apagado por um Trovão, mas a sua convocação mediante um dizer
novo na sua riqueza metafórica e obsidiante erudição e no que elas têm
de universalidade ontológica.
A intertextualidade com autores como Rilke, Seamus Heaney,
Vitorino Nemésio, Ted Hughes ou João Cabral de Melo Neto torna
mais irrepreensível e latamente perceptível a condição humana que,
sem fátuas sacralizações, se quer incensar em Paraíso Apagado por um
Trovão.
Esta condição humana é certamente de todos os lugares, onde cro‑
citam corvos, e nos quais se almeja erguer‑se “para a mortal vocação
de ser humano”, mas privilegiadamente de Cabo Verde, “chão antigo,
/ agreste, familiar” de “vida rude elementar, vereda de antigos passos”
(do poema “Limiar”, pág. 9) para onde se regressa pelo lúcido padeci‑
mento do informe, que pela arte em mundo se converte.
Arte que sem se nomear é um verdadeiro “epos” à infância, “essa
idade também de desatinos”, e justificaria, por si só, a colocação de
Paraíso Apagado por um Trovão no lugar reservado à poesia de inten‑
ção e/ou ressonância épica, como ocorre com a poesia de T. T. Tiofe e
Corsino Fortes.
III.
Ainda não se arrefecera o impacto do primeiro livro, impacto esse
tornado mais visível pela atribuição do prémio Mário António da
Fundação Calouste Gulbenkian, publica José Luís Tavares o muito
denso e volumoso Agreste Matéria Mundo.
É de novo António Cabrita quem opina (“O Ouro do ilhéu”,
suplemento”Actual”, do jornal Expresso, de 23 de Abril de 2005)
que em Agreste Matéria Mundo (“uma prova de fôlego com 220 pá‑
ginas”)
a geografia volve absolutamente literária e acentua‑se numa auto‑refle‑
xidade que se compraz na remodelagem de géneros e tropos literários
mas com um sentido de oportunidade e uma vivacidade que salva sem‑
pre o texto da literatice. Ao que acresce um humor, numa sábia dosa‑
gem de espontaneidade e cálculo, que nunca perde o pendor parecem
spbsX_P1.indb 184 09/12/30 18:20:32
José Luís Tavares: um percurso fecundo e luminoso 185
particularmente válidas para o primeiro caderno do livro trágico: “e a
vida, essa canção verrina, / entretém‑se a fiar navalhas (…)”.
Para Maria João Cantinho, “denúncia de idealismos, apresenta‑
ção de um mal‑estar essencial são magma essencial que constitui esta
obra, conferindo‑lhe a luz de um sol negro que brilha sobre a encosta
da melancolia” (texto de apresentação pública do livro publicado na
storm‑magazine.com). Outro modo de dizer que o livro é também de in‑
terrogação e de perplexidade sobre o próprio acto de criação poética.
Tal asserção é particularmente válida para o primeiro caderno do
livro, “A Deserção das Musas (meditações metapoéticas em chave
lírica)”, onde também é escalpelizada a condição maldita do poeta:
“Recolhido ao brusco silêncio, crês / que a poesia nos solve das nossas
faltas para com o mundo. Não te apercebes / que o tempo, ou outro
deus qualquer, / nos pede contas dessas tardes /em que entregamos à
pugna irredentora; a que não promete despojos, / embora trace os con‑
tornos do reino a haver”.
Nos cadernos seguintes (“Cena de Cinzas”, “Vernais”, “Matinais”,
“Vesperais”) o poeta prossegue as meditações − desmistificadoras, por‑
que dessacralizadoras − sobre o mundo, e um dos seus correlatos, o
amor (carnal, místico, religioso, etc.) e os seus escombros, tornados
também visíveis em sítios trilhados pelo olhar nómada, pela descrente
lucidez do poeta e, por isso, tornados próximos e, por via da reflexão,
expropriados. Ainda que com o despojamento de quem tem na des‑
crença a sua fé e a pertinência do mundo resida na circunstância de o
mesmo ser um único e indiviso lugar de resplandecência do verbo.
Escreve Maria João Cantinho no texto acima referido que ressuma
de Agreste Matéria Mundo um certo cinismo, o qual resultaria, nas
próprias palavras do poeta inseridas na entrevista concedida à estudio‑
sa igualmente publicadas na revista electrónica storm‑magazine), de
uma “clarividência amarga e triste, e uma secreta intimidade com as
coisas e os seres”. É a mesma estudiosa que ressalta: “mas um cinismo
que é amenizado pela ironia (e também nesse aspecto José Luís Tavares
nunca descamba na paródia fácil) e podemos dizer, assim, que a ironia
é a sua consolação metafísica”.
Em Agreste Matéria Mundo persiste José Luís Tavares no labor da
transfiguração do real, do “informe” da “agreste matéria”, pela lin‑
guagem e pelo seu poder sobretudo demiúrgico, porque também trans‑
figurador.
A este propósito comenta Maria João Cantinho no texto aci‑
ma referido: “não lhe é alheio o uso de uma linguagem conceptual”,
spbsX_P1.indb 185 09/12/30 18:20:32
186 José Luis Hopffer C. Almada
ressalvando, no entanto: “se a usa, privilegiando o uso de vocábulos
difíceis e acasalando‑a com a trivialidade da experiência e mesmo, cru‑
zando‑a com a linguagem rasteira, não se deixa arrastar para o exercí‑
cio estilístico e retórico, literário”.
A concluir este breve excurso pelos livros publicados de José Luís
Tavares, poderíamos dizer que o nascimento de um livro (sobretudo
quando portador de uma cosmogonia pessoal e de uma assumida de‑
liberação de ruptura estética e não só) é sempre comparável ao nasci‑
mento de um mundo e, quando de poesia se trata, ao desvelamento de
um mistério que, mesmo extravasando‑se para os outros, continua a
ser sobretudo interior e habitado primordialmente pela solidão.
Então, somos nós, leitores, como que investidos no papel de escru‑
tinadores da busca de reconhecimento por parte do autor, em boa me‑
dida devido à circunstância de também sermos testemunhas quase ocu‑
lares desse parto da sombra, primacialmente desencadeado por uma
infatigável e missionária radicação na criativa maldição da escrita.
E, por isso, sentimo‑nos, nós também, feridos na nossa razão ética
e na nossa sensibilidade estética − como se fôssemos nós próprios as
vítimas eleitas da injustiça e os alvos preferenciais da perfídia – quan‑
do, escandalizados, porém impotentes, contemplamos o modo quase
sacramental como se vem intentando sonegar e ocultar a luminosa qua‑
lidade da obra assim produzida e exemplarmente ilustrada nos dois
livros acima referenciados.
Para tanto, tem‑se lançado mão de estratagemas vários, de entre os
quais avulta a sistemática preterição de estas e de outras obras em co‑
nhecidos concursos literários, assim logrando‑se alcandorar outros às
luzes da ribalta mediática e aos altares do reconhecimento público.
Mesmo se, reconhecidamente, menos merecedores de tributo literá‑
rio, porque autores desiguais, nos quais a mediania e a convenciona‑
lidade coexistem com a mediocridade e, em menor grau, com alguma
qualidade da escrita, todavia credita‑se a esses outros − aliás, muito
festejados − autores maior sagacidade na manha e na manipulação dos
bastidores do obscuro mundo das vénias mútuas.
É um mundo, aliás, no qual têm imperado os duvidosos gostos da
“monocultura identitária” (como corajosamente relembrava José Luís
Tavares aquando de uma sua sagração na Gulbenkian), do canhestro
telurismo ou de quotas, instituídas de forma sub‑reptícia para compen‑
sar vozes alegadamente detentoras da natural vocação para as artes,
bem como melífluas e bem‑parecidas “minorias”, suposta e convenien‑
temente vitimizadas ou trazidas à ribalta pela história, pelo género,
spbsX_P1.indb 186 09/12/30 18:20:32
José Luís Tavares: um percurso fecundo e luminoso 187
pelo lugar do nascimento ou pelo tempo do sofrimento. Ainda que
a mesma manipulação tivesse que significar o sacrifício de princípios
éticos e deontológicos devidamente consubstanciados em regulamentos
de concurso tempestivamente produzidos para a nominal salvação da
equidade, da objectividade e da transparência do inapelável juízo dos
decisores de serviço e, por esta forma, implicar o desassombrado e de‑
sapiedado enterro da estética, ela própria.
Nessa saga tornou‑se possível a concretização do indisfarçável intui‑
to do favorecimento ou da aceleração de outras − pretensamente mais
sonantes − carreiras de proclamados ícones e candidatos assumidos a
lugares cativos na nomenclatura literária e não só, mesmo se reconhe‑
cemos que, por vezes, à sua revelia e sem a sua activa cumplicidade.
Nesta circunstância, parece‑nos oportuno relembrar António
Cabrita quando no artigo “O Ouro do Ilhéu” se referia à (não) reacção
de alguma crítica “metropolitana” (portuguesa, queremos dizer) em
relação aos livros de José Luís Tavares:
Loas à língua de um poeta com mais de mil palavras da comum frontei‑
ra lusa (…) estamos diante de um “caso literário”, a que só a miopia de
uma certa crítica obcecada com os graus de parentesco não dá o devido
relevo. Com Tavares apetece lembrar o que Brodsky escreveu sobre
Derek Walcott: “esta cobardia mental e espiritual patente nos intentos
para converter este homem num escritor regional pode explicar‑se tam‑
bém pela pouca vontade da crítica profissional em admitir que o grande
poeta da língua inglesa é negro”.
“Mutantis mutandis”, pôde‑se identificar similar idêntica vontade
de ocultação e de exclusão do livro Agreste Matéria Mundo em certos
meios literários mais reféns e prisioneiros do nacionalismo identitário,
mesmo se convenientemente escudada numa argumentação de sinal
contrário, fundada no pretenso exclusivismo literário do pretérito slo‑
gan do “fincar os pés na terra” do sahel insular. É assim que se pôde
testemunhar a insidiosa actuação de proeminentes figuras desses meios
literários no sentido da “ressuscitação” dos antiquíssimos e famigera‑
dos anátemas de “desenraizamento” e do suposto “comprometimento
com uma corrente estética defensora da arte pela arte”, com os quais,
aliás, quiseram também vitimar, em tempos idos, a grandiosa obra de
João Vário consubstanciada nos nove volumes de Exemplos.
No entanto e como se viu, nada disso se tem mostrado capaz de
diminuir ou de melindrar o alto juízo que reputados conhecedores da
literatura fizeram e continuam a fazer da poesia de José Luís Tavares.
spbsX_P1.indb 187 09/12/30 18:20:32
188 José Luis Hopffer C. Almada
Repetimo‑lo: não obstante a endémica persistência em marginali‑
zá‑la, ora condescendentemente confinando‑a ao lugar menor de alega‑
da obra de jovem escritor africano, ora traiçoeiramente condenando‑a
a um não‑lugar, próprio de lusógrafos expatriados, mesmo se detento‑
res de inapagáveis credenciais.
Os prémios Cesário Verde, da Câmara Municipal de Oeiras, e
Mário António da Fundação Calouste Gulbenkian, para Paraíso
Apagado por um Trovão, e Jorge Barbosa, da Associação de Escritores
Cabo‑Verdianos, para Agreste Matéria Mundo, bem como o lugar ci‑
meiro atingido nas Correntes da Escrita Ibero‑Americana da Póvoa de
Varzim pela primeira das obras mencionadas (entre as dez nomeadas
num universo de mais de uma centena de livros) vieram de alguma
forma laurear o inegável mérito da transpiração poética (e, assim, o
estatuto de escritor de qualidade de José Luís Tavares), como também
evidenciar a perplexidade ética e estética que perpassavam a, por vezes
translúcida, ambiência que presidiu à sua atribuição.
IV.
Depois da publicação dos seus dois livros, enveredou José Luís
Tavares também pela escrita de uma poesia em língua caboverdiana.
Para tanto o poeta tem‑se socorrido de três vias: 1) a tradução, a
partir do português, de grandes obras da poesia mundial, com desta‑
que para os Sonetos de Luís de Camões e a “Ode Marítima” e outros
poemas de Álvaro de Campos; 2) a versão em crioulo de poemas lusó‑
grafos de lavra própria ou de outros poetas caboverdianos, como os se‑
leccionados para uma antologia bilingue em preparação e devidamente
assinalada em nota do autor do presente texto; 3) a escrita original de
poesia em língua caboverdiana.
Os mais atentos puderam seguir alguns sinais desses desenvolvimen‑
tos mais recentes, na medida em que José Luiz Tavares (opção recente
do poeta para assinar os seu textos e, assim, marcar a sua condição de
escritor) tem‑se transformado num dos mais produtivos cultores actu‑
ais da língua caboverdiana, como atestam os muitos “raps” e outros
poemas – canções, publicados na sua maioria no jornal electrónico li‑
beral‑caboverde. O autor tem‑se transformado também num dos mais
abalizados defensores e utilizadores do ALUPEC (Alfabeto Unificado
para a Escrita do Caboverdiano), mesmo se, à semelhança e com a
cumplicidade de outros “alupecadores” (como o autor das presentes
spbsX_P1.indb 188 09/12/30 18:20:33
José Luís Tavares: um percurso fecundo e luminoso 189
linhas humildemente se confessa), permanecendo, contudo, assaz crí‑
tico em relação a algumas soluções, como a generalizada acentuação
das vogais abertas.
Nesse labor, denota‑se, desde logo, que o poeta tenta imprimir à sua
poesia em crioulo a mesma riqueza lexical, a mesma exuberância ima‑
gética e o mesmo rigor estilístico, muito marcado pelo uso da métrica
e da rima, que têm presidido à muito elaborada feitura da sua poesia
em língua portuguesa.
Deste modo, tem‑se tornado muito visível o seu intento de afasta‑
mento e de distanciamento da oralitura mais elementar, sem todavia
descurar a exploração de todas as potencialidades morfo‑sintácticas e
lexicais do crioulo, incluindo aquelas propiciadas pela oratura e pelo
continuum linguístico que vai do basilectal ao mesolectal.
Referências bibliográficas:
Almada, José Luís Hopffer C., org., intr. e sel. Mirabilis − de Veias ao Sol ‑Antologia
Panorâmica dos Novíssimos Poetas Cabo‑Verdianos. Praia: IPC ‑ Instituto da
Promoção Cultural, 1998.
Aurora (folha cultural de estudantes do Liceu Domingos Ramos). Praia: 1987, dois
números.
Cabrita, António. “O Corsário das ilhas”. suplemento “Actual”, Expresso, 6 de
Março de 2004.
‑‑‑. “O Ouro do ilhéu”, suplemento”Actual”, Expresso, 23 de Abril de 2005.
“DN – Jovem” (suplemento literário do jornal lisboeta Diário de Notícias)
Fragmentos (revista de letras, artes e cultura, Praia, 1987‑1998, 15 números)
Fátima Monteiro,”Paraíso Apagado por um Trovão, poesia de José Luís Tavares”,
revista Artiletra 57, Mindelo/Praia, Abril/Maio de 2004.
Pires Laranjeira. “Um paraíso cintilante”. Jornal de Letras, 26 de Maio/ 8 de Junho
de 2004.
Tavares, José Luís. Agreste Matéria Mundo, Campo das Letras, Porto, 2004.
‑‑‑. Paraíso Apagado por um Trovão. segunda edição, Spleen‑Edições, Praia,
2004.
‑‑‑. “Entrevista” a Maria João Cantinho. Storm. http://www.storm‑magazine.com/
novodb/arqmais.php?id=290&sec=&secn
Vário, João. Exemplos. Mindelo: Editora Pequena Tiragem, 2000.
spbsX_P1.indb 189 09/12/30 18:20:33
spbsX_P1.indb 190 09/12/30 18:20:33
Infância(s) revisitada(s)
José Luís Tavares
Poeta
Meu caro Chiquinho,
faz agora sessenta anos que o teu criador te pôs no mundo. Nesta
horinha da tarde, neste espaço hoje feito território de partilhas, não me
cabe dizer do intrincado labirinto de leituras e desleituras, das profun‑
das e subtis revelações que outros mais abalizados hão‑de fazer. Venho
apenas desfiar contigo os fios dessa rude infância nossa, desconhecidos
que somos embora no comum chão da nossa desventura.
Embora sem vocação para o desmando, nunca fui dado às cateque‑
ses, teológicas ou outras; se bem que grata a recordação dessas tardes
de domingo em que deus não desceu sobre nós em forma de língua de
fogo, nem consumidos fomos pelas inextinguíveis chamas do inferno.
Isto tudo para te dizer, Chiquinho, que não gosto do literário respeiti‑
nho, das dominações que se erguem em sacralidade, tentando sujeitar
todo o dizer novo a uma ordem que ele próprio rejeita. Entendo que é
no confronto com as práticas discursivas novas, encarnando desígnios
que poderão ser opostos aos seus, que a tradição se erige como magma
que expele fogos vivificantes, não como mortal cinza que impede a ger‑
minação do que pelo seu conseguimento e pela sua centralidade há‑de
constituir‑se como novos modos da tradição.
Embora tenha concluído o liceu há pouco mais de vinte anos, eu
não me lembro, Chiquinho, de ter lido a tua saga do princípio ao fim,
se bem que uma ou outra passagem se me revelasse familiar, fruto tal‑
vez duma leitura saltitante (apardalada, dirias tu) ou porque as conhe‑
cesse dalgum compêndio ou selecta. Daí a surpresa de descobrir uma
imagética quase semelhante, consubstanciada na imagem da casa, quer
na abertura do romance que leva o teu nome, quer no meu inaugural
livro de poemas “Paraíso apagado por um trovão”.
Se não, vejamos:
como quem ouve uma melodia muito triste, recordo a casinha em que
nasci, no Caleijão. O destino fez‑me conhecer casas bem maiores, casas
onde parece que habita constantemente o tumulto, mas nenhuma eu
trocaria pela nossa morada coberta de telha francesa e emboçada de
spbsX_P1.indb 191 09/12/30 18:20:33
192 José Luís Tavares
cal por fora, que meu avô construiu com dinheiro ganho de‑riba da
água do mar. (…). E lá toda a minha gente se fixou. Ela povoou‑se de
imagens que enchiam o nosso mundo. O nascimento dos meninos. O
balanço da criação. O trabalho das hortas e a fadiga de mandar a comi‑
da para os trabalhadores. (…) Mamãe deslizava como uma sombra no
trafêgo da casa. Mamãe‑velha não parava indo de um lado para outro,
como se nada pudesse fazer‑se sem a sua fiscalização e os seus gritos. A
minha avó só sabia querer a sua gente descompondo. (Chiquinho, pp.
11‑12).
E “Paraíso Apagado por um Trovão”, primeiro poema, página 13:
Ali fora a casa. Lugar /das domésticas deflagrações. /Da inércia dos
clangorosos abraços. /Dos animais feridos de lassidão/nas manhãs que
o nevoeiro cerra. //Tão cedo nos buscava a treva/mais felina, ombros
de susto/no verdor dos quinze anos. /O pó da última estrela, /um acon‑
chego lasso/contra a tua pele tão escura. //A linha obediente da ascen‑
dência, /o motim dos pequenos desafectos, /prendiam‑nos num cerco
sem armistício. //Hinos, rogas, ladainhas, /o turíbulo fabricando a cer‑
ração, /o cata‑vento sonhando alto a intempérie,/naufragam agora por
rupestres aterros; //pois, é tão cedo que a mágoa/nos visita com o jeito
pirómano/que a chuva não apaga. //Mas, da cativa luz argentando/os
eirados, aonde formos/contunde‑nos seu lustro de antiguidade.
Mais do que um lugar geográfico com uma toponímia reconhecível,
como esse teu S. Nicolau de outrora, sumariado nas imagens obsessivas
de um infortúnio cíclico (qual se fôramos predestinados cornos do des‑
tino), de um tempo de abandono de um mundo vivenciado nos sinais
de escassez, sem a genesíaca promessa de redenção senão nas agruras
do caminho longe, o “locus” de “paraíso apagado por um trovão” é
um soberano entrecruzar da latência, melhor dizendo, da potência da
memória com a actualidade da cultura. Porque embora carregue como
tu, Chiquinho, a sombra dos lugares memoriosos, a sua reificação pela
palavra não visou, jamais, dar expressão literária ao «nosso caso»,
como diria o bom do Andrezinho, mas porque para mim foram sempre
a imperfeita possibilidade do paraíso; ainda que contingente futuração
face às derrocadas várias que ameaçam o humano devir.
O óbvio ideológico, que perpassa nalgumas das páginas cimeiras da
nossa literatura canónica, é o maior adversário da vertigem que toda
a palavra livre pode instaurar, ainda que na sua insurrecta liberdade
alguns a confundam com farpas e lantejoulas.
Referidora embora de um comum mundo real, é pela “rematização
do perene” que “paraíso” aspira à individualidade, onde uma ordem
spbsX_P1.indb 192 09/12/30 18:20:33
Infância(s) revisitada(s) 193
sintáctica e vocabular incomum (sem intuitos preciosistas, porém) e a
consciência afirmada dos processos de escrita sustentam a dimensão
eminentemente ética de enfrentamento com a cristalizada face de um
tempo histórico.
Mas voltemos ao fio das peripécias, a esta meada que tecendo em‑
bora abismos e lonjuras, permitem‑nos, no entanto, espreitar os fictos
destinos narrados nestes dois livros.
Essa tua mamãe‑velha, Chiquinho, muito me lembra a minha velha
avó Brentxa, descompondo‑nos no seu crioulo fundo, ameaçando, em
seu terno azedume, partir–nos já não sei que infinidade de ossos, que
nos fariam aleijados pela vida fora. Era ouvi‑la a pedir a sua “àstia”
(cajado), levantar‑se mancando a perna incurável pelo meio de patos,
galinhas e demais animais miúdos que atravancavam a casa. Depois de
atravessar quase um século, veio a morrer num certo Outubro morri‑
nhento, ano de boas azáguas, tendo sido enterrada com honras de rai‑
nha velha, num misto de ritual católico‑pagão, como sumaria o poema
14 do ciclo “retratos cativos”.
Dizes tu que o teu pai emigrou pelos teus cincos anos. Assim o meu,
mas ao contrário de ti, pouca coisa lembrava dele: o amanho duma
horta que possuíamos no lugar do colonato, nesses “lugares de cinza
herdando a abrupta /germinação. Condado de sol estendido /lá em bai‑
xo onde pastam caprinos/no campo que era nosso”.
O resto era trabalho da imaginação, de cada vez que o revia numa
melancólica fotografia tirada na estranja, no seu fato domingueiro (ou
do fotógrafo, vá‑se lá saber), pele clara de moço da ilha brava, uns olhos
malandros a bailar na claridade dos flashes, talvez perdição das moças,
como se dizia de seu pai, meu avô paterno, que não cheguei a conhecer.
Quem conheci, e bem, foi esse meu avô materno que, como reza o
poema 13 da sequência “retratos cativos”: “muitas vezes o vi sorrir,
erguer o bordão /da amizade por sobre a minha cabeça de menino /a
suave investida da tesoura rasando tufos, /desbastando junto às ore‑
lhas, ou baixar‑se/quando o tremor aconselhava a detença.”
Nunca saiu das ilhas, nem fez grandes viagens, a não ser uma a S.
Vicente para tratamento dumas “águas impedidas” que vieram a ma‑
tá‑lo, de mistura com um épico ataque de soluços. É ele o guia primeiro
nesta revisitação encenada à minha infância, espécie de Virgílio nesta
viagem a um paraíso mais sonhado do que real.
Acossados pelas secas cíclicas, os meus maiores desceram desde os
cerros de achada meio, fixando‑se em ribeira da prata, antes de assen‑
tarem definitivamente em Chão Bom di Mangui, lugar de memórias
spbsX_P1.indb 193 09/12/30 18:20:33
194 José Luís Tavares
avassaladoras, se recordarmos que foi o sítio escolhido pelo estado
novo para instalar o campo de concentração do Tarrafal. A sua pre‑
sença atravessa de forma metafórica todo o livro, sendo a mais saliente
a “circunscrição do medo”, “cárcere de sediciosos sob o assédio dos
mosquitos” do poema 6 do ciclo “onde habita o trovão”.
Falando de ribeira da prata, do temor aziago que o lugar te infun‑
dia, Chiquinho, lembrei‑me que esta dos meus maiores também alber‑
gava uma célebre feiticeira, criatura ainda vivíssima, que trabalhava na
mansão do director do colonato, e em cujos portões colocávamos ca‑
nas de caniço e acoitados no meio do bananal aguardávamos pela saída
da dita cuja para tirarmos as dúvidas, pois dizia‑se que elas não podem
passar por cima de caniço ou de tamarindo. Era vê‑la a retirar as canas
disfarçadamente, farejando em redor com seu ar di nha bedja fitisera.
Então ficávamos verdes de medo, nossos coraçãozinhos pulando feito
berlinde mágico, e só nos atrevíamos a deixar os nossos esconderijos
depois de ela desaparecer para lá das sombras do crepúsculo.
Contigo, Chiquinho, podia dizer “ribeira da prata (…), a sua gente
de voz cantante. E o mar, sempre na boca da ribeira, a envolver‑nos o
coração de uma mortalha verde de esperanças.”
Os meus dois tios, irmãos da minha mãe, não eram homens de ins‑
trução, mas autênticos lobos‑do‑mar. São eles os modelos dos poemas
16 e 17 do ciclo “retratos cativos”:
16. “Radicados entre a penúria, os pescadores. /Os de barba sombria e
casaco curto. /Os de cabelo crespo e vozes calosas. /Os de olhar terno
fazendo o sinal/da cruz. Os de remo empunhado à cortesia /do vento. Os
que pela discreta luz/da manhã se entregam à devastação. //Brindando
ao seu regresso, um puro/copo de salgadas lágrimas ergui; /presumindo
que sob as estrelas/maior prodígio não radicaria. //E contudo cantam;
quando os grossos/pulsos atracam ao moldado cabo do arpão; /que
num voo predatório vai a anichar‑se/no salgado lombo varonil; quando
as vagas /que os ameaçam são com eles um único/e mesmo respirar.
//Amainam a tormenta repicando negros /caldeirões, cruzando paus,
unidos /na crença e no terror, os pescadores. /Os de fauces salobras
fazendo o sinal /da cruz; os que pela discreta luz/da manhã vêm farejar
os cardumes /— um doce escrutínio pelos anos afora.”
17. “Partem com o calor da tarde. /Aguarda‑os o favor do vento, /exa‑
lando a linfa dos astros moribundos. //Carregam por sobre os ombros/o
peso disso a que chamam a pátria. /Cantada em verso de mau rimar. //
Por vezes, fazem dessa ferida/o lume que os defende/da célere conjura
das trevas. //Sob o sol da tarde/vão remando e vão cantando, /justo
onde o azul é de acabar //e a morte/mais do que essa vã palavra /que os
poetas trazem nos lábios.”
spbsX_P1.indb 194 09/12/30 18:20:33
Infância(s) revisitada(s) 195
Diferentes do teu tio Joca, do latim apenas sabiam algum esconjuro
ouvido aos padres de sotaina preta deambulando sob o ardente sol das
ilhas. No entanto a ausência de instrução formal não impediu que um
deles se tornasse num dos mais célebres “kapiton di karaka” da ilha
de Santiago.
À mãe que me criou, e aos meus cinco irmãos, e que haveria ela
também de demandar a terra‑longe, o retrato maior consubstanciado
nos seis poemas iniciais de “retratos cativos” (tendo ficado célebre este
primeiro, se bem que não o mais conseguido formalmente, musicado
pelo grande músico caboverdiano, Paulino Vieira (“São elas, as mães.
/A sépia desenham‑se /sobre os rios do mundo;/quando errantes asas /
se acolhem ao repouso/desta página. Assim, /perto de nós, fica o eco /
dos seus rostos; descendo /por um secreto desvão de nuvens. //À beira
da água, rezam ainda; /perenes como a terra. /Sobre as colinas da ma‑
nhã /são o mais alto nome do amor”), num buscado equilíbrio entre
uma deflagração sentimentalizante e o trabalho da arte que faz com
que a intransmissibilidade da experiência enquanto tal, pela alquimia
do verbo torne efectiva e partilhável o mundo (ou o sentimento corre‑
lativo) afirmado na densa rede destes poemas.
Essa velha Rosa Calita é um símile da minha tia Isaura (Naná), que
nas noites de lua cheia nos entusiasmava e assustava com as mesmís‑
simas estórias, o que nos levará, lá mais para frente, Chiquinho, a um
ponto bem mais problemático. Por ora, desfiemos apenas o obscuro fio
de memórias agora feito deslindável trama de palavras.
As azáguas para mim, Chiquinho, eram sobretudo a guarda aos
corvos. Não lhes guardo rancor pelas velhacarias de que são capazes.
Pelo contrário: pela sua perseverança, fazem parte, com a cabra e o
asno, duma bestial trindade louvada nos meus textos mais consegui‑
dos, quer em prosa ou em verso. Não posso repetir aqui as imprecações
que lhes dirigíamos, porque são capazes de fazer corar até um surdo,
mas recordo as sevícias que inflingíamos ao desgraçado que tivesse o
azar de cair nas nossas mãos, abatido pelo disparar cruzado de inúme‑
ras fundas. Só não sabia que os ardilosos falavam em americano. Os da
minha ribeira devem tê‑lo aprendido com o velho Nunu di Titxa, uma
espécie de João Joana aqui do sítio, experimentado trota‑mares que,
diziam, sabia falar quase todas as línguas.
Já que vamos em maré de aprendizagens, relembro, impressivamen‑
te relembro, o vosso exame (teu e do Tói Mulato) do segundo grau e as
palavras do professor Carvalho, porque trazem‑me, vividamente, ima‑
gens desse então. A estória é curta. Nesses anos, era quase examinador
spbsX_P1.indb 195 09/12/30 18:20:33
196 José Luís Tavares
único o velho C. manco. Por questões que se dizia ter a ver com uma
forte rivalidade, no ano anterior todos os anos do meu professor do
segundo grau foram chumbados no exame. No ano seguinte impendia,
sobretudo sobre mim, a responsabilidade de vingar a honra ferida do
meu professor. Disse‑me ele em frente de toda a classe: este ano ainda
que o diabo coxo os reprove a todos, tu vais passar. Na véspera tive pe‑
sadelos horríveis. Mas, de manhã, sereno, saímos caminho da vila. Eu
levava umas calças amarelo torrado tingidas por umas enormes bolas
acastanhadas. Os pés rudes entraram torturantemente para umas sapa‑
tilhas novas, que subiram para os ombros dobrada a curva do antigo
campo de concentração, onde meu avô fora guarda auxiliar.
Lembro‑me do interrogatório cerrado a português, e eu a cada res‑
posta virava‑me para o meu mestre que ao fundo da sala abanava ligei‑
ramente a cabeça em sinal de aprovação. Foi quase em estado de transe
que a ouvi, a voz de um dos elementos do júri, a dona Maria José,
mandar‑me levantar e ir para onde estava o resto da classe.
Desse amado professor falo no poema 15 de “retratos cativos”:
“meu jovem mestre de óculos encavalitados / (também leitor de epísto‑
las nas liturgias de domingo)”. Tive a grata felicidade de reencontrá‑lo
no pátio dessa mesma escola, no regresso ao chão amado, na apresen‑
tação do livro de que te tenho estado a falar, depois de quinze anos na
terra longe, e muitos mais sobre as peripécias que aqui vos conto.
Infelizmente, Chiquinho, não podemos falar de tudo agora, que a
noite já espreita, e longos e cabeludos são os fios da memória. Mas
antes de terminar queria confessar‑te duas ou três coisas que me trazem
a alma inquieta.
Ainda bem que tu, Chiquinho, contas as peripécias de escravos
ocorridos na tua ilha, nomeias os lugares – fundo Balanta, morro
Bissau – ligados a essa circunstância estruturante da natureza do povo
das ilhas, pois, culturalmente, a nossa terra encontra‑se em estado de
guerra civil. Não Chiquinho, não exagero nos termos. Imagina lá, tu,
que até já há teorias a defender que as populações do norte do arqui‑
pélago sempre foram, culturalmente, mais evoluídas que as do sul. Até
houve um estudo genético tuga – muito a propósito – a tentar demons‑
trar que esses nossos alvos patrícios (ó bendição!) das ilhas do norte
não teriam tantos genes cafres como esses badios rabelados, esses dos
“terríveis levantes na ribeira dos engenhos”, que na página 180 do ro‑
mance através do seu batuque leva “a sala a África pura, sol e paisagem
com macacos cabriolando”. Consola‑nos ao menos o facto de não se
ter dito que os violinos e violões, o dengue que a morna põe nos corpos
spbsX_P1.indb 196 09/12/30 18:20:33
Infância(s) revisitada(s) 197
faziam lembrar os feéricos salões de Viena. Na página 225 é o badio
(note‑se, badio, não o caboverdiano) que cai na aldrabice de um “jew”
nas terras do tio Sam.
Pois, Chiquinho, eu sei que o teu criador não pensava assim — ou
será que pensava? Por mim, estaria apenas a dar voz ficcionada a uma
ilusão de consequências imprevisíveis, que faz por esquecer que somos
todos náufragos sem resgate aqui nestas praias do meio do mar, hoje
mais entregues aos novos tráficos e à devastação de um turismo bronco
do que aos sinais que nos fazem um agregado civilizacional, na multi‑
plicidade das nuances que o mais colectivo e mais visionário de todos
os discursos – a literatura – reinventa no comum panteão da nossa
memória.
Referências bibliográficas
Baltasar Lopes. Chiquinho. Lisboa, 1947.
José Luís Tavares. Paraíso Apagado por um trovão. 2ª ed.. Lisboa, 2004.
spbsX_P1.indb 197 09/12/30 18:20:34
spbsX_P1.indb 198 09/12/30 18:20:34
A vigilante poética de Tony Tcheka
Moema Parente Augel
Universidade de Bielefeld, Alemanha (aposentada)
Tendo promulgado unilateralmente a independência a 24 de setembro
de 1973, a Guiné‑Bissau continua sendo sacudida por tensões inter‑
nas motivadas por lutas pelo poder. O desenvolvimento econômico e
social é prejudicado por problemas até agora insolúveis, relacionados
à gerência e à valorização do potencial natural e humano, o que se re‑
flete no regime político e institucional, na distribuição e administração
dos recursos, continuando o país quase completamente dependente da
ajuda externa, tanto na sua economia quanto nas infra‑estruturas so‑
ciais e materiais. Uma parte considerável da população, premida pelas
dificuldades sócio‑econômicas e políticas daí decorrentes, abandona a
terra natal, à procura de melhores condições de vida.
Os emigrantes, que acorrem em número cada vez maior aos países
industrializados, estão longe de neles encontrarem o paraíso: abalados
pelo desenraizamento, uma grande parte sem qualificação profissio‑
nal e confrontados com culturas e mentalidades muito diferentes das
anteriormente vivenciadas, envolvem‑se em problemas de ordem emo‑
cional e econômica, dificilmente conseguem alcançar uma integração,
embora a melhoria do padrão de vida, por menos que seja, represente
para a maioria a principal compensação. Em Portugal, por razões his‑
tóricas óbvias, concentra‑se a grande parte dos africanos oriundos das
ex‑colônias lusas.
A ausência do torrão natal, o deslocamento do espaço vital, o de‑
senraizamento do emigrante na diáspora, trazem como conseqüência o
estranhamento, a perda de referências e o isolamento, tópicos explo‑
rados tanto por vários escritores guineenses, como Abdulai Sila, em
seus dois primeiros romances Eterna paixão (1994) e A última tragédia
(1995), Filinto de Barros, em Kikia matcho (1997) ou Carlos Lopes,
nas crônicas de Corte Geral (1997). Tony Tcheka, mas também Pascoal
D’Artagnan Aurigemma, Félix Sigá e outros, são poetas que, com seus
brados de reprovação, de crítica e de ternura, expressam esteticamen‑
te a preocupação em compartilhar a sorte humana, num impulso de
darem voz ao subalterno, ao oprimido, aos que estavam até agora à
margem dos interesses e da representação hegemônica.
spbsX_P1.indb 199 09/12/30 18:20:34
200 Moema Parente Augel
Destacarei neste ensaio a obra de Tony Tcheka, dando prioridade
a textualidades que tematizam poeticamente o desenraizamento dos
emigrantes e a ambivalência de sentimentos tanto em relação ao torrão
natal como ao país acolhedor, recorrendo para tal a Noites de insónia
na terra adormecida (1996) e ao recém publicado Guiné sabura que
dói (2008).
Tony Tcheka, pseudônimo de António Soares Lopes Júnior, nascido
em Bissau, em 1951, é jornalista desde 1974. Sua obra em prosa (crôni‑
cas, ensaios, resenhas, produção jornalística) é abundante e se encontra
dispersa na imprensa nacional e estrangeira, sobretudo portuguesa (cf.
Augel, A nova literatura; Augel, O desafio).
Arrefecida a euforia dos primeiros anos da libertação do jugo es‑
trangeiro, a traição aos ideais revolucionários anuviou o entusiasmo
do passado recente e a autocolonização recrudesceu, ulcerando a dig‑
nidade e o amor‑próprio da classe dirigente, ao lado do descalabro dos
governantes, desiludindo a população que, cada vez mais, foi buscar
possibilidades de sobrevivência fora do país. A falta de oportunidades
profissionais na Guiné‑Bissau, a estagnação econômica, o mau esta‑
do da agricultura e das infra‑estruturas sociais (provocando o êxodo
rural), a ausência de indústrias que criariam lugares de trabalho são
muitas das razões que movem o emigrante: “É gente nossa partindo/
desesperadamente/ semana/ a /semana/ vôo/ a/ vôo”, registra Tony
Tcheka num poema entitulado “Ilusão”, consciente da falácia dessa vã
esperança (Tcheka, Noites de insónia, p. 63).
Em “Diasporando”, o poeta reforça com essa transgressão semânti‑
ca o protesto contra a degradação do emigrante africano na diáspora, ví‑
tima da complacência e do desprezo dos privilegiados: “Silenciosamente/
mudámos// para ficar/ sem estar// Mas ainda nos querem/ grãos de gen‑
te apeada/ da vida/ os negados do bem‑estar// ilegitimados/ da sorte”
(Tcheka, Guiné sabura, p. 38). A experiência acumulada pela submissão
ao colonizador continua viva, repetindo‑se, na metrópole, quase a mes‑
ma situação das passadas humilhações e de desintegração identitária:
“adulteraram a minha cartilha – amassaram a minha alma”, denuncia
ainda no mesmo poema; e em “Poesia brava”, recusa‑se altivamente a
perpetuar a dependência: “Não seremos/ o velho das grandes avenidas/
de cadillacs e benzes/ que estende a mão/ sem vintém/ ouve desdém/ e
passa fome” (Noites de insónia, p. 81).
A identificação com o meio social e físico onde cresceu e viveu tem
grande relevância para o posicionamento do indivíduo dentro da so‑
ciedade e em sua interação com ela, e propicia uma ligação emocional
spbsX_P1.indb 200 09/12/30 18:20:34
A vigilante poética de Tony Tcheka 201
com esse território. Desenvolve‑se uma identidade espacial que consti‑
tui uma necessidade emocional e psicológica do indivíduo (Mai, p. 5).
Longe, na cidade estrangeira, a saudade envolve o emigrante, amplian‑
do na memória o espaço físico do torrão natal, o que pode provocar
uma desestruturação no indivíduo, assunto muito tratado nas ciências
políticas e também presente na literatura guineense, como se vai apre‑
sentar exemplarmente na lírica de Tony Tcheka.
A ilusão de uma vida melhor, a perspectiva de salários mais eleva‑
dos, de liberdade e de autodeterminação podem levar ao fascínio mui‑
tas vezes falacioso da emigração. Em um poema na língua guineense,
“Noba di prasa” (Novidades da cidade), o poeta realça a desilusão da
jovem que sai de sua aldeia natal para tentar a vida num meio maior,
cedo descobrindo que os encantos do mundo urbano não trazem nem
a esperada fartura nem a almejada felicidade: “tarbadju keia/ diñeru
nin pliu!/ [...] é barankial bida/ kurpu sinti ” (nenhum trabalho, nenhum
dinheiro, [...] a vida sacode‑a (a jovem) com violência, a pessoa sofre).
Nem o conforto nem o brilho da cidade conseguem arrefecer a saudade
do lugar de origem, a saudade do vento a soprar nos campos de arroz,
nas bolanhas, misturada à sede da água da fonte: “sodadi di bentu di
blaña/ djagasi ku sidi di iagu/ di fonti ” (Noites de insónia, p. 21), à sede
de suas raízes e de sua autenticidade.
Pois a realidade do emigrante é bem distinta: “ Erramos/ no des‑
conforto/ desesperado/ da diáspora ” (Guiné sabura, p. 39). Em “Ceia
operária”, espelha‑se o que quase sempre aguarda o emigrante na me‑
trópole: uma vida de operário não qualificado, trabalho por vezes avil‑
tante, salários de fome e a frustração, fatores que o arrastam freqüente‑
mente, por desespero, ao vício da embriaguez, além da marginalização
e do isolamento: “Um copo‑três/ tinto/ do tinto que queima o peito/
[...] manhãs de invernia/ em pleno verão/[...] ’uma sandes/ de chouriço’/
sem manteiga/[...] e mais.../ um copo/ e outro/ no papo‑seco/ é uma ceia
operária/ às duas da tarde./ Lisboa coisa‑boa/ disseram‑me um dia!!!”
(Noites de insónia, p. 58).
Referências geográficas são parte da comunicação, apontam sim‑
bolicamente para um sentido social e guardam uma vigorosa memória
histórica e biográfica, contribuindo para o equilíbrio emocional e o
reforço da “consciência de pertencimento”, expressão já utilizada por
Georg Simmel. Muitos poemas de Tony Tcheka estão impregnados de
uma ira santa, de indignação e impaciência pelo desbarato social e eco‑
nômico em que o país está mergulhado, pelo marasmo de sua “Guiné”,
“terra adormecida”, sua “terra tísica”, “zurzida”, terra “mulher‑grande/
spbsX_P1.indb 201 09/12/30 18:20:34
202 Moema Parente Augel
fêmea/ sofredora/ terra di mi” (Guiné sabura, p. 45), mas também terra
“suave, sabi”, “kerensa gustus”. Confirmando a assertiva de Stuart Hall,
que afirma fazer geralmente parte da definição do indivíduo nomear sua
origem (Hall, p. 47), a “Guiné sabura que dói” é referida ao longo de
toda a obra, ora com desabafos esbravejantes, como em “Terra sofredo‑
ra”: “Terra [...]/ plasmada de dores/ sucumbindo a tormentos/ amon‑
toados nos becos” (“Guiné sabura”, p. 33); ou por lamentos amargos:
“Terra sahel/ [...] voos amargos/ [...] esperança a esvair” (p. 21), ora
ainda com balbuceios plenos de ternura: “Guiné minha flor de cantei‑
ros perdidos”. Elegendo‑a “sombra minha/ protegendo as minhas ibé‑
ricas noites”, o poeta‑amante desdobra‑se em evocações, entoando um
“Concerto à Guiné”: “Guiné [...] amor/ da chuva deflorando/ a terra
vermelha de Bankulé/ [...] do perfume das moranças/ em tons de caba‑
ça[...] acácias floridas” (p. 30).
Stuart Hall, em A identidade cultural na pós‑modernidade, acentua
a grande importância para o indivíduo de pertencer a um grupo, a uma
sociedade, a uma nação, ali estar integrado, conhecimento ao qual “pode
até não dar nome, mas que ele reconhece instintivamente como seu lar”
(Hall, p. 48). Tony Tcheka conhece, por experiência própria, a inadap‑
tação, a saudade da pátria distante, o perigo do desenraizamento. Em
“Guiné”, confessa ter a pátria onipresente no pensamento: “De longe/
entre as sete colinas/ vejo‑te” (Noites de insónia, p. 59). E a ânsia do
regresso provoca miragens no sujeito poético: “aquela ausência demo‑
rada/ faz‑me ver o Geba/ subindo sobre o Tejo”.
Dificilmente integrando‑se no novo ambiente, o traço‑de‑união mais
forte e a força congregadora mais eficiente do emigrante é a vivência
em comum do não pertencimento, o desconforto causado pela estra‑
nhamento. “A integração foi um fiasco”, constata Joana, personagem de
Kikia matcho (Barros, p. 142). A inclusão se efetua entre os excluídos,
formando uma comunidade de sofrimento e insatisfação, de frustração
e ressentimentos, mas que lhes proporciona uma estabilidade emocio‑
nal.
Carlos Lopes, em “Do poilão à cova”, um dos contos de Corte
Geral, refere‑se ao costume de muitos emigrantes que não dispensam
os produtos da terra para assim, na situação de marginalidade em que
vivem, fazerem face emocionalmente a uma relação social assimétrica,
de outro modo insuportável: “Sobretudo os mais velhos não dispensa‑
vam os sabores mais exóticos que tinham pautado a sua vida: papaia,
mango (que nós não dizemos isso no feminino), goiaba, mas sobretudo
fole, azedinha, veludo e miséria. Para já não falar de chabéu e outros
spbsX_P1.indb 202 09/12/30 18:20:34
A vigilante poética de Tony Tcheka 203
suculentos molhos pré‑preparados. Essas coisas não se vendem nos hi‑
permercados, nem tão pouco ’baguitche’” (Lopes, p. 36).
O africano procura adaptar‑se, pelo menos exteriormente, ao am‑
biente e aos costumes europeus, vestindo‑se e comportando‑se como
aqueles que o rodeiam, mas tem consciência de continuar sendo um
corpo estranho. Carlos Semedo, a primeira voz poética guineense, com
o poema “Ansiedade”, datado de Bissau, 1962, enquadra‑se muito
bem nessa temática. A saudade o atormenta e o emigrante anseia pelos
ruídos, cores e aromas de sua terra: “Visto fato/ de corte moderno/ gra‑
vata condizente// A camisa de fibra sintética/ assenta impecávelmente//
Sou peça sombria/ d’uma Europa/ patética// Minha África distante...//
A saudade faz‑me louco” (Semedo, [p. 27]).
Mais de uma década depois de ter escrito os poemas que integram
seu livro inaugural, Tony Tcheka mostra‑se, em “Guiné sabura que
dói”, continuadamente solidário e vinculado a seus compatriotas, com
eles identificando‑se empaticamente. Em “Diasporando”, empregando
a primeira pessoa do plural, Tcheka define‑se a si, e aos demais mar‑
ginalizados na grande metrópole, com dolorosas metáforas, chaman‑
do a atenção para a vida mofina dos desterrados: “chegamos/ asados/
africanamente [...]/ sublimamos os partos adiados/ aprendemos a falar
de boca fechada/ e a saborear a saliva amarga de desgraça (“Guiné
sabura”, p. 38).
Tony Tcheka tematizou em muitos poemas a experiência da guerra
intestina que abalou o país de junho de 1998 a maio de 1999, quando
a visão dos “magotes de guineenses” em fuga arrancou‑lhe pungentes
e irados versos, como em “Êxodo”: “Balaios/ de mágoas/ corpos/ so‑
fridos/ dores/ encruadas/ cruzam‑se em estradas/ de ninguém/ caras/
tisnadas de sofrimento/ baldeados/ sem caminhos/ magotes/ de guinee‑
ses/ fugindo da sua Guiné/ terra seca/ insuflada/ de pólvoras/ de ódio”
(p. 37).
Está‑se diante de um poeta de olhar vigilante e insone, possuidor
de um lirismo indignado, postura participativa, sensibilizada e sensi‑
bilizadora, gerando versos de grande criatividade, e que capta, soli‑
dariamente, não só o sujeito subalterno no seu país, emprestando‑lhe
sua voz, como tem olhos e coração para a vida difícil e interiormente
dividida dos emigrantes, saudosos do torrão natal, insatisfeitos em ter‑
ras estrangeiras.
Concluo este ensaio com excertos de um longo poema do recente
livro de Tony Tcheka, com o título “Angulazada na Tugalândia!”, ne‑
ologismos invulgares que ressaltam as diferentes interseções dos ajustes
spbsX_P1.indb 203 09/12/30 18:20:34
204 Moema Parente Augel
e compromissos da aculturação, marcando a distância existente entre
os dois mundos, mas também a inevitável, e mesmo desejável, coe‑
xistência: “Obtuso/ ângulo/ na intercepção/ de um tempo fronteira/
configurou‑se/ a 360 graus// angulei//[...] e /quando o mar/ desadamas‑
tado/ anuiu aos encantos do korá/ o nhanhero traçou a nobel rota/
cantado o último fado/ [...]// benzidas com cálices de porto e palma/
as novas caravelas zarparam/ ligando o Tejo ao Geba/ sem adamas‑
tores e sem recear bojadores// angulei/ voltei/ à terra‑branco das sete
colinas/ de infantes conquistadores/ de Camões e de Alegre/ de Eça e
de Negreiros/ penas afiadas/ que cortaram amarras/ quais santos mi‑
lagreiros// – Capitães de Abril – // não vi a rainha santa/ mas saboreei
a multiplicação/ de cravos vermelhos/[...] rasgando sorrisos/ dessa lusa
gente minha irmã// [...] soltei/ o tempo/ fui às docas catingadas de suor
antigo/ de cais em cais fui ouvindo Zeca Afonso/ interpretado na dança
das gaivotas// os soldados já não embarcam/ as mães guardaram os
lenços de acenos temerosos// uma lágrima de negro/ juntou‑se às águas
ternurentas do Tejo/ falando mantenhas de saudade da Guiné reen‑
contrada// essa Guiné que embala o sono/ de soldadinhos de chumbo/
que nunca mais voltaram/ ao regaço da Tugalândia// subi/ subi/ subi/
animei/ fui à Mouraria Alfama Bairro Alto/ becos de saudade[...]// eu
estava na Tugalândia/ sem mordaça//[...] fintei/ a saudade/ de um es‑
paço/ que não era meu[...]// lembrei/ tempos estéreis/ tempos em que/
eu/ tu/ nós/ éramos/ os outros/ o segundo/ o terceiro/ o quarto/ de um
outro qualquer// regressei/ hoje estou aqui/ sem lanhos biliosos/ alivia‑
do de um peso/ que não é meu/ nem teu// e/ sem precisar de/ crucificar
caravelas/ ou de permutar/ santos e/ aguardentes// angulei// exorcizei!“
(Guiné sabura, p. 40).
Referências bibliográficas
Carlos Lopes, Corte Geral. Deambulações no surrealismo guineense, Lisboa:
Editorial Caminho, 1997.
Carlos Semedo, Poemas, Bolama: Imprensa Nacional da Guiné, 1963.
Filinto de Barros, Kikia matcho, Bissau: Centro Cultural Português da Guiné‑Bissau,
1997.
Julia Crause, Kapverdische und guineische Migranten in Lissabon. Eine
Untersuchung über die Konstruktion von sozialer Distanz und Ausgrenzung
von Migranten, Hamburgo: LIT, 1998.
Moema Parente Augel, A nova literatura da Guiné‑Bissau, Bissau: Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisa (INEP), 1998.
spbsX_P1.indb 204 09/12/30 18:20:34
A vigilante poética de Tony Tcheka 205
Moema Parente Augel, O desafio do escombro. Nação, identidades e pós‑colonialismo
na literatura da Guiné‑Bissau, Rio de Janeiro: Editora Garamond, 2007.
Stuart Hall, A identidade cultural na pós‑modernidade, 4.a ed., Rio de Janeiro:
Editora DP&A, 2000.
Tony Tcheka (António Soares Lopes Jr.), Noites de insónia na terra adormecida,
Bissau: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP), 1996.
Tony Tcheka (António Soares Lopes Jr.), Guiné sabura que dói, São Tomé e Príncipe:
UNEAS, 2008.
Ulrich Mai, “Symbolische Aneignung und Ethnizität”, in: Mai, Masuren: Ein
interdisziplinäres Forschungskonzept. Bielefeld: Universität Bielefeld, Fakultät
für Soziologie. Working Paper 222, 1995.
spbsX_P1.indb 205 09/12/30 18:20:34
spbsX_P1.indb 206 09/12/30 18:20:34
Eduardo White: uma viagem metapoética
Carmen Lucia Tindó Ribeiro Secco
Universidade Federal do Rio de Janeiro / CNPq, Brasil
Para o Poeta Fernando Couto, cujos versos fazem navegar a língua
por entre leve, mas profundo, “rumor de água”.
O vôo da linguagem
Sonhar é uma imitação do vôo. Só o verso alcança a harmonia que su‑
pera os contrários – a condição de sermos terra e a aspiração do eterno
etéreo.
M. Couto, in E. White, 1992, p. 10.
Sonho e memória, para Eduardo White, encontram‑se em íntima
correlação com a história, mas uma história de rupturas e descontinui‑
dades, afetividades e sentimentos. Como sonhador à deriva, reinventa
a poesia da realidade. Penetra nos desvãos das palavras, recriando a
linguagem em combinações inusitadas, devolvendo ao humano a ca‑
pacidade de voar e imaginar. Em sua poesia, está presente também a
preocupação com as origens. Há o desejo de reencontrar a própria
face e a do país. O sujeito lírico, em viagem interior, almeja reescrever
liricamente a sua história e a de Moçambique. Uma história escrita por
um amor plural: pela amada, pela terra, pela própria poesia, e que visa
a apagar as marcas dos longos anos de guerra vividos. À procura de
Eros, elege como ponto de partida a Ilha de Moçambique (Muipíti), lu‑
gar matricial, onde, antes de Vasco da Gama lá ter aportado em 1498,
os árabes também haviam estado desde o século VII, tendo levado do
continente para a ilha mulheres africanas de etnia macua, cujas tra‑
dições e língua também ficaram inscritas no imaginário insular. Sob
a sugestão erotizante do Índico, a voz lírica evoca a insularidade pri‑
meira, captando as múltiplas raízes culturais presentes no tecido social
moçambicano, cuja identidade, ao longo dos séculos, se fez híbrida:
Sou ao Norte a minha Ilha, os sinais e as sedas que ali se trocaram e
nessa beleza busco‑te e para mim algum percurso, alguma linguagem
submarina e pulsional, busco‑te por entre negras enroladas em suas
capulanas arrepiadas, altas, magras, frágeis e belas como as missangas
(White, 1996, p. 24).
spbsX_P1.indb 207 09/12/30 18:20:34
208 Carmen Lucia Tindó Ribeiro Secco
O vôo onírico pelas asas da linguagem leva a poética de Eduardo
White a indagações de ordem existencial, filosófica e metapoética. A
viagem se tece por uma cartografia imaginária que percorre os mapas
da língua e da poesia:
Minha flor obscura e inicial, eu movo por ti as palavras para dentro do
poema, as imagens que desenham as minhas mãos enevoadas e elas são
dentro uma rara delicadeza, uma safira pura, são o sangue, as tripas do
poema, matéria profunda, vulcânica, natural. (...) Harpas decifráveis,
bússolas, viajam o mapa da poesia (...) (White, 1996, pp. 28‑29).
Em errância pelo Índico, a voz poética tenta purificar a história de
sangue e violência do país, fazendo com que os homens reencontrem
“as raízes do afecto”( White, 1996, p.76) e o mistério da vida. Após
o trajeto pelas águas marítimas de Amar sobre o Índico, o lirismo de
Eduardo White adota, nos livros seguintes, o caminho dos sonhos, al‑
çando vôo através das asas da poesia. A engenharia de ser ave engen‑
dra os poemas que se elevam em busca do belo e da plenitude estética.
“Voar é não deixar morrer a música, a beleza, o mundo e é também
fazer por escrever tudo isso. Nada pode ser mais deslumbrante que esta
relação com a vida e por essa razão me obstinam as aves e me esforço
por querer sê‑las”(White, 1992, p. 29). O poeta tem consciência de que
“as imagens fundamentais, aquelas em que se engaja a imaginação da
vida, devem ligar‑se às matérias elementares e aos movimentos funda‑
mentais. Subir ou descer − o ar e a terra − estarão sempre associados
aos valores vitais, à expressão da vida, à própria vida” (G. Bachelard,
1992, p. 270).
Leveza e liberdade é ao que visa o poeta, procurando, com a bran‑
dura de sua linguagem aérea, amenizar as lembranças da sua terra,
cheia de “sonhos terríveis e muito sangue a escorrer” (White, 1992,
p. 29). Essa leveza, entretanto, não implica fuga da realidade. É uma
acuidade que representa uma outra maneira de mirar a realidade. É
uma força ascencional que faz os homens não se entregarem à tristeza,
embora desta tenham consciência e lutem por extingui‑la. De forma
semelhante a Ítalo Calvino, em Seis Propostas para o Próximo Milênio,
conceitua a leveza, associando‑a “à precisão e à determinação, nunca
ao que é vago ou aleatório. Paul Valéry foi quem disse: É preciso ser
leve como o pássaro, e não como a pluma” ( I. Calvino, 1993, p.28).
Em Eduardo White, o ser ave está relacionado à beleza estética, ao mis‑
tério da poesia. Ar, água, fogo e terra são elementos físicos formadores
do cosmos. São em White agentes poéticos de uma lírica que persegue
spbsX_P1.indb 208 09/12/30 18:20:35
Eduardo White: uma viagem metapoética 209
os sentidos cósmicos da existência e se indaga filosoficamente sobre a
Vida, a Morte, o Amor e a Poesia.
A viagem na e pela língua
O navio na língua. O navio e a língua. (...) O navio está num caminho
e a língua está para além dele. (...) a língua tem essa sede de viajar ca‑
minhos (White, 2001, p. 9).
Assim se inicia Dormir com Deus e um navio na língua, sexto livro
de poesia do moçambicano Eduardo White. Singrando a memória e a
escrita, o eu‑lírico embarca na nave e na língua, zarpando em uma via‑
gem introspectiva e metapoética pelos meandros de si, da história e de
sua poesia. A imagem do navio, metaforicamente, traz a idéia da “tra‑
vessia difícil” (Chevalier, 1999, p.632), do convite à “grande viagem”
(Chevalier, 1999, p.632) rumo ao Eros primordial, centro irradiador
da vida, e aos sentidos sacralizados da criação. “Ancorado na saliva”
(White, 2001, p.9), esse navio se faz evocação, espuma seminal, voz,
imaginação. Viabiliza, dessa forma, a trajetória interior do poeta que se
move por entre reminiscências do outrora e sombras que “entardecem
o presente de seu país” (White, 2001, p. 29), por entre a magia cósmica
das palavras e os eróticos rumores da língua.
“E a língua, essa, poderá rumorejar?” (Barthes, 1984, p. 76). A
poesia de White demonstra que sim. E Roland Barthes, teoricamente,
confirma: “o rumor denota um ruído limite, um ruído impossível, o ru‑
ído daquilo que, funcionando na perfeição, não tem ruído; rumorejar é
fazer ouvir a própria evaporação do ruído” (Barthes, 1984, p. 75).
O rumor da língua é frêmito, “fulguração da desordem” (Secchin,
1996, p. 18) que só a linguagem poética é capaz de produzir, pois, se
afastando dos significados desgastados pelo uso ordinário e denotati‑
vo, alcança sentidos outros, inusitados. Ousadia constante, o ato poé‑
tico não almeja respostas prontas e fechadas: só se quer canto e rumor.
Este, portanto, “é o ruído da fruição plural” (Barthes, 1984, p. 76),
a musicalidade própria da poesia, cujo discurso filigranado, prenhe
de metáforas dissonantes, leva a língua, suavemente, a deslizar – leve
como um navio em sonho – pelos mares de sentidos “nunca dantes
navegados”. Para Barthes, “o rumor da língua forma uma utopia: a
de uma música do sentido” (Barthes, 1984, p. 76). Segundo o referido
teórico, somente em “seu estado utópico, a língua pode ser alargada,
desnaturada” (Barthes, 1984, p. 76), atingindo a plenitude polissêmica
do verbo poético.
spbsX_P1.indb 209 09/12/30 18:20:35
210 Carmen Lucia Tindó Ribeiro Secco
Em White, cada palavra, cada metáfora criam tremores de sentidos,
que, amplificados, possibilitam à língua um sonoro e musical rumore‑
jar capaz de penetrar os abismos do ser, ao mesmo tempo que se eleva
em direção a longínquas heranças da língua.
O poeta está só. Inicialmente, se encontra sentado à mesa de um
restaurante chinês, voltado aos silenciosos traços de um Oriente que
tanto marcou sua pátria e a língua portuguesa nessas margens índicas
de onde se interroga, angustiado, e em sobressalto, acerca de seu pró‑
prio ofício e de sua escrita. Mas a angústia que o toma, entretanto, não
interdita inteiramente a erótica que lhe anima o caminho. Intui que é
necessária a inquietação para o prosseguimento da travessia. Sabe que
“sonhar exige uma língua” e esta, metaforicamente transformada em
navio, o transporta pelos desvãos dos tempos, trazendo‑lhes memórias
antigas, insuflando‑o à imaginação de distantes futuros:
A minha língua com especiarias dentro e tecidos e bijuterias. Os sabores
etílicos dos vinhos. O arroz da China. As missangas coloridas dos dro‑
medários. O cheiro triste e ácido dos porões negreiros, os seus fatídicos
destinos, o reluzente dos aços das espadas e dos elmos, a profunda
nostalgia dos poetas e dos versos deportados. Esta é minha língua e não
tenho outra (White, 2001, p. 13).
Um erotismo, permeado de remotos odores, sabores e cores, perpas‑
sa suas recordações e a história de seu país emerge como um híbrido
mosaico de intercâmbios múltiplos que deixaram na pele do idioma
e da sociedade moçambicana vestígios de diversas culturas. O poeta
sorve a bebida e a memória. Entristece‑se com a lembrança dos “fa‑
tídicos destinos” da diáspora negra. Delicia‑se com certas minúcias e
delicadezas chinesas que, esparsamente, Moçambique guardou como
reminiscências do antigo comércio de porcelanas em seu litoral índico,
“janela aberta ao Oriente”... Outras presenças, ao ritmo da vitrola,
“girando em sua caixa convexa” (White, 2001, p.15), se entrecruzam
em seu imaginário. Ao ouvir uma canção cubana de Pablo Milanês,
nostalgicamente, o eu‑lírico relembra os tempos da sonhada liberda‑
de defendida por líderes socialistas, entre os quais Fidel e Mandela.
Procura, então, evocar, pelo exercício da linguagem criadora, o “outro
lado da vida”, “o outro lado das palavras”, o outro lado da língua
_ o além ilimitado da própria poesia. Distraído, contempla a foto de
um relógio em uma revista. A imagem do cronômetro desafivela‑lhe
reflexões, mas o tempo em que está inserido é outro. Como poeta,
compreende que “o tempo ontológico da poesia está fora e liberto do
spbsX_P1.indb 210 09/12/30 18:20:35
Eduardo White: uma viagem metapoética 211
tempo do relógio, embora possa habitá‑lo e penetrá‑lo nos momentos
de epifania”. (Bosi, 1992, p. 29)
O leve tecido da escritura poética se cruza, então, com a imagem de
uma aranha no teto. A fragilidade da teia se confunde com a da diáfana
caligrafia dos sonhos engendrados. Senhora da fiação e da tecelagem,
a aranha se revela uma alegoria do próprio tecer poético. Criadora
cósmica, aracne representa a interioridade, sendo, em muitas lendas
africanas, a tecelã por excelência, a intermediária entre os deuses e os
homens. Comparando‑se a ela, no poder de trepar e escorregar pelos
próprios fios tecidos, o poeta se vale da língua que rumoreja, galgando
metafóricos sentidos por meio de um jogo erótico com a linguagem:
A minha língua dá‑me esta visão meio enloucada que me faz supor
subir as paredes da casa e buscar os seus cantos mais altos, os pensa‑
mentos que aí pousaram para os habitarem, (...) A casa tem aranhas
das quais não me quero separar que são as do texto que flutuam e as da
própria vida que me procura (White, 2001, p. 20).
O texto e a teia. O poeta e a aranha. Tecidos aéreos de sonho e po‑
esia que aprisionam e libertam. No emaranhado de reflexões, a consci‑
ência do real; no deslumbramento da criação, a sede de liberdade. Num
dos mais belos trechos de Dormir com Deus e um navio na língua,
ouve‑se o grito social do poeta que, simultaneamente, se extasia com a
beleza estética e se choca com a miséria circundante:
(...) Aqui ocorre‑me pensar que vivo no país da nudez, da miséria ab‑
soluta, das crianças com suas grandes barrigas cheias de vazio, esquáli‑
das, frágeis e tristes (...) Não, não haveria nunca poesia na minha língua
que pudesse ser demasiadamente bela sem chorar o grito e a revolta
(White, 2001, p. 21).
A consciência de ter como presente o mórbido espetáculo da fome
faz o poeta sangrar. Errando, agora, solitário, em outro espaço − o
do quarto em que escreve −, assume “a voz da tristeza” a recobrir‑lhe
as próprias memórias. A inquietação inerente ao poético conver‑
te‑se em desencanto e dor. Porém, se indaga: “a escrita e o escritor
como podem crescer (se não for) de tal modo?” (White, 2001, p.21).
Intertextualizando‑se com Fernando Pessoa, reafirma que o “pensar
embacia tudo”(Pessoa, in: White, 2001, p.24). Todavia, está ciente de
que a poesia amadurece o ser e quanto mais dói, maior lucidez gera.
Passa, então, a empreender a “grande viagem” (Chevalier, 1999, p.632)
na e para além da língua. Vai à procura da cintilação divina e decide
dormir com Deus.
spbsX_P1.indb 211 09/12/30 18:20:35
212 Carmen Lucia Tindó Ribeiro Secco
É despido de tudo, sentado a sós dentro de seu sonho, que o sujeito
poético se prepara para deitar com Deus, expondo seu lado mais humil‑
de, mais humano. “Deus é um lugar para estremecer, mapa do arrepio”
(White, 2001, p.34). Deus é “perturbadora desordem” (Secchin, 1996,
p. 18), “subversiva febre” (White, 2001, p.34) a queimar as entranhas
do poeta. É fulguração de infindas significâncias que ultrapassam os
convencionais limites dos significados, é o rumorejar da linguagem da
poesia no coração dos homens. É o mistério da arte e da criação instau‑
rado no âmago do ser. Deus é a língua infinita, é a respiração emotiva
do desconhecido. É a fruição plural do rumor da língua. É o além,
a margem suplementar dos sentidos, a “grande viagem” (Chevalier,
1999, p.632) do verbo e do texto em direção ao Nada.
Em Dormir com Deus e um navio na língua, a memória poética
reintegra o tempo humano e histórico à eternidade cósmica da criação
artística. O sonho acordado dos devaneios poéticos se situa entre o
sono e a vigília, espaço limítrofe entre imaginação e realidade. O per‑
curso trilhado, contudo, fica em aberto: fora realmente vivenciado ou
apenas escrito por um “eu de papel”? “Só Deus julgará isso” (White,
2001, p.49), porque foi dormindo com Ele que o sujeito lírico se despiu
das defesas e máscaras e, semi‑adormecido, conseguiu vislumbrar o
que totalmente de perto seria incapaz de enxergar.
Configurando esse ilimitado alcançado pelo discurso lírico de
Dormir com Deus e um navio na língua, os versos se dilatam e trans‑
gridem os contornos tradicionais do poema e da retórica, esgarçando
as fronteiras entre poesia e prosa, entre Poesia e Filosofia. A viagem
do navio na língua se transforma, assim, na travessia do próprio texto,
desvelando‑se como um exercício (meta)poético que, além de se tecer
como pura poesia, discute semiológica e filosoficamente os caminhos
da língua, da história, da linguagem, da criação literária e do próprio
Homem.
As mãos da poesia
Eduardo White, em uma entrevista, se definiu como “o que está
para ser” (White, in: Angius, 2000) Viandante do amor, da poesia, dos
vôos imaginários, suas mãos tecem bordados intermináveis, cujos fios
invisíveis, entretanto, dão nítida visibilidade a traços culturais moçam‑
bicanos, mesmo quando estes se encontram transfigurados pelo discur‑
so elaborado de sua poesia: “mãos palpitantes e húmidas e claras em
spbsX_P1.indb 212 09/12/30 18:20:35
Eduardo White: uma viagem metapoética 213
seu chão, que laranjas mais generosas para repartir, que nação tão le‑
vantada para viver” (WHITE, 2004, p.23). À semelhança do “gauche”
drummondiano, White assume uma posição clandestina e rebelde em
relação às convenções, tanto as sociais, como as ditadas pelo cânone
literário oficial.
Em Manual das mãos, em prosa poética, o sujeito lírico vai urdindo
pactos biográficos com o texto, pactuando e compactuando com a po‑
esia da linguagem, manejada artesanalmente por ele. Manual significa
“o que é feito à mão”, “o que é relativo às mãos” (Ferreira, 1999, p.
1276). Estas, nesse livro, servem como mediação entre o corpo que atua
e os sentidos que fluem. As mãos se prestam a monólogos interiores,
gestualizando lembranças de tantas vidas: é que – segundo Eduardo
White – “as mãos escondem, para além das nossas, outras vidas em si
presentes” (White, 2004, p.21).
Possuindo também o sentido de “livro pequeno que contém noções
de uma ciência ou de uma técnica” (Ferreira, 1999, p. 1276), a palavra
“manual” não só aponta para a artesania da escrita poética, como,
metaforicamente, se converte em “manual de carpintaria” da própria
poesia. No caso de White, que exercita, em suas obras, intensa metalin‑
guagem poética, esse manual é o da “ciência de voar, o da engenharia”
(WHITE, 1992, título) de alçar grandes vôos imaginativos.
O Manual das mãos vai indicando atividades, sentimentos que são
possíveis através das mãos: carícias, tecelagens, preces, amores, vio‑
lências, desígnios, trabalhos, escritas. Pelo tato, chegam outros senti‑
dos apalpados pela eroticidade do discurso de White: cheiros, sabores,
sons. Interessante observar que manual, segundo os dicionários, tam‑
bém apresenta a significação de teclado musical. Com esse sentido, no
livro de White, o manual se faz expressão do ritmo das palavras e da
própria melodia poética. As mãos da poesia dedilham as teclas da escri‑
ta, alcançando acordes inusitados. São tantos os afazeres permitidos às
mãos!... Desde o prazer de segurar uma taça de vinho, de colocar uma
música a tocar, até o do gozo de viagens dentro do corpo e fora dele. O
eu lírico celebra a vida para que esta não se perca na luz de seu olhar,
no gesticular de suas mãos.
Nesse pequeno livro que se assemelha a um breviário de poesia,
White explora as múltiplas possibilidades de prazer e desprazer das
mãos: estas como instrumentos eróticos, como canções de esperança
ou manuseio de tristezas, como alavancas para o trabalho ou servindo
como formas de dominação e de sevícias.
spbsX_P1.indb 213 09/12/30 18:20:35
214 Carmen Lucia Tindó Ribeiro Secco
As mãos de White se interpenetram às de Cabral de Melo Neto,
às de Drummond de Andrade ou às de Manuel Bandeira, “fartas do
lirismo comedido” (Bandeira, 1986, p. 4), de expedientes, protocolos
e repartições. Revelam‑se mãos de escrita, mãos de pura imaginação.
Esta é fonte jorrante de miscigenações de cânones, etnias, linguagens.
É barco que desliza impactante, preto e branco, para aquecer melhor a
memória e escrever com letras grandes: ILHA DE MOÇAMBIQUE –
“era para lá que eu queria partir.”( White, 2004, p.62)
Manual das mãos propõe, em última instância, um itinerário poéti‑
co e multifacetado sobre as múltiplas performances das mãos: claras,
escuras, ambíguas, destras, “gauches”, eróticas, simples, complexas,
artesanais, técnicas. Mãos que rezam, castigam, costuram ou dese‑
nham. Mãos viandantes, que escrevem e imprimem, no barro da escri‑
ta, a marca de seus dedos, tecendo metapoética viagem pelos desvãos
da poesia.
Referências bibliográficas
Alfredo Bosi, in A. Novaes. Tempo e História. São Paulo: Companhia das Letras,
1992.
Antônio Carlos Secchin. Poesia e Desordem. Rio de Janeiro: Topbooks, 1996.
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Novo Aurélio Século XXI: o Dicionário da
Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
Eduardo White. Poemas da Ciência de Voar e da Engenharia de Ser Ave. Lisboa:
Ed. Caminho, 1992.
Eduardo White. Os Materiais do Amor seguido de O Desafio à Tristeza. Lisboa:
Ed. Caminho, 1996.
Eduardo White. Dormir com Deus e um Navio na Língua. Braga: Ed. Labirinto,
2001.
Eduardo White. Manual das Mãos. Porto: Campo das Letras, 2004.
Fernanda Angius. “A Actual Literatura Moçambicana”. in: http://www.
revues‑plurielles.org/_uploads/pdf/17_7_5.pdf
Gaston Bachelard. O Ar e os Sonhos. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1990.
Gilberto Gil. “Se Eu Quiser Falar com Deus”. in: http://www.geocities.com/
agricolino2000/musicas/sqfcdeus.htm
Ítalo Calvino. Seis Propostas para o Próximo Milênio. São Paulo: Ed. Companhia
das Letras, 1993.
Jean Chevalier e Alain Gheerbrant. Dicionário de Símbolos. Rio de Janeiro: Ed.
José Olympio, 1999.
Manuel Bandeira. Poesia Completa e Prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986.
Roland Barthes. O Rumor da Língua. Lisboa: Edições 70, 1984.
spbsX_P1.indb 214 09/12/30 18:20:35
Imagens de nação em romances de Mia Couto
Maria Nazareth Soares Fonseca
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil
Agora estamos desorientados, deslocados, transferidos. Por meio das
interzonas dialógicas, delineia‑se uma etnografia do limiar, naquela zona
turva do despertar, onde sono e vigília ainda estão sem contornos precisos,
onde as geografias se desorientam e se tornam geofilias.
Massimo Canevacci, 1996, p. 41.
A epígrafe com que se inicia este texto expressa algumas das razões que
justificam a intenção de retomar reflexões sobre as políticas produzi‑
das pelos projetos de nação e sobre as feições do que Nestor Canclini
(2003) denomina de interculturalidade globalizada, quando se refere
às desorientações e aos deslocamentos característicos do mundo em
que vivemos. Embora este texto se estruture a partir de pontos de vis‑
ta sobre discursos da nação e sobre as ambigüidades que os habitam,
seu propósito é observar como essas questões se encenam em textos
literários produzidos em espaços que conviveram com a opressão co‑
lonialista até a segunda metade do século XX. Para alcançar os obje‑
tivos propostos, serão considerados alguns romances do escritor Mia
Couto, de Moçambique, destacando‑se estratégias discursivas que, ao
encenarem a nação, assumem movimentos de dilatação que alcançam
os cenários ocultados pela intenção harmonizadora característica desse
projeto. Para que se encaminhem considerações sobre os modos como
a nação é literariamente construída em alguns romances do escritor,
faz‑se necessário observar alguns pontos de vista sobre estratégias de
construção do discurso sobre a nação.
É importante a observação de Ernest Renan (1882) sobre que, sem
o esquecimento da violência que marcou a origem de todas as for‑
mações nacionais, é impossível alcançar‑se a desejada unidade que as
caracteriza, porque remete a movimentos sempre presentes em projetos
de construção da nação: os que valorizam determinados fatos que de‑
vem ser lembrados e os que se esforçam para que outros sejam apaga‑
dos da lembrança da coletividade. Selecionam‑se assim fatos e eventos
que devem ser continuamente relembrados para permanecerem sempre
vivos na memória dos cidadãos e outros que precisam ser descartados
spbsX_P1.indb 215 09/12/30 18:20:35
216 Maria Nazareth Soares Fonseca
para que o bem comum seja dignificado. O soterramento das memó‑
rias de minorias e de diferenças não assumidas pelo projeto de nação
é, portanto, uma questão de seleção e de legitimação do que deve ser
lembrado e do que precisa ser esquecido.
Nestor Canclini (2003) salienta que pertencer a uma nação ou ter
direito à cidadania implica “imaginar traços comuns para as pesso‑
as com línguas e modos de vida diversos, modos de pensar que não
coincidem mas podem ser convergentes” (p. 99). Nesse processo estão
sempre presentes, por vezes de forma camuflada, o etnocentrismo e
o desprezo ao diferente. As determinantes das formações nacionais
consagram o esquecimento das diferenças como estratégia de suporte
da ordem a ser implantada. Tal mecanismo se vale de uma pedagogia
cultivada entre os cidadãos, sempre em tensão, porque precisa convi‑
ver com as “histórias heterogêneas de povos em disputa, por autori‑
dades antagônicas”, como nos lembra Homi Bhabha (1998, pp.
209‑210).
Tomando em consideração os processos de constituição do imaginá‑
rio de nação e os modos como ele se representa na literatura produzida
em espaços em que a dominação colonial se fez sentir até os meados do
século passado, é possível identificar estratégias textuais que ampliam
as ambigüidades desse mecanismo seletivo. Considere‑se que, em es‑
paços identificados por processo de formação de nacionalidades tar‑
dias, a defesa desse projeto fez‑se em meio a intensas contradições cujas
conseqüências mais conhecidas são as guerras internas que solaparam
vários países africanos e acirraram as dificuldades de convivência entre
as diferenças internas. No âmbito dos projetos de identidade nacional,
a chamada literatura “de combate” oscila entre ser um instrumento
efetivo de fortalecimento do ideal de formação de um território defi‑
nido pelos valores da terra e a imersão na diversidade interna de cada
país. A valorização de um campo de significações produzidas por uma
“escrita‑dupla” assume os deslocamentos característicos do processo
de dissemi‑nação” (Bhabha, 1998, p. 210).
No âmbito deste processo situam‑se obras literárias, nas quais o
sentido político se constrói com um efetivo trabalho com a linguagem,
tornada inventiva, ágil, modulada em transgressões. A subversão do
código, insistindo em evidências que fazem do português uma língua
modelada pelos ritmos africanos, alude, por outros matizes, aos com‑
plexos processos de construção de nacionalidades ainda em forma‑
ção. Nesse cenário, a ficção produzida pelo escritor Mia Couto, de
Moçambique, delineia percursos que marcam o lugar da literatura em
spbsX_P1.indb 216 09/12/30 18:20:35
Imagens de nação em romances de Mia Couto 217
projetos nacionais que estão se estruturando em meio às forças avassa‑
ladoras da globalização.
Para discutir a relação entre literatura e projetos nacionais moder‑
nos que se organizam em universos de tradição ancestral, recorro a
alguns pressupostos teóricos que possibilitam construir outras imagens
de nação e ressaltar o trabalho da memória na ficção de Mia Couto.
Montserrat Guilbernau, em Nacionalismos: o estado nacional e o
nacionalismo no século XX (1997), discorda da idéia de que nação
seja um fenômeno “puramente” moderno e aponta a existência dos
mecanismos de harmonização e de apaziguamento das diferenças já
na formação das grandes unidades que se desenvolveram na Europa
Ocidental, depois da queda de Roma e da subseqüente desintegração
do império carolíngio. Ao insistir nas raízes históricas da nação moder‑
na, Guibernau salienta que “a estrutura dentro da qual a consciência
nacional e a noção de pátria evoluíram na Europa estava estabelecida
por volta do ano 1100” (Guibernau, 1997: 59).
É evidente que Guibernau não está se referindo apenas à origem do
estado nacional reconhecido como unidade de um poder político por
excelência, mas retomando as raízes históricas de comunidades que se
transformaram em nação e que, mais tarde, puderam ou não conver‑
ter‑se em estados nacionais (Guibernau, 1996, p. 59). Por essa razão,
ao se referir ao caráter político do nacionalismo, Guibernau propõe
uma distinção conceitual básica entre nação, estado, estado‑nacional
e nacionalismo.
Por outro lado, ao questionar o conceito de “nações naturais”,
proposto por Schleiermacher e Herder, comparando‑o com as “nações
modernas”, vistas como projetos políticos que desestabilizam formas
de lealdade e de identidade de grupo, Guiberneau ressalta os meca‑
nismos de controle e violência acionados pelo poder, percebendo‑os
como instituições típicas do Estado‑Nacional. A distinção entre nação
e Estado‑Nacional, ainda que se reconheça o fato de que, na prática, a
diferença entre os dois conceitos não se mostra com tanta clareza, é im‑
portante para a indagação da permanência das resistências identitárias
no interior dos projetos nacionais e do papel da literatura quando toma
para si a função de registrar a ambivalência da nação.
A visão de Frantz Fanon (2005) sobre a falência dos projetos na‑
cionais, construídos a partir da ótica burguesa, reconhecida como uni‑
dade de poder político, fornece a imagem da compartimentação do
mundo colonizado, um mundo partido em dois, e torna‑se importante
para se refletir sobre as estratégias discursivas das narrativas de nação,
spbsX_P1.indb 217 09/12/30 18:20:36
218 Maria Nazareth Soares Fonseca
produzidas nos intervalos, na intersecção de lugares demarcados. A
reflexão fanoniana torna‑se pertinente para se pensar na ação pedagó‑
gica desenvolvida pelo discurso colonial e nas reversões que se produ‑
zem à revelia do poder. Ao insistir nas projeções que se produzem em
lugares fixos e na desarticulação de antinomias, permite que se tome
a metáfora de Babel como indicadora da profusão de discursos que, à
revelia da voz autoritária que defende o controle necessário à eficácia
da ordem, mostra‑se no avesso daquilo que é dito. Assim Babel assu‑
me, metaforicamente, os barulhamentos provocados pelo aflorar das
contradições silenciadas pelo controle das dissidências e possibilita a
construção de outros modos de leitura das chamadas identidades na‑
cionais. O traço marcante do processo identitário passa a ser lido então
a partir das digressões que dificultam a produção de um único sentido.
De certa forma, é a metáfora de Babel, figurada como entrelaçamentos
e encruzilhadas, que se inscreve em narrativas como as de Mia Couto,
mesmo quando elas parecem legitimar, mesmo em tensão, o discurso
da nação, mas também deixam aflorar imagens geradas pelo que falta
ou pelo que se perdeu (Miranda, 1998).
Procurando discutir a desintegração dos discursos totalizadores e
as manifestações da diversidade que acompanham as operações de si‑
lenciamento operadas por discursos fundacionais, Édouard Glissant,
da Martinica, retoma a reflexão de Fanon para discutir aspectos das
relações culturais, na era da globalização. Revê os projetos de identida‑
de nacional, utilizando‑se do conceito de “opacidade”, tomado como
signo de resistência ao processo diagnosticado por Frantz Fanon como
um “princípio de exclusão recíproca”, gerador da “constelação do de‑
lírio”, que mediatiza as relações de poder no espaço colonial (Fanon,
apud Bhabha, 1998, p. 74). No pensamento de Glissant, a “opacida‑
de” seria, ao mesmo tempo, um elemento da criolização, de misturas,
próprias dos espaços em que há acentuada presença da herança cultu‑
ral africana, e uma forma de resistência à homogenização defendida
por projetos nacionais e pelas redes de intercâmbio reforçadas pela
globalização. Ao defender a idéia de movimentos relacionais não des‑
caracterizadores da diferença, Glissant reforça a idéia de intercâmbio,
mas rejeita a de aculturação.
Em Glissant, os conceitos de “identidade raiz” e “de identidade
relação” viabilizam a releitura do universo da oralidade e propiciam
a revitalização do “chaos‑monde”, mundo‑caos, pensado como dis‑
sensão das dualidades ordem/desordem, oralidade/escrita. Com esse
conceito o teórico investiga tanto as representações do imaginário de
spbsX_P1.indb 218 09/12/30 18:20:36
Imagens de nação em romances de Mia Couto 219
nação, quanto as que se elaboraram no universo da Plantação, já pen‑
sada como “uma espacialidade transformada e socialmente concreti‑
zada” (Soya, 1993). A partir daí, o teórico faz da criolização o signi‑
ficante por excelência das relações culturais heterogêneas, salientando
os processos de mesclas culturais. Elaborando um pensamento teórico
bastante peculiar, Glissant opera com uma significação mais ampla
das tensões culturais, a partir das quais organiza a sua “Poética da
Relação”. No cenário atual proposto pela globalização, as diferenças
silenciadas pelo discurso hegemônico da nação são retomadas por ele
para se pensar nos processos de produção da imagens fóbicas do outro
(do negro, do nativo, do marginalizado), revitalizados na época atual.
Destacando os pontos de opacidade de sua cultura, Glissant ultrapassa
os limites da nação martinicana e os da grande nação francesa, para
construir uma visão de coletividade, que, próxima da de mestiçagem
e da de globalização, não se quer em equivalência com elas. Na “poé‑
tica da relação”, a identidade cultural deixa de ser pensada como um
dado da história íntima de cada grupo, de cada etnia, de cada nação,
para ser percebida nos deslocamentos, no trânsito, na errância, na “di‑
mensão cambiante e perdurável de toda mudança e de toda troca”
(Glissant, 1996, p. 25).
De algum modo nos aproximamos desses deslocamentos, quando
pensamos num tipo de literatura que reforça os sentidos produzidos
pela metáfora de Babel, conforme acentua Jacques Derrida (2002, pp.
12‑ 13), pelas raízes aéreas, com as quais Glissant (1996) descarta a
fixidez tornada emblema da nação e aposta em entrelaçamentos carac‑
terísticos de identidades que se produzem em deslocamentos ainda que
significadas pela ilusão da parada, do porto fixo.
As metáforas glissanianas – raízes, redes, ramificação – são postas
em diálogo com as do rizoma, de Deleuze e Guattari (1995) e fazem‑se
operadores teóricos eficientes para se compreender os vários roman‑
ces do escritor moçambicano, Mia Couto. Seus romances, como os de
Luandino Veira, de Angola, exibem um investimento no trabalho com
a linguagem, imbricações com a oralidade, inovações ao nível lexical,
para ressaltar a não obediência ao logicismo discursivo característi‑
co da narrativa (Trigo, 1980, p. 241). No espaço da ficção narrativa,
esboça‑se uma dicção política que transgride a dimensão enunciativa
dos textos. Esse trabalho de descentramento que tensiona a língua não
cessa de conectar cadeias semióticas, como bem acentuam Deleuze e
Guattari (1995, p.16), e de subverter organizações de poder: a língua,
a escrita modelar, os sentidos instalados.
spbsX_P1.indb 219 09/12/30 18:20:36
220 Maria Nazareth Soares Fonseca
Em vários romances de Mia Couto, a pontuação da identidade se
faz pela interrogação de incertezas, pelo sentimento da fragmentação,
pela experiência de um corpo que se manifesta por gestos, voz, gri‑
tos, ruídos, palpitações de uma escrita pulsante. Uma “escrita‑falante”
torna‑se expressão de um corpo que se quer em ressonância não apenas
com um espaço cultural identificado, mas com a simultaneidade e a
extensão dos acontecimentos e das possibilidades (Soya, 1993, p. 31).
A obsessão pelo direito à palavra falada faz‑se muitas vezes através
de arranjos inusitados. No romance A varanda do frangipani, publica‑
do em primeira edição em 1996, a interdição à fala da sabedoria dos
mais velhos é estrategicamente subvertida quando, diante do inspetor
Izidine Naíta, os internados no asilo substituem o testemunho solicita‑
do por histórias, longas estórias. Note‑se que a estratégia usada pelos
velhos faz‑se como restauração de um espaço que se perde: o da guarda
da memória dos velhos. Pouco a pouco o inspetor Naíta depara‑se com
a necessidade de reaprender a ouvir, de assumir os costumes de sua cul‑
tura. As histórias que lhe são contadas expressam visões de mundo legi‑
timadas por uma outra lógica, atualizada pelos velhos, mas guardando
ligações estreitas com o “antigamente”. “Tudo começa antes do antiga‑
mente. Nós dizemos: ntumbuluku. Parece longe mas é lá que nascem os
dias que estão ainda em botão” (Couto, 2007, p. 26). A fala da perso‑
nagem Navaia Caetano reitera a mesma crença em um tempo passado
que adentra o presente, dando a este um sentido explicador. Observe‑se
que o termo “ntumbuluku”, nas línguas do sul de Moçambique, de‑
signa a origem dos seres, os primórdios da natureza e da humanidade.
Como no mito, a história contada por Navaia Caetano recobre um
tempo primordial e, por isso, deve ser ouvida sem a pressa do depoi‑
mento solicitado pelo inspetor. Expressando‑se através de uma outra
lógica, o velho almeja alcançar quem o possa ouvir em silêncio, atento
às palavras de quem vive “muito oralmente” (Couto, 2007, p. 26).
Desde Terra sonâmbula, o primeiro romance do escritor Mia Couto,
publicado em primeira edição em 1992, o espaço da nação mostra‑se
entrecortado por estórias que remetem à tradição ancestral. Essas, con‑
vivendo com a escrita, tecem uma trama de afirmação da terra, de
seus costumes e mitos, mas, ao mesmo tempo, acolhem os despojos
de culturas quase esquecidas. Remetem a um universo construído com
a utilização de imagens que, por vezes, caminham na contramão do
projeto de nação porque apontam para a impossibilidade de harmo‑
nização das diferenças. Assim, a remissão à origem que acompanha a
narrativa sagrada do mito, exercendo função exemplar, vê‑se, na obra
spbsX_P1.indb 220 09/12/30 18:20:36
Imagens de nação em romances de Mia Couto 221
de Mia Couto, sempre em distensão. A ilusão de volta à pureza das
origens, sempre presente nas estratégias de fabricação do projeto na‑
cional, mostra‑se subvertida, ainda que, mesmo em contramão, esteja
presente.
Em Terra sonâmbula, as histórias do antigamente, universo da ora‑
lidade, convivem com as que foram encontradas escritas nos caderni‑
nhos do soldado Kindzu. Essas estórias, lidas pelo menino Muidinga
para o velho Tuhair materializam deslocamentos no tempo e no espaço
e explicitam a diversidade da cultura. Viagens reais ou simbólicas em
busca do tempo “do antigamente” assumem novos sentidos e é nesse
entre‑lugar contraditório que se agencia o imaginário de nação e se
explicita o lugar periférico de uma enunciação, construída em perma‑
nente tensão. Ao fazer a denúncia da situação de desmanche e penúria
do país, arrasado pela guerra e pelos conflitos internos, e ao propor
uma saída utópica, o romance não anuncia um retorno às origens, em‑
bora em diálogo constante com as coisas da terra, como os costumes
dos tempos passados. A convivência tensa entre o antigo e o novo,
metaforizada pelos cadernos de Kindzu é concretamente marcada pelo
contato do velho Tuahir com o menino Muidinga e pelos despojos da
escrita de um morto pela guerra. A leitura desses escritos pelo menino
Muidinga alcança os ouvidos de Tuhair e, nesse trânsito, outras tradi‑
ções se ritualizam.
No romance Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra
(2003), rituais para preservar e venerar a terra celebram‑se, em con‑
flito, com a diluição da fixidez de lugares e tradições. Processos globa‑
lizados de modernização convivem com as imagens de casa, lugar de
morada, de permanência, mas também “aberta” ao que vem de fora e,
simbolicamente, ligada ao cosmo. A casa Niumba‑Kaya, ela mesma,
pelos sentidos alocados em sua intenção de “satisfazer os familiares do
norte e do sul” (p. 28), é significante metonímia de uma visão de nação
que acolhe as diferenças, ainda que a intenção harmonizadora esteja
sempre presente no esforço de atenuar as divergências. Se a casa é o
lugar da morada, reiterando a força da terra e de sua simbologia, a er‑
rância, o deslocar‑se, corrobora o desejo de fixação e preservação, tão
explícito em Terra sonâmbula (1992), embora também conviva com a
impossibilidade de realizá‑lo.
A viagem, a errância, o deslocamento são realidades recorrentemen‑
te trabalhadas nos diversos romances do escritor. Os marcos da nação
imaginada encenam‑se neles, por vias diversas: a casa, fixada no solo,
não anula os deslocamentos das personagens, ainda que, por vezes, elas
spbsX_P1.indb 221 09/12/30 18:20:36
222 Maria Nazareth Soares Fonseca
sejam, como a personagem Dulcineusa, de Um rio chamado tempo,
uma casa chamada terra (2003), descodificadoras de trânsitos que dei‑
xaram marcas nos vários espaços da casa Nyumba‑Kaya.
O tema da viagem e dos deslocamento está presente em outro ro‑
mance do autor, O outro pé da sereia (2006). Em entrevista, falando
da motivação desse romance, o escritor acentua o trânsito intencional
entre a busca de dados sobre a História do seu país e as várias interpre‑
tações possíveis para esses mesmos fatos:
Num certo momento eu pensei que deveria ir procurar o túmulo de D.
Gonçalo da Silveira. Como sabe, nunca ninguém encontrou os restos
mortais desse mártir cristão. O que é mais estranho é que ele próprio
vaticinou isso mesmo, dizendo qualquer coisa como “nunca acharão
o lugar onde me irão sepultar”. Eu já tinha tudo preparado, tinha os
contactos de quem me iria acompanhar quando dei conta que esse lugar
está hoje sob as águas da albufeira de Cabora Bassa. Isso me fez desis‑
tir, ainda que eu fosse para recolher fantasmas, não ia numa missão de
resgate histórico...1
A partir de um fato, historicamente registrado, a viagem da perso‑
nagem histórica, D. Gonçalo da Silveira, que tem como missão levar a
imagem da santa, de Goa ao reino de Monomotapa, em Moçambique,
várias viagens cruzam‑se no espaço ficcional: as viagens da personagem
Mwadia Malunga, que empreende um deslocamento “concreto”, de
Antigamente para Vila Longe, a volta impossível ao passado pessoal,
mas também ao passado histórico; a viagem do casal de afro‑america‑
nos, Rosie e Benjamin Southman, em busca de um reencontro idealiza‑
do com as origens da mãe África. Ironicamente, o romance identifica
o casal de norte‑americanos como pertencentes a uma fundação cha‑
mada Save Africa, destinada a combater “o afro‑pessimismo” (OPS,
p. 147).
As viagens, no romance, costuram diferentes tempos e espaços
como a do escravo Nimi, que tenta recuperar as origens de que foi
arrancado e a do padre Manuel Antunes, que põe em dúvida sua fé.
Viajam os escravos no porão do navio, marcados pelo sofrimento da
sede e da fome, e a infeliz Dona Filipa, que viaja ao encontro do marido
junto com sua aia, a igualmente viajante Dia Kumari, arrancada à sua
terra de origem, a Índia. Nesse entrecruzamento de viagens e histórias,
exibe‑se um acervo de memórias, metaforicamente simbolizado pelo
baú onde estão guardados os documentos do passado, mas também
as possibilidades de sua leitura no espaço da invenção. Tentar apre‑
ender a nação por esses dois eixos – preservação e disseminação – é
spbsX_P1.indb 222 09/12/30 18:20:36
Imagens de nação em romances de Mia Couto 223
retomar, em espiral, as memórias de si e do outro que se projetam e se
constroem no momento em que correm como fios retorcidos mas não
auto‑suficientes.
Os romances de Mia Couto esboçam essas identidades em crise,
constituição sempre cambiante na história, que se faz pulsar em contra‑
ponto e sucessivamente, reproduzindo um singular desenho melódico
pontuado por personagens caminhantes, como Muhair e Muidinga,
de Terra sonâmbula (2007), e personagens “retornadas”, através das
quais se revelam identidades insuspeitadas ou recalcadas da nação. No
campo dos “retornados” abrigam‑se, dentre outros, o inspetor Izidine
Naíta, de O último vôo do flamingo (2005), e Marianinho, de Um
rio chamado tempo, uma casa chamada terra (2003). O narrador de
O último vôo do flamingo (2005) expressa igualmente uma situação
intervalar, situação daquele que volta à terra natal, sendo, simultanea‑
mente o de dentro e o de fora:
Passou‑se o tempo e eu saí da terra nossa, encorajado pelo padre
Muhando. Na cidade, eu tinha acesso à carteirinha das aulas. A es‑
cola foi para mim como um barco: me dava acesso a outros mundos.
Contudo, aquele ensinamento não me totalizava. Ao contrário: mais
eu aprendia, mais eu sufocava. Ainda me demorei por anos, ganhando
saberes precisos e preciosos. Na viagem de regresso não seria já eu que
voltava. Seria um quem não sei, sem minha infância. Culpa de nada. Só
isto: sou árvore nascida em margem. Mais lá, no adiante, sou canoa, a
fugir pela corrente; mais próximo sou madeira incapaz de escapar do
fogo (Último vôo do flamingo, p. 48).
Se o desenho de nação implica valorização de semelhanças e desejo
de harmonização de diferenças, no espaço da literatura esse desenho
pode ser construído com traços variados e com apelos a cores de efeitos
inusitados. Em vários deles, a terra é vista como um corpo pulsante
e, por isso, afeita a mudanças e transformações. Impulsos à restaura‑
ção do espaço nacional respondem a movimentos que distendem esse
espaço procurando dialogar com a diversidade que se mostra nas mi‑
cro‑narrativas que estruturam os textos ficcionais do escritor.
O contraponto conferido pelo outro, mesmo em risco, é paradoxal‑
mente o limite do mesmo e a sua possibilidade de expansão, de saída
de si. Esse recurso está presente, como se mostrou, na fala do velho
Navaia Caetano quando procura prender a atenção do inspetor Izidine
Naíta que chega ao asilo como o cão que “fareja culpas onde cai san‑
gue” (Couto, 2007, p. 19) e, aos poucos, vai sendo contaminado pelas
estórias contadas pelos habitantes da Fortaleza de São Nicolau, isolada
spbsX_P1.indb 223 09/12/30 18:20:36
224 Maria Nazareth Soares Fonseca
do resto do país pelo abandono e pelas minas. As estórias contadas
pelos velhos costuram suas lembranças e funcionam como registro
das memórias subterrâneas, aquelas que precisam ser esquecidas para
que uma outra lógica se instaure. Não é por acaso que a personagem
Navaia Caetano pede ao inspetor para não anotar nada, para somente
“se aumentar de muita orelha” (Couto, 2007, p. 26). A metáfora alude
à própria feitura de textos que intencionalmente caminham em percur‑
sos híbridos.
Esse sentimento voltado à preservação de costumes e tradições, ao
mesmo tempo utópico e altamente coerente, confere um sentido políti‑
co à escrita de Mia Couto, marcando o empenho de sua literatura em
demarcar o espaço da nação num rearranjo sempre provisório de frag‑
mentos. Como acentua Inocência Mata, tal estratégia narrativa leva o
escritor a apossar‑se de uma vertente literária ao mesmo tempo liber‑
tária e apostrófica, afirmativa e de reivindicação, que “canibaliza os
conflitos e pulsões divergentes mobilizando uma retórica que sintetiza
as vozes diferentes, ‘partilha’ memórias históricas e sociais e coletivi‑
za angústias e aspirações, gerando uma escrita de contaminação épica
(...)” (Mata. 2001, p. 60).
Referências bibliográficas:
Diva Damato, Edouard Glissant. Poética e Política, São Paulo: ANNABLUME/
FFLCH, 1995.
Édouard Glissant, Poétique de la Relation, Paris: Gallimard, 1990.
Édouard Glissant, Introduction à une poétique du divers, Paris: Gallimard, 1966.
Edward Soya e Edward W. G., Geografias pós‑modernas; a reafirmação do espaço
na teoria social crítica, São Paulo: Jorge Zahar Editor, 1993.
Ernest Renan, “O que é uma nação?”, in Maria Helena Rouanet (org.) Nacionalidade
em questão − Cadernos da Pós/Letras, 19, Rio de Janeiro: UERJ, 1997.
Frantz Fanon, Os condenados da terra, Trad. Enilce Albergaria Rocha, Lucy
Magalhães, Juiz de Fora: Editora UFJF, 2005.
Gilles Deleuze e Félix Guatari, Mil Platôs – capitalismo e esquizofrenia, v. 1, Trad.
Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa, Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.
Homi K. Bhabha, O local da cultura, Trad. Míriam Ávila et al., Belo Horizonte:
Editora UFMG, 1998.
Inocência Mata, Literatura angolana: silêncios e falas de uma voz inquieta, Lisboa:
Mar Além, 2001.
Jacques Derrida, Torres de Babel, Trad. Júnia Barreto, Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2002.
spbsX_P1.indb 224 09/12/30 18:20:36
Imagens de nação em romances de Mia Couto 225
Le Goff, “O desafio da mestiçagem”, Mais, 5º Caderno, Folha de São Paulo, São
Paulo, domingo, 28 set. 1997.
Maria Nazareth Soares Fonseca,”Contornos de nação literária no universo da
“falescrita”, Scripta Literatura, vol. 1., n.2, Belo Horizonte: PUC‑Minas, 1998.
pp. 140‑153.
Maria Nazareth Soares Fonseca & Maria Zilda Ferreira Cury, Reinvenções e
deslocamentos em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, MARI,
Massimo Canevacci, Sincretismos; uma exploração das hibridações culturais,
Trad. Roberta Barni, São Paulo: Livros Studio Nobel Ltda., 1996.
Maria Nazareth Fonseca, Hugo Mari e Ivete Walty, in Ensaios de leitura II, Belo
Horizonte: Editora PUC Minas, 2007, pp. 241 – 256.
Mia Couto, O outro pé da sereia, São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
Mia Couto, Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, São Paulo:
Companhia das Letras, 2003.
Mia Couto, O último vôo do flamingo, São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
Mia Couto, Terra sonâmbula, São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
Mia Couto, A varanda do frangipani, São Paulo: Companhia das Letras, 2007
Michel Foucault, “Of Other Spaces”, Diacritics, 16, 1986, pp. 22‑27.
Montserrat Guibernau, Nacionalismos; o estado nacional e o nacionalismo no
século XX, Trad. Mauro Gama/Cláudia Martnielli Gama, Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1997.
Nestor Canclini, A globalização imaginada, Trad. Sérgio Molina, São Paulo:
Iluminuras, 2003.
Salvato Trigo, “O texto de Luandino Vieira”, in Luandino Vieira, José Luandino
Vieira e a sua obra (estudos, testemunhos, entrevistas), Lisboa: Edições 70,
1980, pp. 229‑255.
Wander Melo Miranda, Drummond no país do Mato‑fundo, Revista da Biblioteca
de Mário de Andrade, v. 55, jan./dez., 1997, pp. 131‑143.
Nota
1. http://www.portaldaliteratura.com/entrevistas.ph. Entrevista de 26/09/2006.
Site consultado em 17/11/2007.
spbsX_P1.indb 225 09/12/30 18:20:36
spbsX_P1.indb 226 09/12/30 18:20:37
P i r e s La r an jei ra nasceu em 1950, em Melgaço, Portugal. Viveu em Angola
e no Brasil. Professor Associado da Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra, onde é investigador do Centro de Literatura Portuguesa e
onde fundou e coordenou uma pós‑graduação em Literaturas e Culturas
Africanas e da Diáspora. Foi professor colaborador da Universidade de
Salamanca (Espanha), de Literatura, História e Cultura Brasileiras e de
Literaturas Africanas. Crítico literário, durante alguns anos, dos jornais
Diário de Luanda, A Província de Angola, África (Lisboa) e, neste mo‑
mento, do Jornal de Letras, Artes & Ideias (Lisboa). Tem colaboração
científica, cultural, literária e jornalística em mais de uma centena de pu‑
blicações regionais, nacionais e internacionais de vários países de três con‑
tinentes, desde 1964. Publicou uma dezena de livros, de que se destacam:
Literaturas africanas de expressão portuguesa (com Inocência Mata e Elsa
Rodrigues dos Santos), Lisboa, Universidade Aberta, 1995; A negritude
africana de língua portuguesa, Porto, Afrontamento, 1995; Negritude
africana de língua portuguesa. Textos de apoio (1947‑1963) (org.), Braga,
Angelus Novus, 2000; Estudos afro‑literários, Lisboa, Novo Imbondeiro,
2001 (2ª ed., 2005); Cinco povos, cinco nações. Estudos de literaturas afri‑
canas (co‑org. com Maria João Simões e Lola Geraldes Xavier), Lisboa,
Novo Imbondeiro, 2007.
L o l a G e r a l d e s X a v i e r é doutorada em Literatura (Comparada de Língua
Portuguesa) pela Universidade de Aveiro (2007). Tem uma licenciatura em
Línguas e Literaturas Modernas, ramo de formação educacional, pela
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC, 1997), um mes‑
trado em Literatura Portuguesa (FLUC, 2001) e uma pós‑graduação em
Literaturas e Culturas Africanas e da Diáspora (FLUC, 2003). Para além
dos vários artigos publicados em revistas científicas nacionais e internacio‑
nais, publicou os livros: O Discurso da Ironia – em Literaturas de Língua
Portuguesa, Lisboa, Novo Imbondeiro, 2008; Laranjeira, Pires, Simões,
Maria João, Xavier, Lola Geraldes (org.), Cinco Povos Cinco Nações,
Lisboa, Novo Imbondeiro, 2007 e Deleitar e Instruir: a Dramaturgia de
Almeida Garrett, Mangualde, Edições Pedago, 2005. Tem apresentado
comunicações em vários Congressos nas áreas de Literatura Portuguesa,
Literatura Comparada, Literaturas Brasileira e Africanas de Língua
Portuguesa, Didáctica da Literatura e da Língua. É membro efectivo do
Centro de Investigação de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro e é
membro colaborador do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade
de Coimbra. Lecciona na Escola Superior de Educação de Coimbra, na
área científica de Língua Portuguesa.
spbsX_P1.indb 227 09/12/30 18:20:37
spbsX_P1.indb 228 09/12/30 18:20:37
spbsX_P1.indb 229 09/12/30 18:20:37
spbsX_P1.indb 230 09/12/30 18:20:37
spbsX_P1.indb 231 09/12/30 18:20:37
spbsX_P1.indb 232 09/12/30 18:20:37
You might also like
- A Simplified Guide To BHS Critical Apparatus Masora Accents Unusual Letters Other Markings 3rd EdDocument96 pagesA Simplified Guide To BHS Critical Apparatus Masora Accents Unusual Letters Other Markings 3rd EdPiet Janse van Rensburg83% (6)
- ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. A Feira Dos MitosDocument249 pagesALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. A Feira Dos MitosERIC DE SALESNo ratings yet
- Converging on Cannibals: Terrors of Slaving in Atlantic Africa, 1509–1670From EverandConverging on Cannibals: Terrors of Slaving in Atlantic Africa, 1509–1670No ratings yet
- (Cultural Studies of The Americas 16) Lúcia Sá-Rain Forest Literatures - Amazonian Texts and Latin American Culture (Cultural Studies of The Americas) - U of Minnesota Press (2004)Document356 pages(Cultural Studies of The Americas 16) Lúcia Sá-Rain Forest Literatures - Amazonian Texts and Latin American Culture (Cultural Studies of The Americas) - U of Minnesota Press (2004)rsebrian100% (1)
- Talk Dirty Spanish: Beyond Mierda: The curses, slang, and street lingo you need to Know when you speak espanolFrom EverandTalk Dirty Spanish: Beyond Mierda: The curses, slang, and street lingo you need to Know when you speak espanolNo ratings yet
- Tuttle Concise Tagalog Dictionary: Tagalog-English English-TagalogFrom EverandTuttle Concise Tagalog Dictionary: Tagalog-English English-TagalogNo ratings yet
- Atlantic Africa and the Spanish Caribbean, 1570-1640From EverandAtlantic Africa and the Spanish Caribbean, 1570-1640Rating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- Week 1 10 Humss 123Document97 pagesWeek 1 10 Humss 123DryZla65% (40)
- HoT Book of AbstractsDocument119 pagesHoT Book of AbstractsMarco NevesNo ratings yet
- Variedades Lingüísticas Y Lenguas En Contacto En El Mundo De Habla HispanaFrom EverandVariedades Lingüísticas Y Lenguas En Contacto En El Mundo De Habla HispanaNo ratings yet
- Slavery, Freedom, and Abolition in Latin America and the Atlantic WorldFrom EverandSlavery, Freedom, and Abolition in Latin America and the Atlantic WorldNo ratings yet
- IPL Copyright Case Digest Baker Vs SeldenDocument1 pageIPL Copyright Case Digest Baker Vs SeldenjuliNo ratings yet
- A Headeache in The PelvisDocument236 pagesA Headeache in The Pelviscipx2No ratings yet
- The Cape Verdean Creole of São VicenteDocument302 pagesThe Cape Verdean Creole of São VicenteSamuel EkpoNo ratings yet
- 95684987-Book PaidDocument332 pages95684987-Book Paid汪嘉楠No ratings yet
- Spanish Module 1 - Unit 1Document2 pagesSpanish Module 1 - Unit 1jubilleeNo ratings yet
- UtopiasDocument214 pagesUtopiasCatalin Airinei100% (1)
- What Do Aruba, Bonaire and Curaçao Have in Common With Malacca?Document6 pagesWhat Do Aruba, Bonaire and Curaçao Have in Common With Malacca?Marco SchaumlöffelNo ratings yet
- Barnes LenguapalandspanwhatkeepsthemapartDocument64 pagesBarnes Lenguapalandspanwhatkeepsthemapartapi-316442921No ratings yet
- Graciliano Ramos and the Making of Modern Brazil: Memory, Politics and IdentitiesFrom EverandGraciliano Ramos and the Making of Modern Brazil: Memory, Politics and IdentitiesRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Francismar Alex Lopes de Carvalho - Natives, Iberians, and Imperial Loyalties in The South American Borderlands, 1750-1800-Palgrave Macmillan (2022)Document326 pagesFrancismar Alex Lopes de Carvalho - Natives, Iberians, and Imperial Loyalties in The South American Borderlands, 1750-1800-Palgrave Macmillan (2022)helenonightmareNo ratings yet
- A Formacao Das Literaturas NacDocument390 pagesA Formacao Das Literaturas NacTonia McDaniel WindNo ratings yet
- Colonial and Post-Colonial Goan Literature in Portuguese: Woven PalmsFrom EverandColonial and Post-Colonial Goan Literature in Portuguese: Woven PalmsPaul Michael Melo e CastroNo ratings yet
- Lee 2005Document272 pagesLee 2005jaquelinestmNo ratings yet
- Adrift on an Inland Sea: Misinformation and the Limits of Empire in the Brazilian BacklandsFrom EverandAdrift on an Inland Sea: Misinformation and the Limits of Empire in the Brazilian BacklandsNo ratings yet
- Host of Tongues... Final ProgrammeDocument7 pagesHost of Tongues... Final ProgrammeMarco NevesNo ratings yet
- Pastoral Quechua: The History of Christian Translation in Colonial Peru, 1550-1654From EverandPastoral Quechua: The History of Christian Translation in Colonial Peru, 1550-1654Rating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Chariots of Ladies: Francesc Eiximenis and the Court Culture of Medieval and Early Modern IberiaFrom EverandChariots of Ladies: Francesc Eiximenis and the Court Culture of Medieval and Early Modern IberiaNo ratings yet
- 18th Colloquium Final ProgramDocument28 pages18th Colloquium Final ProgramColoquio UTNo ratings yet
- Mieder, Wolfgang - International Proverb Scholarship. An Updated BibliographyDocument62 pagesMieder, Wolfgang - International Proverb Scholarship. An Updated Bibliography汪嘉楠No ratings yet
- Tracce Esami Stato 2015 Turistico CDocument3 pagesTracce Esami Stato 2015 Turistico CFranca BorelliniNo ratings yet
- 2 English Activity TwoDocument3 pages2 English Activity TwoMeeli mldonadoNo ratings yet
- FirstsumbissionrpDocument6 pagesFirstsumbissionrpapi-508193563No ratings yet
- CV Daniel Herrera-CeperoDocument5 pagesCV Daniel Herrera-Ceperoapi-165454674No ratings yet
- A Comparative History of Literatures in The Iberian Peninsula - Fernando AseguinolazaDocument766 pagesA Comparative History of Literatures in The Iberian Peninsula - Fernando AseguinolazaInes MarquesNo ratings yet
- Intertidal History in Island Southeast Asia: Submerged Genealogy and the Legacy of Coastal CaptureFrom EverandIntertidal History in Island Southeast Asia: Submerged Genealogy and the Legacy of Coastal CaptureRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Teaching Learning Portuguese Through Folk Tales PowepointDocument17 pagesTeaching Learning Portuguese Through Folk Tales Powepointanaisabelcmendes100% (1)
- CV Agbemade August 2018Document8 pagesCV Agbemade August 2018api-427746871No ratings yet
- 78907-Texto Do Artigo-286436-1-10-20201221Document4 pages78907-Texto Do Artigo-286436-1-10-20201221Claudiana Gois dos SantosNo ratings yet
- From Temporary Migrants to Permanent Attractions: Tourism, Cultural Heritage, and Afro-Antillean Identities in PanamaFrom EverandFrom Temporary Migrants to Permanent Attractions: Tourism, Cultural Heritage, and Afro-Antillean Identities in PanamaNo ratings yet
- Programa Evento LiterarioDocument24 pagesPrograma Evento LiterarioHenry RivasNo ratings yet
- Paroimia: Brusantino, Florio, Sarnelli, and Italian Proverbs From the Sixteenth and Seventeenth CenturiesFrom EverandParoimia: Brusantino, Florio, Sarnelli, and Italian Proverbs From the Sixteenth and Seventeenth CenturiesNo ratings yet
- Partidas, Viajantes Encontros e DesencontrosDocument191 pagesPartidas, Viajantes Encontros e DesencontrosDanieleCohenNo ratings yet
- Summer/Fall 20005Document32 pagesSummer/Fall 20005longly5819100% (2)
- Forms of Relation: Composing Kinship in Colonial Spanish AmericaFrom EverandForms of Relation: Composing Kinship in Colonial Spanish AmericaNo ratings yet
- Edge of Empire: Atlantic Networks and Revolution in Bourbon Río de la PlataFrom EverandEdge of Empire: Atlantic Networks and Revolution in Bourbon Río de la PlataNo ratings yet
- Gandolfi 2013 - Objetos Itinerantes. Prácticas de Escritura, Percepción y Cultura MaterialDocument335 pagesGandolfi 2013 - Objetos Itinerantes. Prácticas de Escritura, Percepción y Cultura MaterialHéctor Cardona Machado100% (1)
- Tuttle Pocket Tagalog Dictionary: Tagalog-English / English-TagalogFrom EverandTuttle Pocket Tagalog Dictionary: Tagalog-English / English-TagalogRating: 1 out of 5 stars1/5 (1)
- In Service of Two Masters: The Missionaries of Ocopa, Indigenous Resistance, and Spanish Governance in Bourbon PeruFrom EverandIn Service of Two Masters: The Missionaries of Ocopa, Indigenous Resistance, and Spanish Governance in Bourbon PeruNo ratings yet
- The Ripple Effect: Gender and Race in Brazilian Culture and LiteratureFrom EverandThe Ripple Effect: Gender and Race in Brazilian Culture and LiteratureNo ratings yet
- Multicultural Spanish Dictionary: How everyday Spanish Differs from Country to CountryFrom EverandMulticultural Spanish Dictionary: How everyday Spanish Differs from Country to CountryNo ratings yet
- 29 - 2 - PR Studies Portugueses 2021Document184 pages29 - 2 - PR Studies Portugueses 2021MAGNO SANTOSNo ratings yet
- History of Spanish PDFDocument446 pagesHistory of Spanish PDFSandra Savanovic100% (2)
- Modern Day SlaveryDocument212 pagesModern Day Slaveryreferee198032No ratings yet
- Quechua-Spanish-English Dictionary: A Hippocrene Trilingual ReferenceFrom EverandQuechua-Spanish-English Dictionary: A Hippocrene Trilingual ReferenceRating: 4 out of 5 stars4/5 (1)
- Inhabiting Memory in Canadian Literature / Habiter la mémoire dans la littérature canadienneFrom EverandInhabiting Memory in Canadian Literature / Habiter la mémoire dans la littérature canadienneNo ratings yet
- The Pinkster King and the King of Kongo: The Forgotten History of America's Dutch-Owned SlavesFrom EverandThe Pinkster King and the King of Kongo: The Forgotten History of America's Dutch-Owned SlavesNo ratings yet
- Pessoa Unknown To PazDocument8 pagesPessoa Unknown To PazelladooscuroNo ratings yet
- Black Music As A Pedagogical Resource In English TeachingFrom EverandBlack Music As A Pedagogical Resource In English TeachingNo ratings yet
- Paul A. Rahe - Montesquieu and the logic of liberty _ war, religion, commerce, climate, terrain, technology, uneasiness of mind, the spirit of political vigilance, and the foundations of the modern re.pdfDocument396 pagesPaul A. Rahe - Montesquieu and the logic of liberty _ war, religion, commerce, climate, terrain, technology, uneasiness of mind, the spirit of political vigilance, and the foundations of the modern re.pdfJesús MoraNo ratings yet
- Irregular Verbs Organized According To PatternsDocument4 pagesIrregular Verbs Organized According To PatternsVeronica Barbu100% (1)
- The Fifth Avenue Artists Society by Joy Callaway (Extract)Document30 pagesThe Fifth Avenue Artists Society by Joy Callaway (Extract)Allen & UnwinNo ratings yet
- Condition Restraining AlienationDocument6 pagesCondition Restraining AlienationabhishekNo ratings yet
- The Wizard of Oz EssayDocument3 pagesThe Wizard of Oz Essayapi-305331060No ratings yet
- No Wider Land by Roy Bulcock - CaloundraDocument6 pagesNo Wider Land by Roy Bulcock - Caloundralaukune0% (1)
- Concept of God in The Old TestamentDocument5 pagesConcept of God in The Old TestamentTI Journals Publishing50% (2)
- Course Outline. Contemporary, Popular & Emerging Lit. LatestDocument3 pagesCourse Outline. Contemporary, Popular & Emerging Lit. Latestnev_benitoNo ratings yet
- Matsya PuranaDocument3 pagesMatsya Puranaef34t3gNo ratings yet
- Errors of The Charismatic Movement.Document12 pagesErrors of The Charismatic Movement.AndrewNo ratings yet
- Don't Forget These StepsDocument2 pagesDon't Forget These StepsrachitbechemNo ratings yet
- OBST515 OT Survey LaSor SummaryDocument11 pagesOBST515 OT Survey LaSor SummaryJAMESNo ratings yet
- Cyclic Issue 13 14Document80 pagesCyclic Issue 13 14VerdeamorNo ratings yet
- Spider Lesson PlanDocument2 pagesSpider Lesson Planapi-250399528No ratings yet
- The Seed in Genesis 3 - 15 - An Exegetical and Intertextual Study PDFDocument557 pagesThe Seed in Genesis 3 - 15 - An Exegetical and Intertextual Study PDFAlexiNo ratings yet
- Listen To This: Miles Davis and Bitches Brew by Victor Svorinich (Review)Document5 pagesListen To This: Miles Davis and Bitches Brew by Victor Svorinich (Review)FerNo ratings yet
- Cyrilic LettersDocument9 pagesCyrilic LettersLenny LeonardoNo ratings yet
- The Scarlet LetterDocument348 pagesThe Scarlet LetterPreetha KannanNo ratings yet
- Sufism in Central Asia New Perspectives On Sufi Traditions, 15th-21st Centuries PDFDocument359 pagesSufism in Central Asia New Perspectives On Sufi Traditions, 15th-21st Centuries PDFMahomad Abenjúcef100% (3)
- Buccholz Book Summary - Goddess of YesterdayDocument3 pagesBuccholz Book Summary - Goddess of YesterdayyuyuhuNo ratings yet
- H.G.Wells - The Time Machine (Miolo)Document222 pagesH.G.Wells - The Time Machine (Miolo)Zander Catta PretaNo ratings yet
- Apostolic FathersDocument5 pagesApostolic FathersJason Tiongco100% (1)
- Synthesis Essay Coming To Grips With GenesisDocument11 pagesSynthesis Essay Coming To Grips With Genesisapi-259381516No ratings yet
- The Little Prince DissertationDocument8 pagesThe Little Prince DissertationCustomWritingPapersCanada100% (1)
- CAE WritingDocument2 pagesCAE Writingtmc62No ratings yet
- Fabulous Baker BoysDocument3 pagesFabulous Baker BoysLeigh BlackmoreNo ratings yet